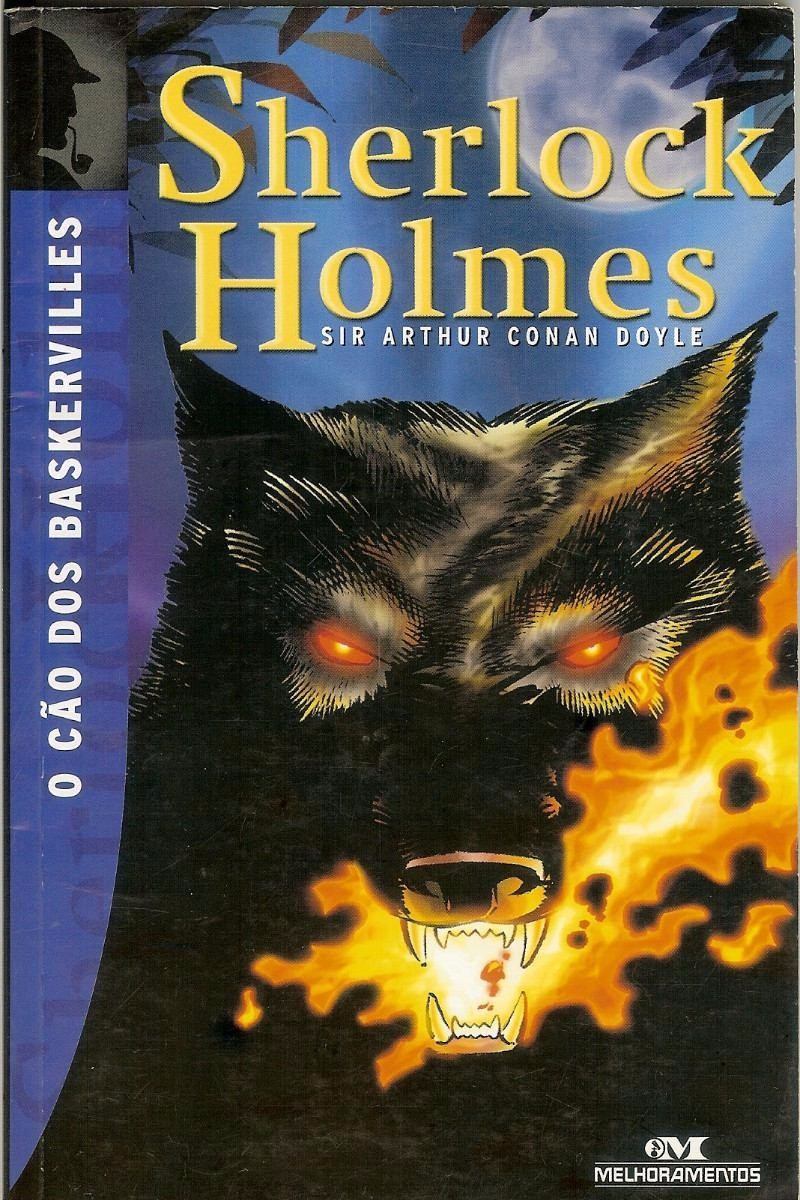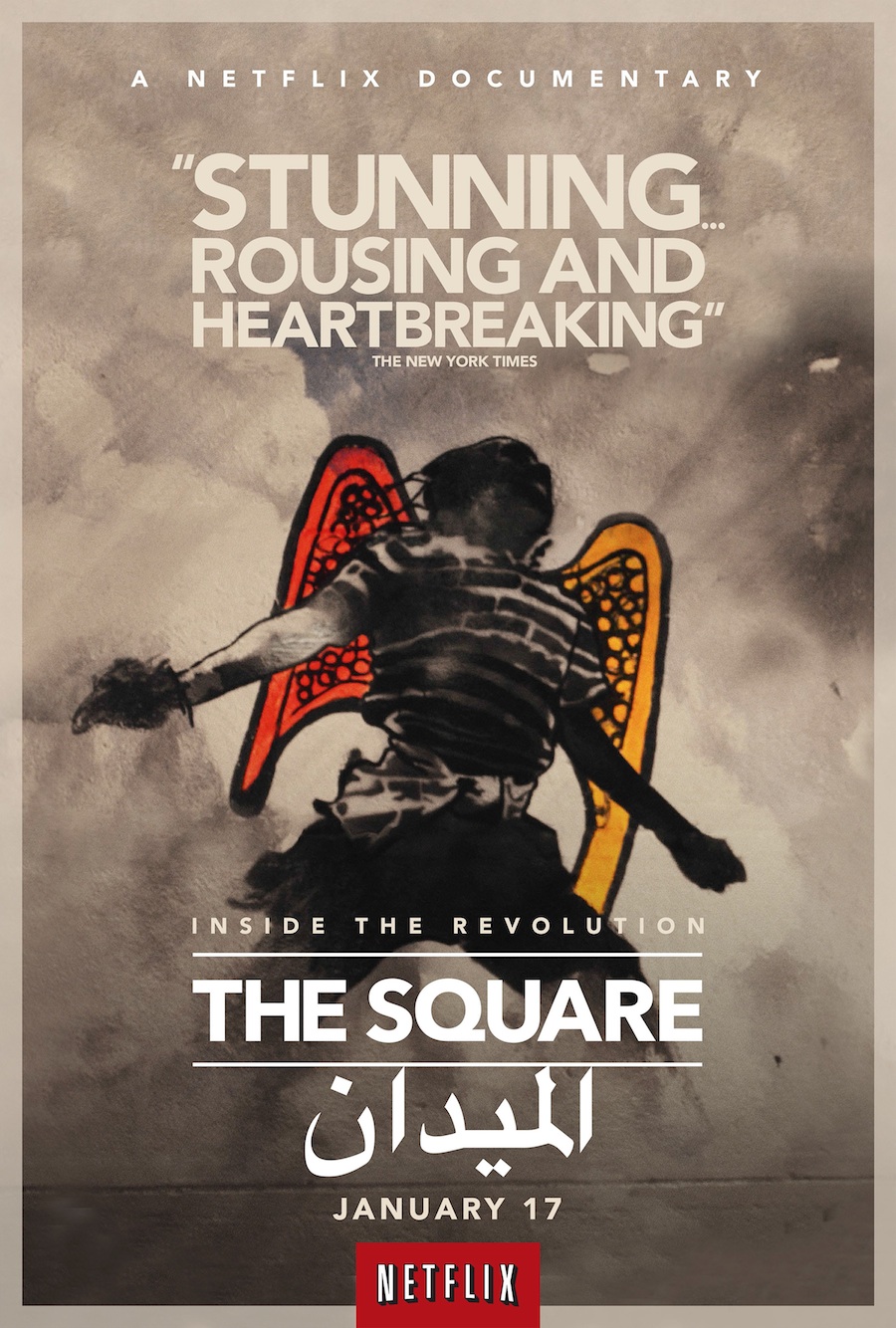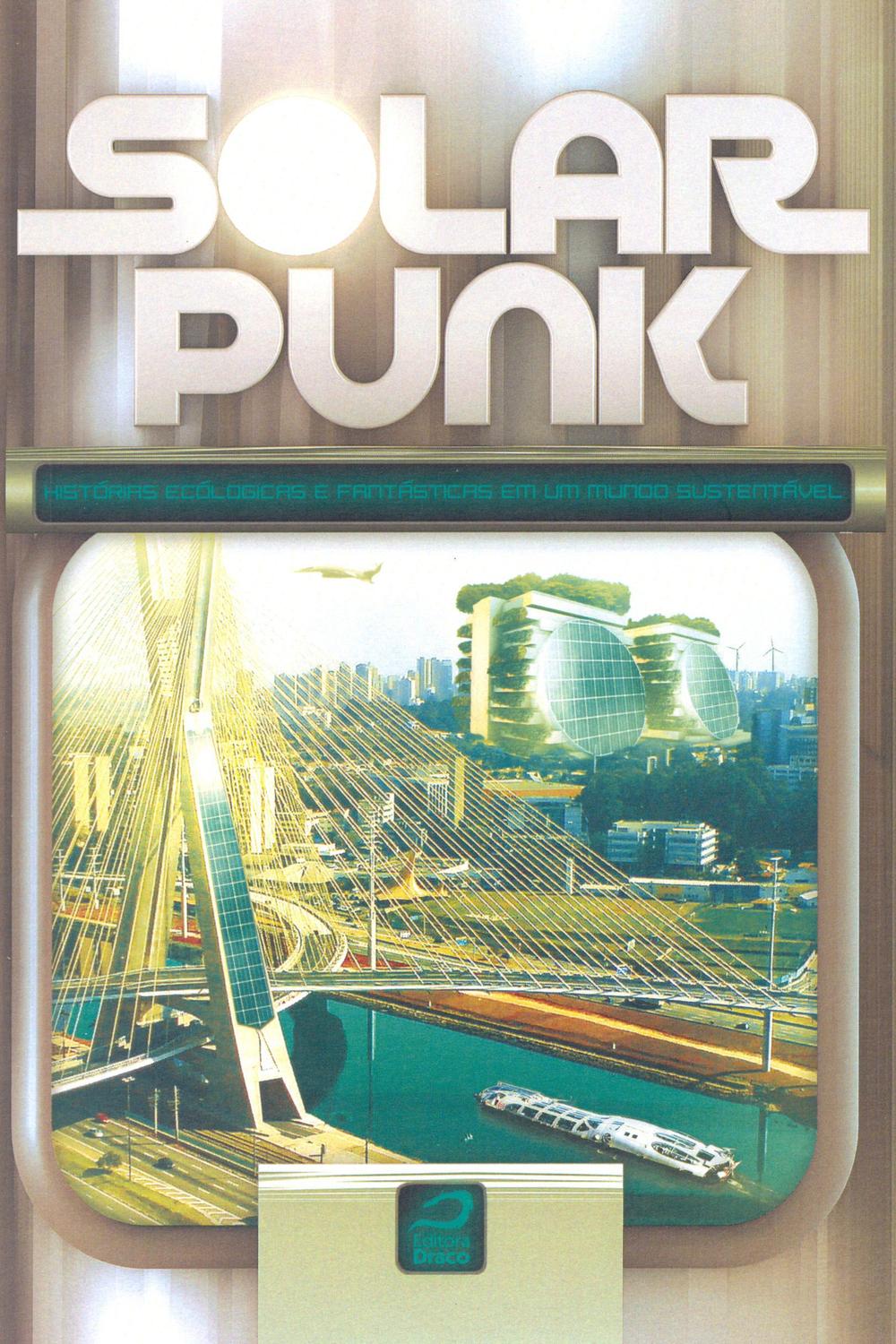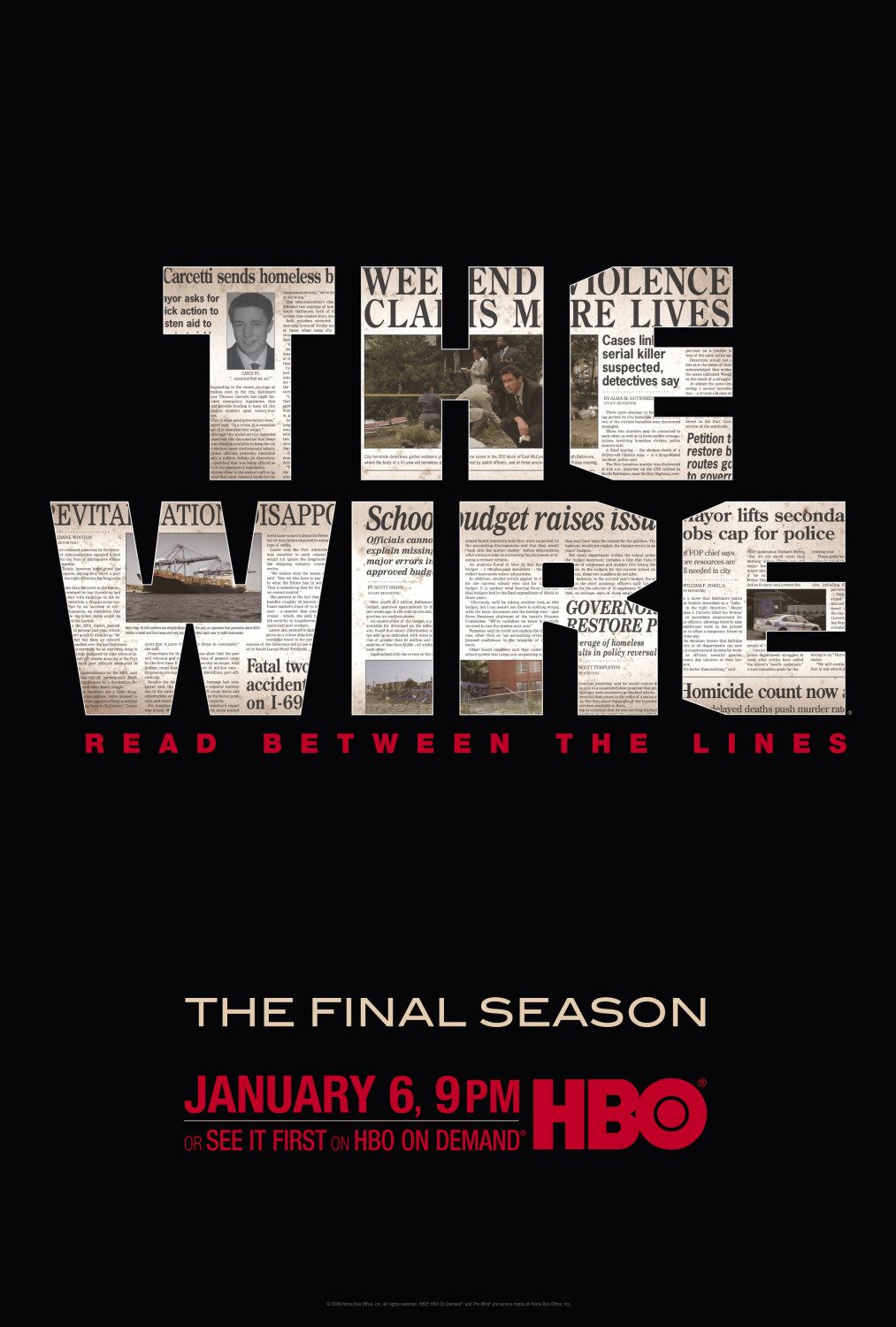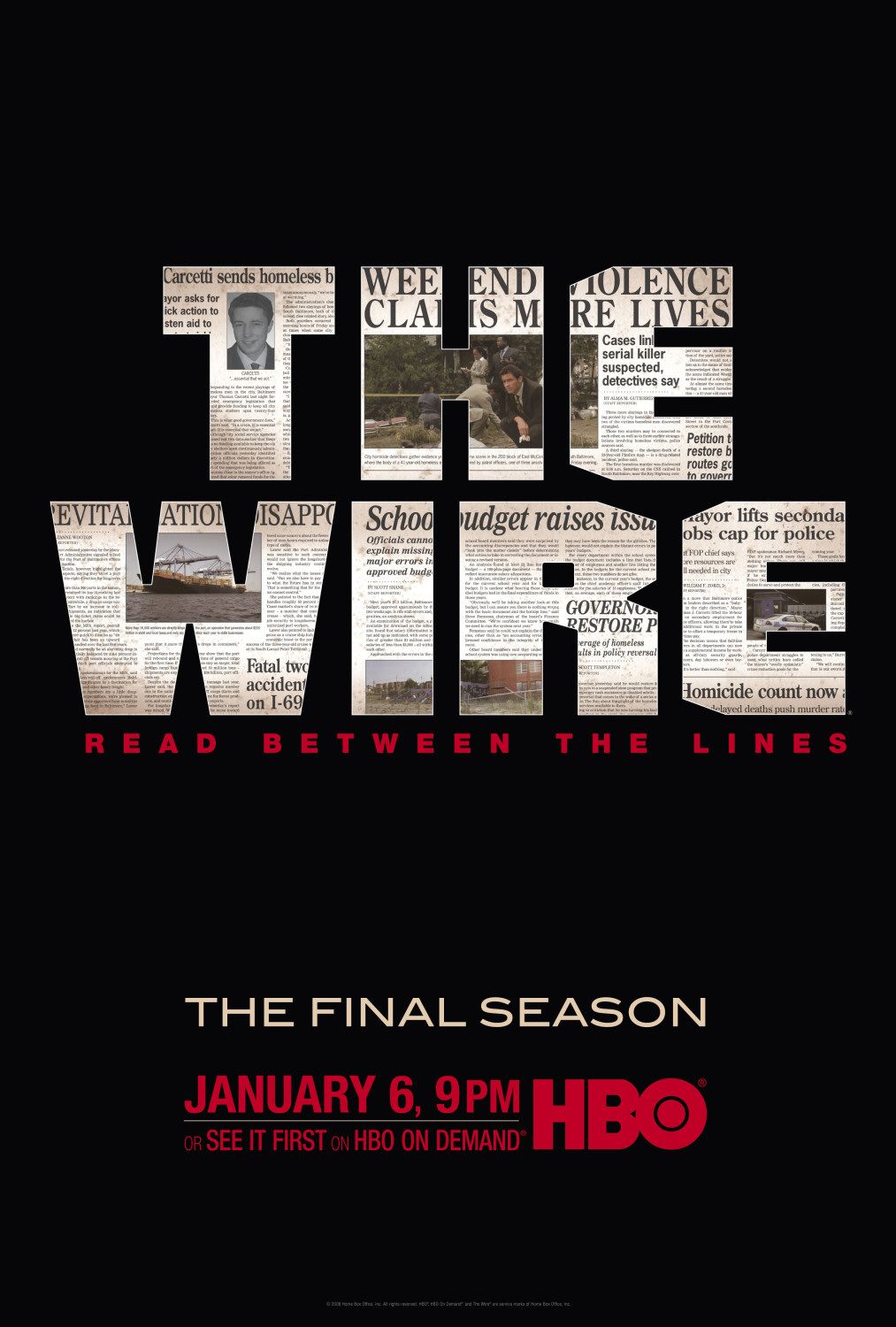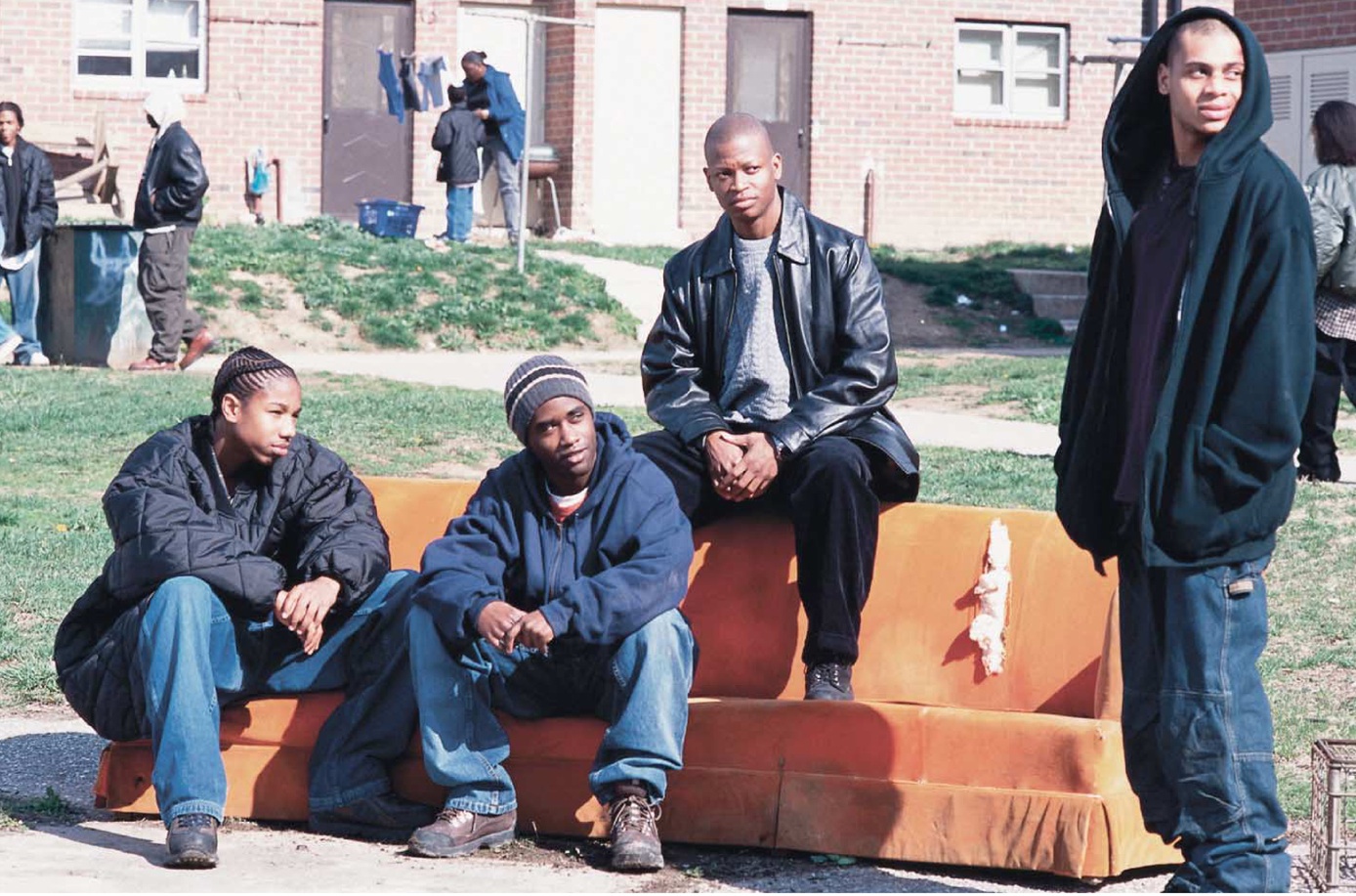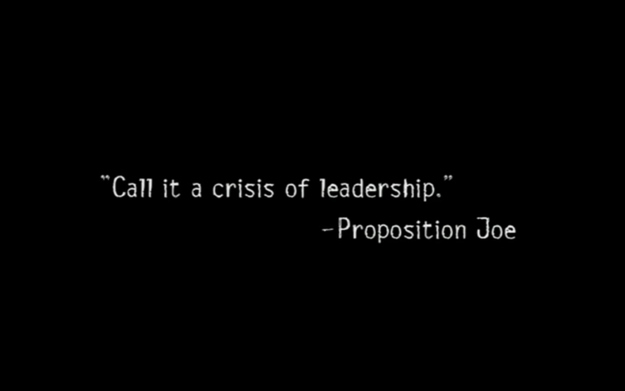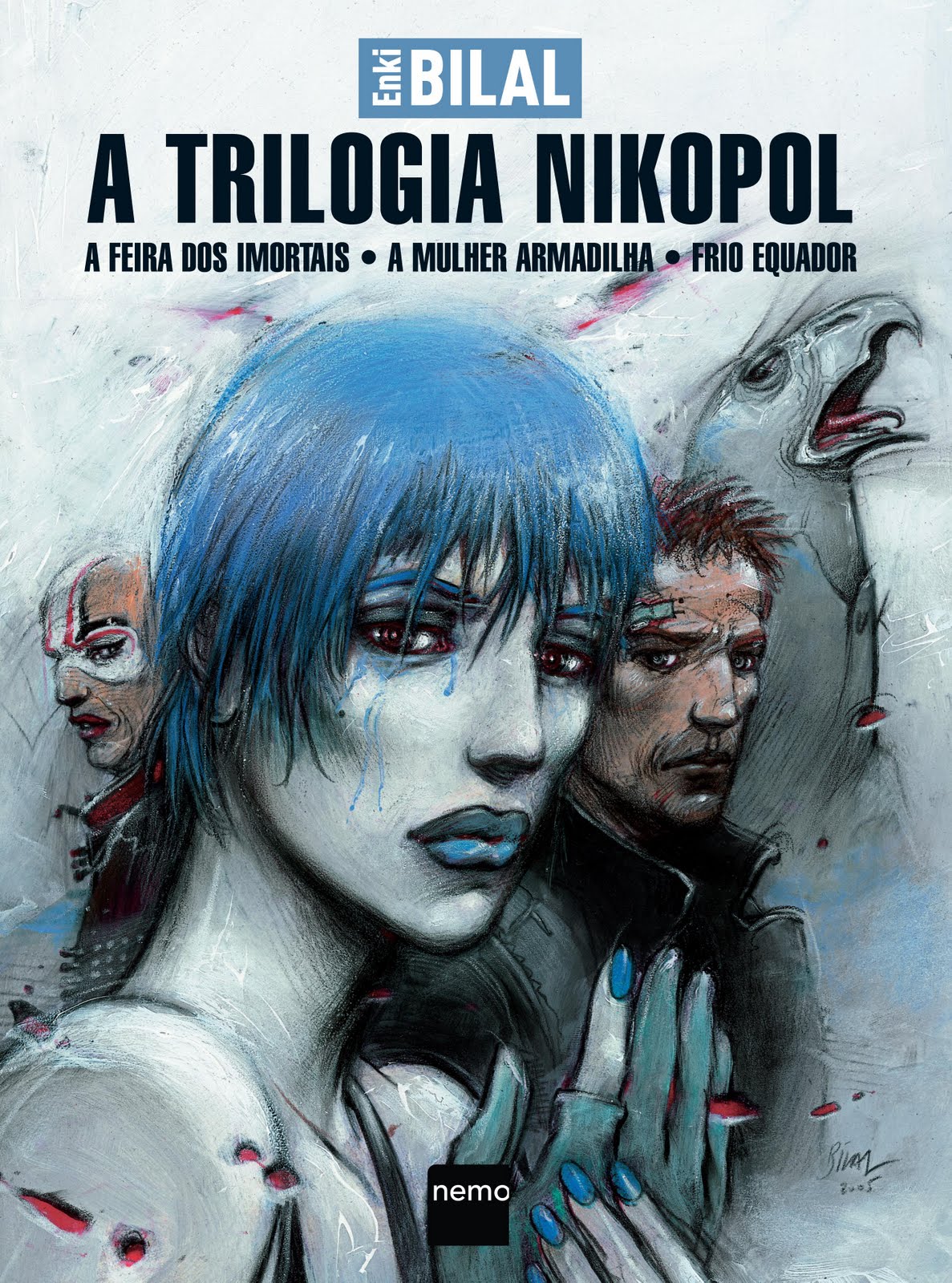Como de costume, segue o apanhado do que, em minha opinião, se sobressaiu ao longo do ano de 2013 na indústria japonesa de animação. Vale lembrar que apenas considero nesta lista séries que estrearam em 2013, e que longa-metragens não são comentados. Tá, vamos lá:
10 – Toaru Kagaku no Railgun S

O que se convém chamar de franquia Toaru é sem dúvida uma das mais rentáveis iniciativas transmidiáticas da atualidade. Tendo feito sua estreia nos cinemas também em 2013, com o dispensável Toaru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki, esse universo, ramificado em light novels, animes, mangás, games e áudio dramas, tem provado ser uma verdadeira fábrica de dinheiro. E, como é comum nesses casos, nem tudo, ou melhor, quase nada do que se produz com o nome da franquia verdadeiramente vale a pena. Toaru Kagaku no Railgun S, segunda animação a adaptar o mangá homônimo escrito pelo criador original da série, Kazuma Kamachi, é uma dessas exceções.
Propondo uma mudança total de clima e abordagem em seu primeiro arco, que transcreve de forma literal o que é até então o ponto alto do mangá, Railgun S consegue se distanciar da baboseira sem fim que marcou toda a primeira temporada. A trama, surpreendentemente elaborada, apresenta fatos e personagens que virão a ser relevantes em momentos futuros da linha principal da franquia, além de trazer batalhas de alto nível, fatores que, juntos, poderiam já justificar sua indicação como um dos destaques do ano. Mas a sempre segura direção de Tatsuyuki Nagai (Toradora!; Honey and Clover II), que não falha em expressar de modo audiovisual a proposta mais séria dessa fase, utilizando uma palheta de cores escuras e uma trilha sonora de todo melancólica, surge para torna-la ainda mais interessante. É uma pena que o segundo e último arco do anime, um filler criado apenas para completar o número-chave de 24 episódios dessa animação da J.C. Staff, quebre a uniformidade deste bom lançamento.
9 – White Album 2

Falando em exceções, White Album 2 talvez seja um caso não apenas raro, mas verdadeiramente único no marketing dessa indústria: abertamente promocional, idealizado para impulsionar o relançamento dessa visual novel aclamada por público e crítica em uma nova plataforma, o anime não só foi financiado pela produtora do jogo, como também foi roteirizado pelo criador deste – dois fatos curiosos, uma vez que adaptações poucas vezes contam com participação ativa da equipe responsável pelo original. Essa peculiar proximidade pode ser apontada como responsável pela fidelidade e, por que não dizer, qualidade deste que, sem dúvida, é o romance do ano.
O grande atrativo de WA2 é tratar o drama adolescente, essa temática já exaurida, com força poucas vezes vista em animações. Traição, dor e angústia não são aqui artifícios paliativos de algum quase conto de fadas com colegiais, o que, devido a paradoxal delicadeza do roteiro – sem dúvida o forte da série, vide que sua animação, produto de um orçamento limitadíssimo concedido ao estúdio Satelight, só pode ser descrita com adjetivos que começam com ruim e vão descendo –, destaca-o em meio a uma vastidão de estórias amorosas que, cada vez mais, soam iguais.
8 – Gin no Saji

Fullmetal Alchemist é uma daquelas poucas obras que consegue vencer preconceitos de diversas parcelas de leitores e espectadores e arrancar elogios mesmo do público não ligado às produções nipônicas. Após seu término em idos de 2010, a curiosidade passou a girar em torno do futuro da carreira de Hiromu Arakawa, autora responsável por esse mega hit da Shounen Gangan. Tal curiosidade foi sanada poucos meses depois, em março de 2011, quando Gin no Saji começou a ser publicado semanalmente na Shounen Sunday.
A drástica passagem de uma eletrizante série de fantasia para uma comedia focada na vida rural (repleta de toques autobiográficos, já que a própria Arakawa foi criada no campo) chocou alguns e decepcionou outros. Mas, mostrando que sua especialidade é vencer preconceitos, a atora não tardou a mostrar o quão divertido poderia ser seguir o cotidiano de um grupo de jovens em um escola agrícola, tornando o mangá um dos carros-chefes da revista. Sua adaptação animada, que estreou em julho de 2013 e já conta com uma temporada de 11 episódios finalizada e outra ainda em exibição, segue à risca o quadrinho, e, assim como este, só pode ser compreendida após ser vista.
7 – Kyousougiga

O nome Izumi Todo, ao qual são vinculadas a criação de séries bem-sucedidas como Ashita no Nadja e muitos títulos da franquia Precure!, na verdade não pertence a nenhum indivíduo. Trata-se de um pseudônimo coletivo usado por membros do Toei Animation. Um dos recentes e mais interessantes trabalhos desse time foi Kyousougiga, a princípio um ONA (Original Net Animation) de 26 minutos vinculado no Nico Nico Douga e, pouco depois, no Youtube, ainda em 2011. Esse especial algo cartunesco, repleto de cores, chamou atenção a ponto de receber uma série de cinco episódios complementares, cada qual com menos de 10 minutos, no ano seguinte. Por fim um anime televisivo de 10 episódios, que contou também com 3 extras, estreou em outubro do último ano.
A animação revisita e reinterpretar de uma única vez os dois escritos mais importantes de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, de modo tão imprevisível que a elaboração de uma sinopse se faz difícil e, afinal, inútil. Além da grande qualidade técnica, seu lugar na lista se justifica por mostrar que um projeto pequeno e de certo modo autoral pode ainda encontrar seu lugar ao sol.
6 – Monogatari Serie Second Session

Quando Bakemonogatari começou a ser exibido, em meados do já longínquo ano de 2009, nem mesmo o mais otimista dos membros do estúdio Shaft poderia imaginar o que estava por vir. De forma explosiva, essa animação de baixo custo, pouco movimentada, que consistia basicamente em ambíguos e aparentemente intermináveis diálogos, se tornou um dos grandes sucessos comerciais do século XXI. Os recursos inusitados que o diretor Akiyuki Shinbo (Puella Magi Madoka Magica; Arakawa Under The Bridge) empregou para adaptar essa série de novels de Nisio Isin (Death Note – Another Note: O Caso dos Assassinatos em Los Angeles; Zaregoto Series; Medaka Box), dentre os quais se destacam os cortes rápidos e a forte presença de texto escrito intercalado com as vozes dos personagens, certamente ajudaram a criar certo fascínio, mas o número astronômico de vendas se deve em especial ao forte elenco feminino do programa.
Nisemonogatari e Nekomonogatari (Kuro), ambos de 2012, deram continuidade aos feitos da primeira série, mas foi somente em 2013, com o ambicioso Monogatari Series Second Season, título que cobre cinco dos volumes da obra original (mesmo número dos três animes anteriores juntos), que a franquia mostrou ser algo diferente de tudo já visto. Numa escalada de mistérios cada vez mais densos e conclusões cada vez mais inusitadas e violentas, a animação conseguiu, ao término de seus 26 episódios, deixar todos os fãs contanto os minutos para Hanamonogatari, que irá ao ar ainda em 2014, assim como para qualquer outro de seus produtos.
5 – Uchouten Kazoku

Uchouten Kazoku pode ser literalmente traduzido como A Família Excêntrica, título que, em si, expõem a alma do enredo – uma história que, apesar de lançar mão de elementos de fantasia, nada mais propõe que narrar história de um grupo familiar complicado. Baseada em um romance de Tomihiko Morimi, autor do também já animado The Tatami Galaxy, a série é um ponto fora da curva na trajetória do P.A. Works, que jamais havia realizado algo de tamanha sensibilidade, e provavelmente não tornará a fazê-lo.
Reunindo ainda muitos méritos na parte técnica, como uma trilha sonora de arrancar lágrimas do talentoso iniciante Yoshiaki Fujisawa, cenários que mesclam fotografia e ilustração e um character design do gênio do humor Kouji Kumeta (mangaká que deu vida à Sayonara Zetsubou Sensei e Joshiraku), essa dramédia, que investe pesado em ambos os elementos que compõem o termo, é um dos animes essenciais de 2013.
4 – Shingeki no Kyojin

Se estivéssemos falando de popularidade, Shingeki no Kyojin seria o campeão inconteste do ano passado. A adaptação animada do desde sempre muito comentado mangá de Hajime Isayama consolidou uma verdadeira febre mundial, resultando em spin-offs, jogos de videogame e, claro, no licenciamento do mangá em diversos países do mundo, entre eles o Brasil, que, em um dos raros acertos de timing da Panini, disponibilizou o título ainda em 2013.
E o conteúdo faz jus ao impacto causado. Ação, mistério e mesmo algumas pitadas de terror se unem de modo eficaz nesse mundo medieval com traços de steampunk, em que uma humanidade acuada enfrenta colossais criaturas que estão além de seu poder e de sua compreensão. Embora o Production I.G não tenha dado tudo de sim em 100% dos episódios, castigando-nos com algumas cenas toscamente animadas, a constantemente frenética, e, por conta disso, muitas vezes criticada direção de Tetsurou Araki (Death Note; Highschool of the Dead) ainda dá conta do recado, conferindo à série a emoção necessária.
3 – Chihayafuru 2

O há muito capenga estúdio Madhouse tem tido sua morte decretada ano após anos por diversos comentadores. Em 2012, muitas afirmavam ser o fim da excelente primeira temporada de Chihayafuru o último suspiro de qualidade da companhia. Fracasso de vendas, poucas acreditavam que o título (adaptação de um mangá josei que, paradoxalmente, figura entre os mais vendidos do Japão) pudesse ter uma continuação. Para surpresa e alegria dos fãs, essas previsões provaram estar erradas, assim como as sentenças de óbito emitidas a todo o momento para o Madhouse.
A segunda temporada começa exatamente onde terminou a anterior, porém é marcada por uma perceptível mudança de foco, que acaba voltando-se quase que inteiramente para as competições em que os personagens se envolvem, ao passo que na primeira temporada treinamentos e momentos do cotidiano eram visivelmente mais presentes. Essa evolução, embora natural, pode incomodar em alguns momentos, mas não é nada que tire o brilho desse que, contra todas as expectativas, é um dos melhores animes de esporte dos últimos anos. Uma terceira temporada é algo extremamente improvável, entretanto, como a produção de uma segunda já o era, ainda se pode alimentar esperanças.
2 – Kill la Kill

“Novo Gainax”! Assim muitos definiram o estúdio Trigger, fundado em 2011 por Hiroyuki Imaishi e Masahiko Ohtsuka, ex-membros da empresa que gravou seu nome na história da animação ao entregar obras-primas como Neon Genesis Evangelion e FLCL. A afirmação é inegavelmente pretensiosa, mas Kill la Kill, primeira série televisiva do estúdio, tem provado que não é de todo falaz, ao menos não no tocante a imprevisibilidade, quebra de expectativas e qualidade técnica, fatores que tornaram célebre seu predecessor espiritual.
Com direção do co-fundador Imaishi e roteiro de Kazuki Nakashima, dupla responsável pelo neoclássico Tengen Toppa Gurren Lagann, a série começa como uma trama de vingança aparentemente banal, que evolui semana após semana até se tornar algo completamente indefinível, ainda que mantendo sempre doses homeopáticas de humor e cenas de ação de tirar o fôlego. Retendo características do movimento superflat, e levando ao extremo a exposição de certas superfícies de sua estrutura, Kill la Kill é um espetáculo visual que tem causado paixão e revolta, sobretudo por conta da ultra-sexualização de suas personagens femininas. Amando ou odiando, é algo que precisa ser visto.
1 – Ghost in The Shell – Arise

Apreensão era o sentimento geral entre os fãs de Ghost in the Shell quando o Production I.G anunciou que quatro OVAs seriam feitos para repaginar o título. Os nomes da equipe, em especial o do roteirista Tow Ubukata, criador do medíocre Mardock Scramble, preocupavam. O pessimismo prévio, no entanto, apenas ajudou a intensificar o impacto da surpresa que se aproximava. Assim como fez Ghost in the Shell: Stand Alone Complex em 2002, o novo elo da franquia venceu preconceitos e mostrou o porquê de carregar o nome que carrega.
Do mesmo modo que a série anterior, Ghost in The Shell – Arise deve ser encarado como um universo alternativo, uma historia que em nada se relaciona com a magnum opus de Mamoru Oshii, lançada em 1995. Fugindo das questões existenciais levantadas pelos longa-metragens e do modelo de procedural urbano do anime televisivo, essa reinterpretação do universo criado por Masamune Shirow volta-se mais abertamente para o gênero de ação, ainda que investigação e jogos mentais e tecnológicos permeiem toda a trama. Tudo em Arise é novo, inclusive o cast de dubladores, que, havendo sido mantido nos dois projetos passados, foi inteiramente substituído para melhor se adequar à nova proposta, que inclui também mostrar a formação da Seção 9, explicando, assim, a aparência rejuvenescida dos personagens. Mas algumas coisas não mudaram tanto – o alto orçamento e primor técnico, por exemplo, continuam a acompanhar a produção.
Notem que apenas outras duas animações originais estão listadas este ano, sendo todas as demais adaptações de mídias distintas. Em uma indústria na qual cada vez menos series de qualidade são pensadas diretamente para o formato animístico, Ghost in The Shell – Arise surge como um verdadeiro fantasma, um arrebatador eco de outros tempos que, embora tenha tido apenas metade de seus episódios exibidos, merece o título de anime do ano por tudo que representa.
–
Texto de autoria de Alexandre “Noots” Oliveira.