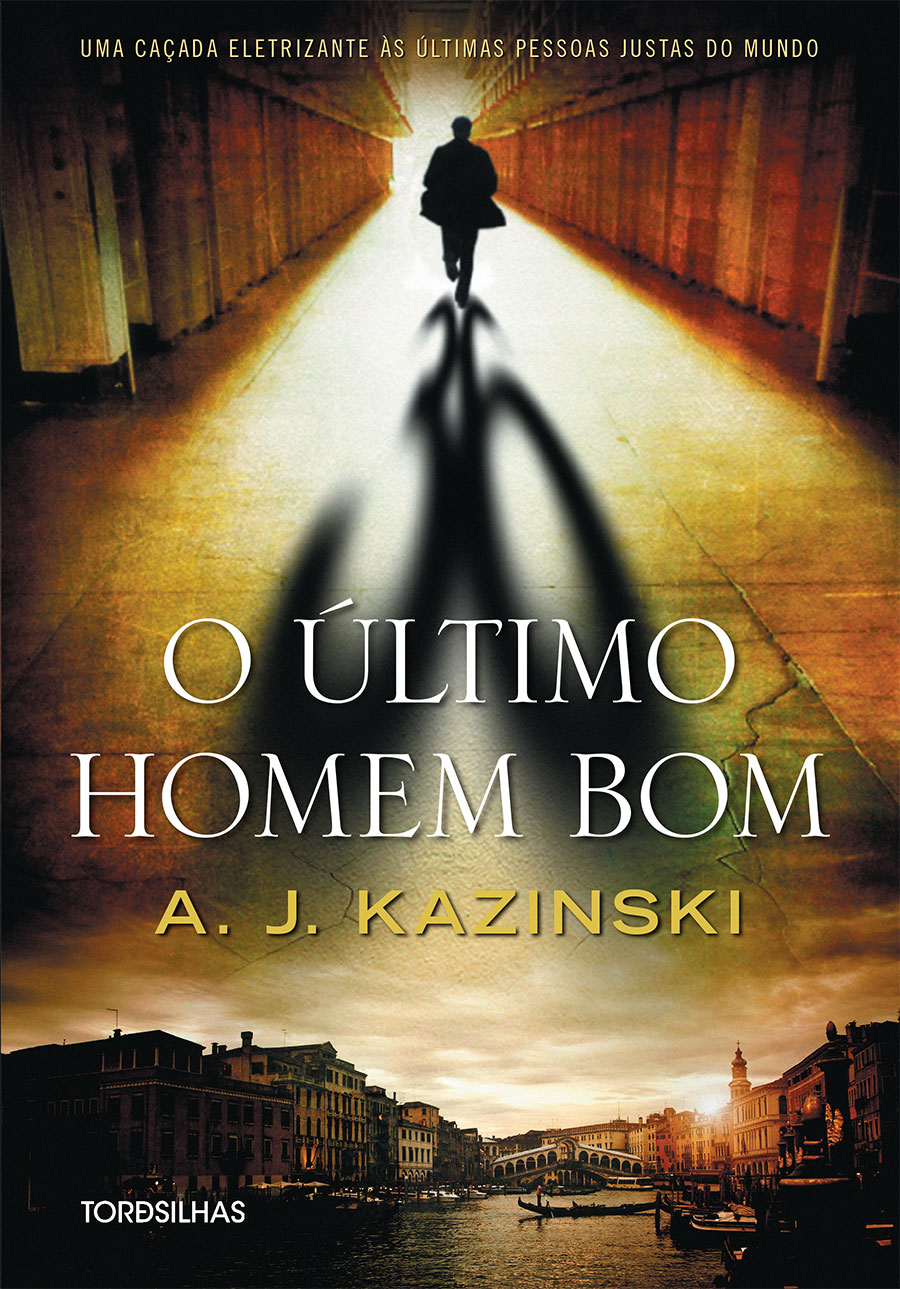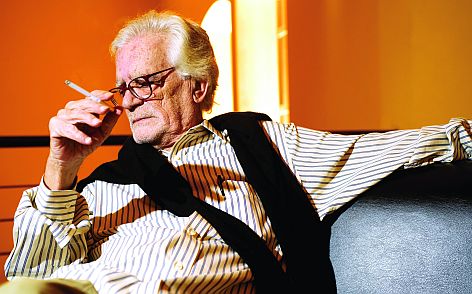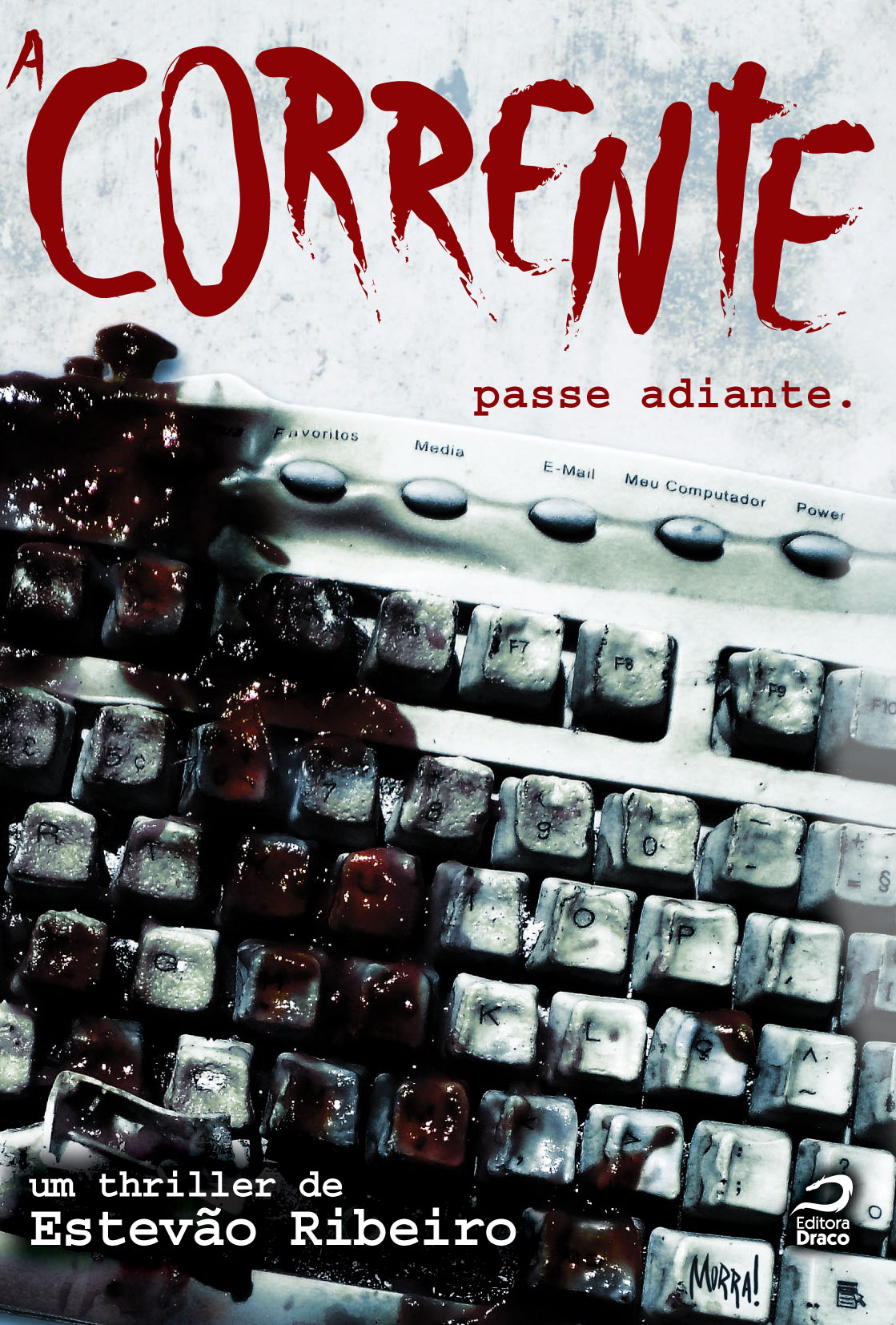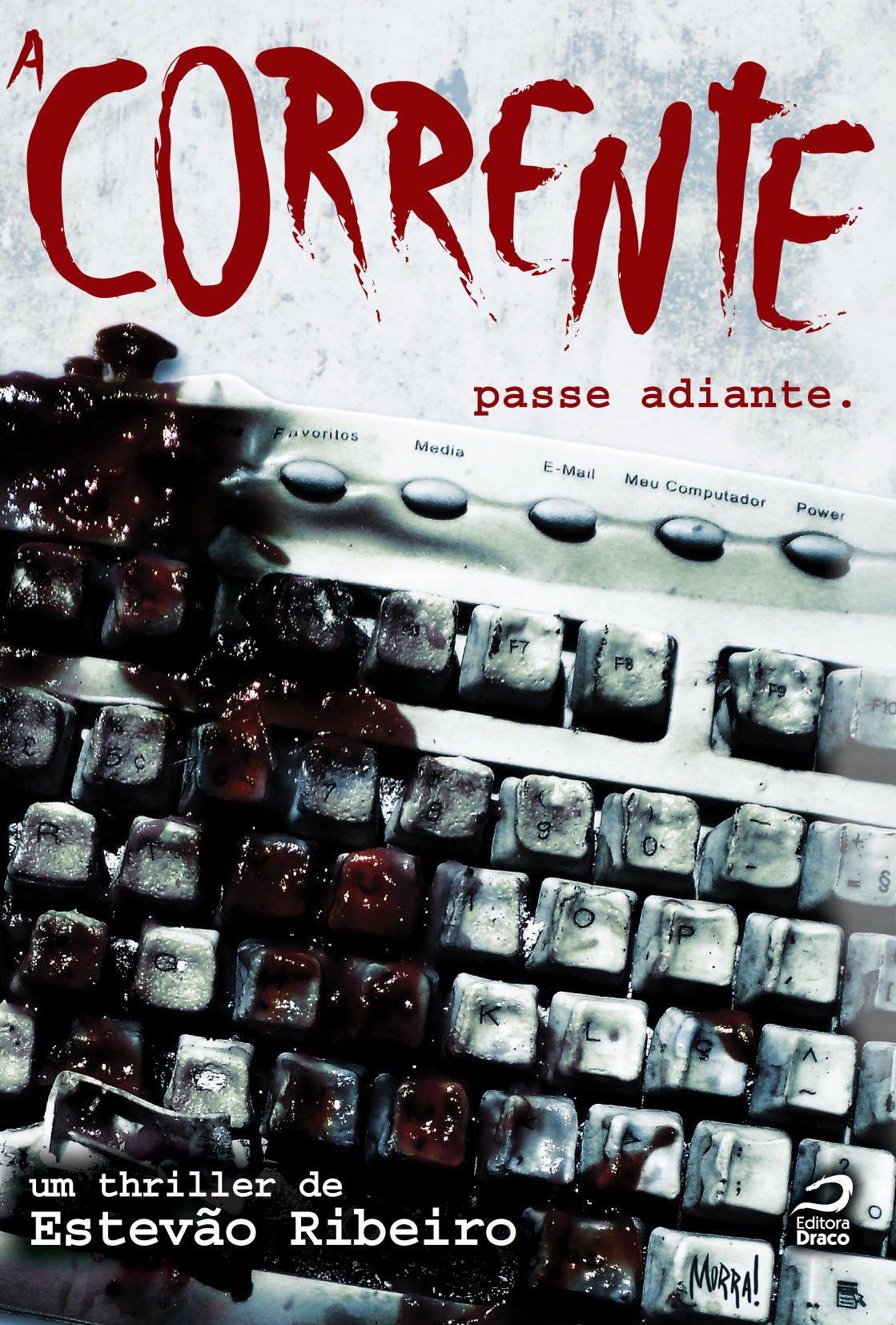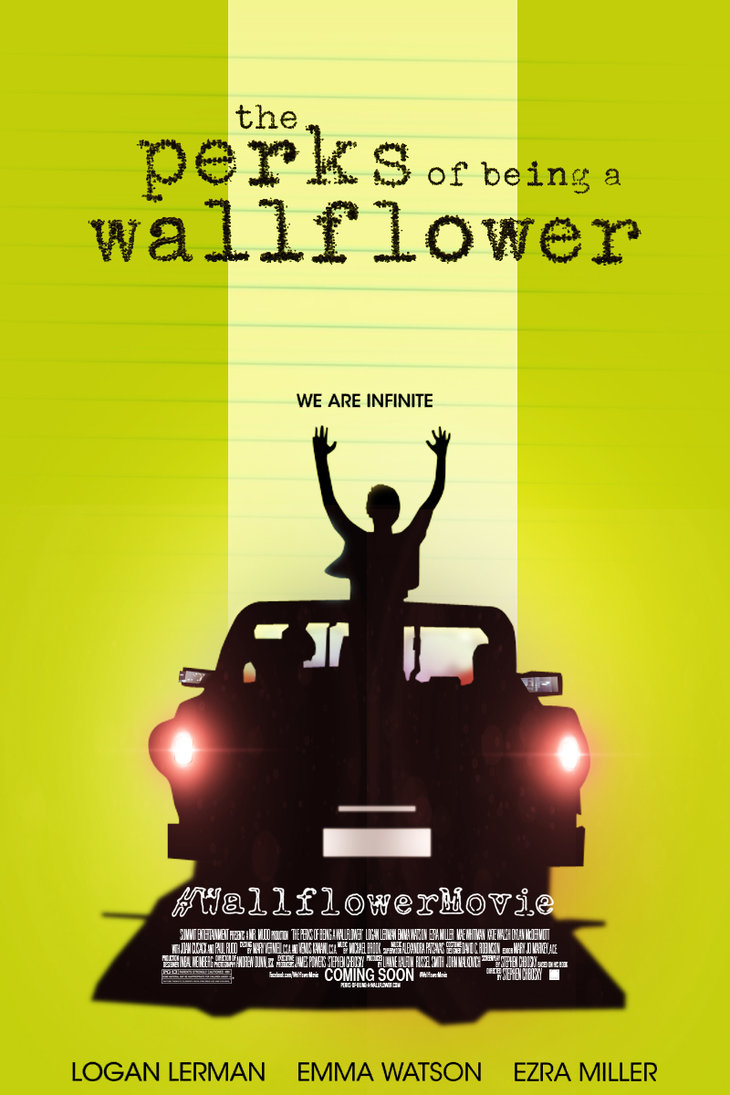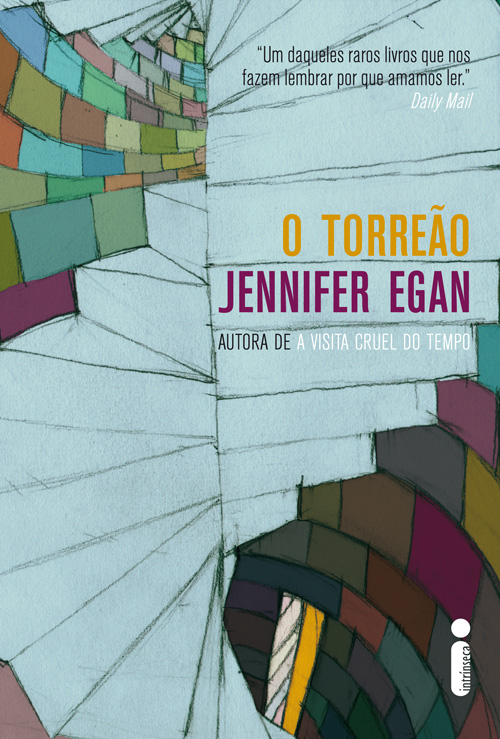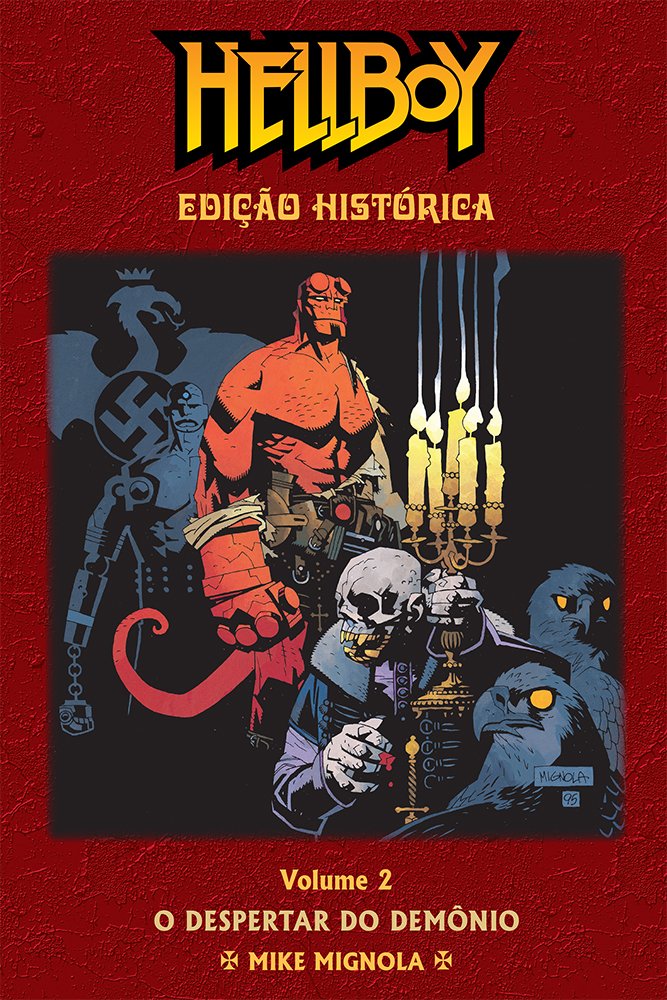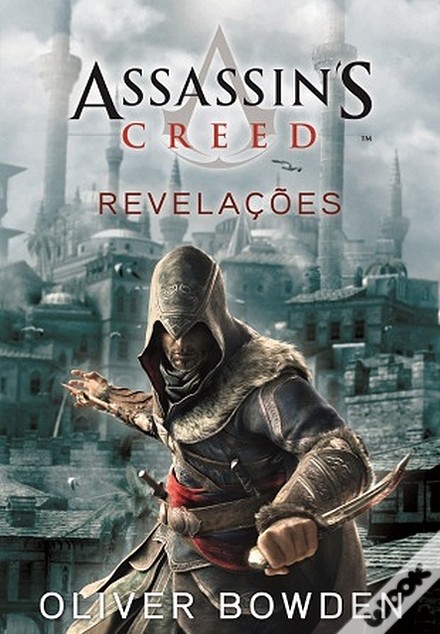Monstros S.A. (Monsters INC, EUA, 2001, Dir: Pete Docter) lançado dois anos após o último longa da Pixar, Toy Story 2 (Idem, EUA, 1999), foi talvez o filme que ajudou a mostrar para Hollywood que a era das grandes animações estava de volta, mas de uma forma diferente, agora computadorizada. Ou seja, era o tradicional se travestindo de novidade.
Sinopse: Mike e Sully moram em Monstrópolis e são empregados da Monstros S.A., uma empresa que funciona a base de uma linha industrial automatizada que gera energia para a sua cidade através de gritos de crianças, pelas portas de armário das mesmas. Até que a criança Boo passa para o mundo dos monstros causando uma enorme reviravolta.
O roteiro sem grandes furos ou golpes aparentes talvez seja um dos melhores já apresentados em um filme da Pixar desde que ela começou a sua parceria com a Disney, ao lado de Procurando Nemo (Finding Nemo, EUA, 2003) e o mais recente Toy Story 3 (Idem, EUA, 2010). É um dos filmes da companhia que mais tem referências, só que ao cinema em si e ao seu início.
A estrutura escolhida não é por acaso: a humana Boo chega no mundo estranho dos monstros, e, com os seus poderes especiais (gerar a energia que alimenta o seu mundo) e a ajuda de Mike e Sully, acabam por destronar o tirano Waternoose e seu lacaio Randall. Monstros S.A. segue o molde que se tornou célebre com “Viagens de Gulliver” de Jonathan Swift, e “Uma Princesa de Marte” de Edgar Burroughs, mas que talvez tenha tido origens na mistura dos mitos gregos dos heróis Perseu, Orfeu, Belerofonte e as andanças de Héracles. Esse também foi um dos moldes que estruturou alguns filmes de aventura de Errol Flynn dos anos 30 como os faroestes de John Wayne.
As referências ao início do cinema não param por aí. Os monstros podem ser associados obviamente aos filmes de terror clássicos da Universal. A função principal da Monstros S.A. é assustar os humanos, mesmo que sejam crianças, para conseguir o que desejam. Da mesma forma que a catarse dos espectadores em forma de grito alimenta o cinema de terror através de ingressos comprados, aqui o mesmo grito é um dos principais bens que sustentam aquela sociedade.
Outra curiosidade apresentada no roteiro é o vídeo institucional que Mike e Sully assistem assim que são apresentados pela primeira vez ao espectador. Logo depois, os protagonistas saem de casa e vão até a fábrica, e assim podemos ver como os habitantes de Monstrópolis se comportam. Aqui pode ser visto como uma referência aos filmes de ficção científica dos anos 50: uma sociedade harmônica que vive o sonho americano, e de uma hora para outra é invadida por um ser horrível, no caso uma criança, que promove o terror e o pânico nos seus habitantes.
Na parte final do longa ocorre uma sequência onde Mike, Sully e Boo fogem de Randall e Waternoose no meio dos mecanismos que levam e trazem as portas. Cenas de perseguição vieram dos filmes de perseguição, uma das fórmulas mais antigas que fizeram com que D.W. Griffith ajudasse a consolidar o cinema narrativo a partir do ano de 1908. Cria-se uma tensão dramática ao intercalar três cenas: a donzela em perigo amarrada na linha do trem, o trem andando cada vez mais rápido e o herói chegando para resgatá-la.
Outro dado curioso é quando Roz exige de Mike os relatórios para que continue a trabalhar. A simples menção da burocrata dentro da empresa não é por acaso. Relatórios são registros de alguma atividade, e o registro foi uma das funções primordiais que manteve o cinema em atividade e o impediu de ser extinto enquanto não havia se estabelecido como narrativa ficcional. Desde visitas a chefe de estado, até viagens para países africanos, o cinema teve que percorrer estes caminhos para não ser dominado pelas outras formas de entretenimento da época. Entenda mais aqui.
A linha de montagem que mostra como os gritos das crianças humanas são produzidos e armazenados, pode ser interpretada como menção a própria industrialização que o cinema sofreu no final dos anos 10 e início dos 20 quando a era dos grandes estúdios começou. Neste caso, a inserção de uma criança neste universo pode ser uma referência ao início da indústria do cinema em si, por mais que o revisionismo histórico através do Simpósio de Brighton critique os primeiros historiadores que associavam a arte cinematográfica a “uma criança que não sabia o que estava fazendo”.
A primeira cena de Monstros S.A. é uma simulação gravada de como se deve assustar uma criança, para que os monstros possam treinar melhor. É assim que o cinema ficcional age: ele simula uma série de inverdades encadeadas cheias de significados para que no fim a sociedade reflita e debata sobre os conceitos que ali estão. Em uma das últimas cenas, a mesma simulação revela o caráter do vilão Waternoose. E este é um dos pilares do cinema documental: expôr as outras facetas de um mesmo tema para gerar o mesmo debate. Em Janela Indiscreta (Rear Window, EUA, 1954), Hitchcock fizera um ensaio ao demonstrar a curiosidade do espectador e o quanto ele deseja quebrar a sua condição passiva e se inserir naquele universo, ao ponto do personagem de James Stewart se intrometer para impedir um assassinato. No longa não é diferente, os monstros, que são os próprios espectadores da simulação, a manipulam da forma que assim necessitam no momento.
Outro fato curioso é a inversão de valores ao mostrar que monstros tem muito mais medo das crianças, o que os levam a sofrerem a descontaminação e limpeza por uma equipe especial caso sejam tocados. O medo dos monstros permite que eles sejam manipulados através de uma mentira, como vemos nas cenas finais: crianças não os contaminam. O medo das crianças a eles é a mesma forma de alienação, por mais que o fim maquiavélico tente justificar a imposição de limites auxiliando a sua educação, com a típica frase: “Se você não comer este prato, o monstro vai vir te pegar”. Essa premissa pode ser entendida também como uma crítica à imposição de uma verdade absoluta em uma sociedade através da manipulação promovida pela mídia, religião, política ou morais sociais rigorosas.
No final do filme, os monstros percebem que a tão valorizada energia que vinha antes pelo grito de medo se torna dez vezes mais poderosa quando gerada por uma risada infantil. A mensagem é clara: o humor é uma das melhores formas de se lidar com o medo das crianças. Se for expandido para todas as idades: enfrente com bom humor o seu medo para que ele não vire um monstro incontrolável.

Para a psicologia, a maioria dos temores infantis são estados emocionais que representam uma etapa do seu próprio amadurecimento, e conforme vão crescendo eles se alteram tanto no tema quanto de intensidade. Da mesma forma que o medo vem da imaginação, é também dela que surgem as melhores formas de combatê-los. Ao expressá-los para seus pais seja de que forma for, as crianças conseguem conviver melhor com eles até entendê-los e superá-los. Não a toa Boo, com a ajuda de Sully, no final do filme consegue derrotar o seu próprio monstro, Randall.
O problema surge também quando muitos pais falham em não conseguir se comunicar com os filhos pequenos, ainda mais na sociedade moderna onde permanecemos horas no trabalho, perde-se muito tempo no trânsito das grandes cidades e acaba se passando menos tempo do que gostariam ao lado dos filhos. Não a toa as crianças acabam se afeiçoando as vezes mais as suas babás do que aos próprios pais. O filme trata disso quando Boo se afeiçoa a Sully chamando-o de “gatinho”. A simples menção a um animal de estimação projeta nele a figura de um protetor e o apelido carinhoso mostra que ela consegue superar a sua condição de monstro se comunicando e interagindo com ele, já que ele não é seu monstro. São as funções básicas que as crianças veem em seus pais: carinho e proteção.
A única hora em que existe quebra de confiança é através da representação máxima do cinema no filme: a simulação. Boo fica com medo quando Sully assusta uma criança robótica a mando de Waternoose. No cinema, a impressão de realidade tem o poder catártico de revelação ao espectador, transformando os personagens em tridimensionais através da psicologia dos seus atos. Sully é carinhoso, mas ainda assim é um monstro, Boo é uma criança destemida, mas também tem medo, e Waternoose é um bom chefe até aquele momento, depois vemos que é maquiavélico. Personagens humanizados através da psicologia são a base de boas narrativas.
A maioria das obras de arte mais impressionantes que a humanidade já produziu trazem traumas dos artistas, feridas tão profundas que muito provavelmente tiveram início em sua infância. As obras surrealistas de Salvador Dali e Magritte são um exemplo, apenas dois exemplos rápidos ficando somente na pintura. No cinema não é diferente: os diretores do expressionismo alemão importados para Hollywood nos anos 20 e 30 fizeram com que a narrativa da sétima arte atingisse um nível superior, superando qualquer gênero.
As vozes dos atores foi outro acerto. Não a toa Billy Cristal e John Goodman foram escalados para serem os protagonistas, já que fizeram muita comédia. James Coburn como vilão no seu penúltimo filme pode ser encarado como outra homenagem ao passado do cinema, mais especialmente aos anos 60.
Por fim, a animação do filme impressiona. A qualidade e atenção à todos os detalhes não deixam os mais puristas reclamar do que tenha faltado. A textura dos pêlos de Sully, a movimentação dos personagens e a iluminação das cenas são o ponto forte. As cores escolhidas para a pele dos monstros e a vestimenta de Boo foram também bem feitas, junto dos cenários. Detalhe para a impressionante cena de perseguição no mecanismo que levam e trazem as portas.
Monstros S.A. não é uma simples animação para crianças. Ele tem tantas referências a diversos temas que o tornam um dos melhores filmes já feitos, sem dúvida está no topo da Pixar, além de ser uma declaração de amor ao cinema.
–
Texto de autoria de Pablo Grilo.