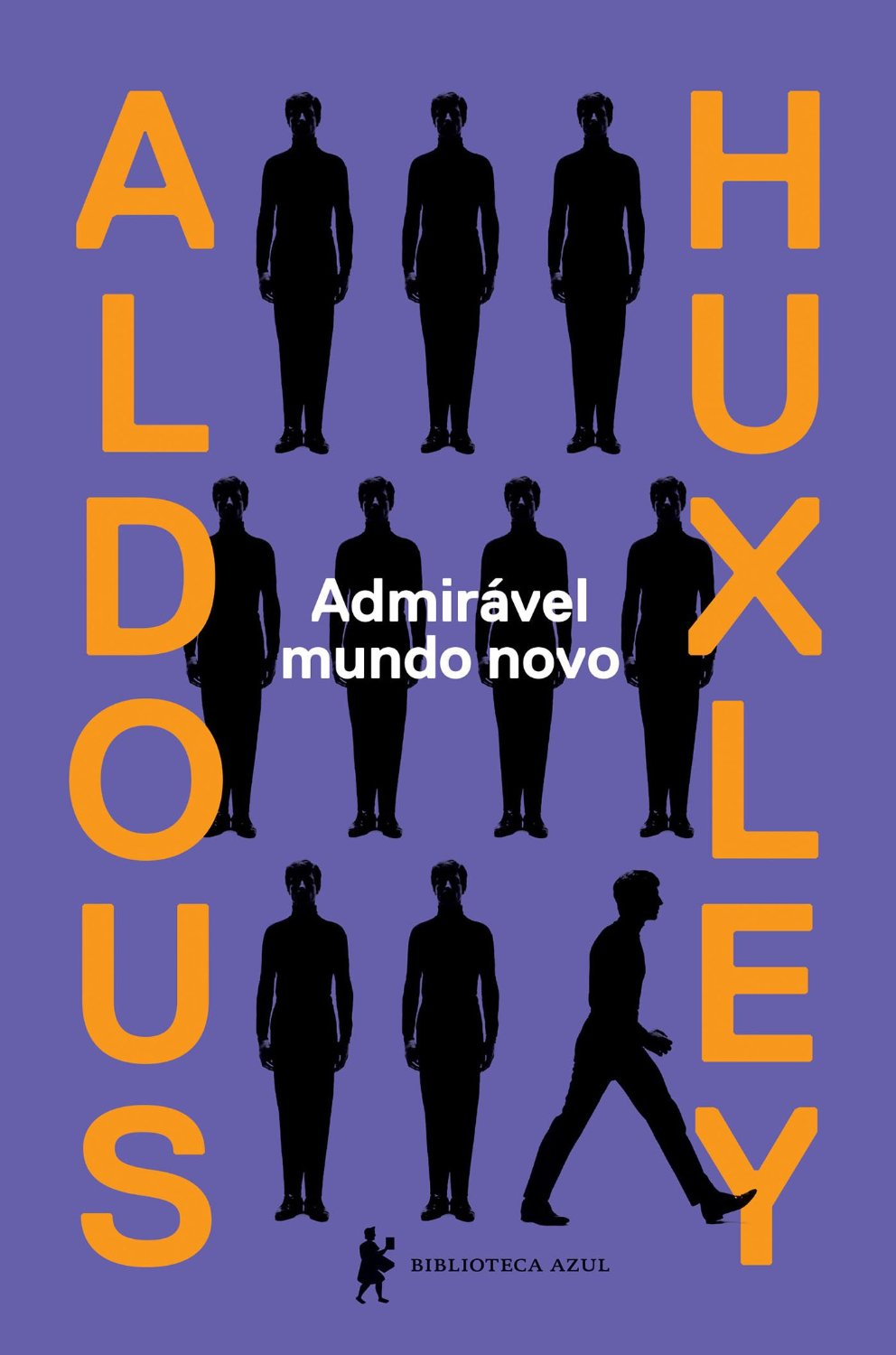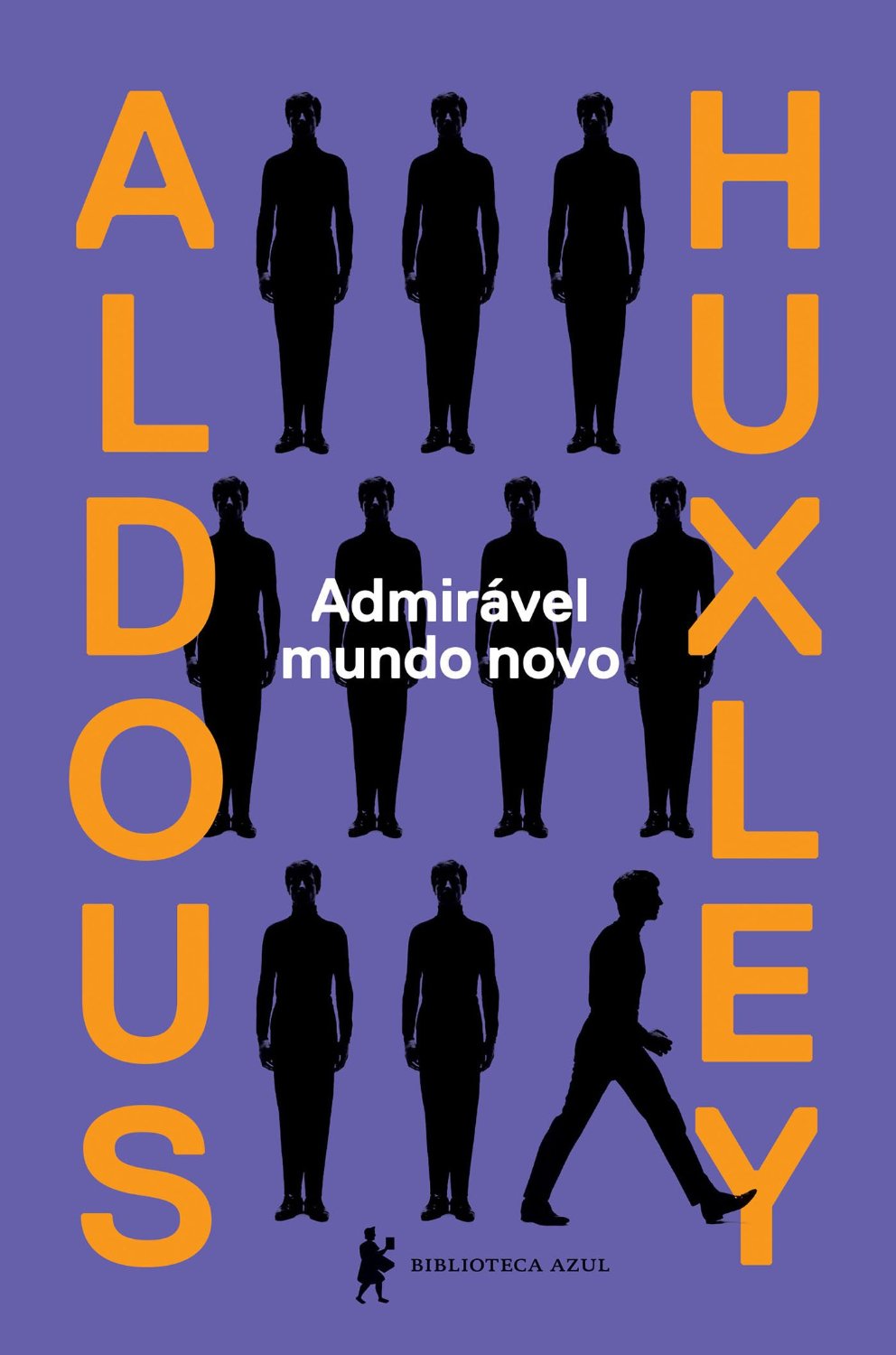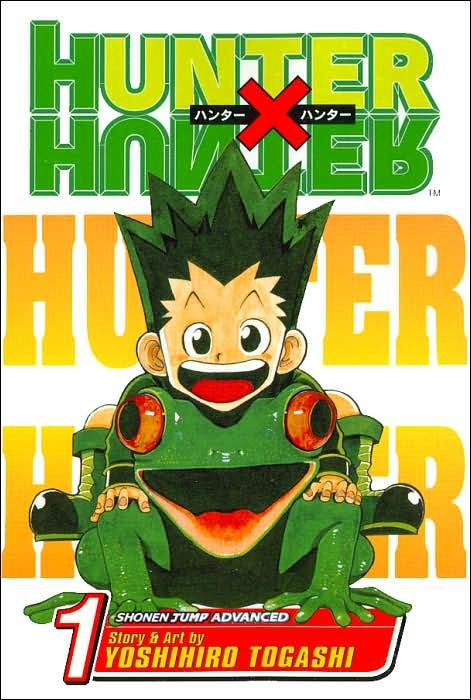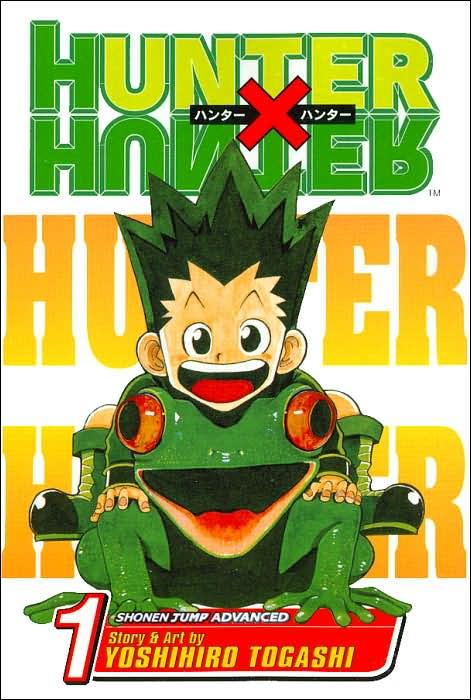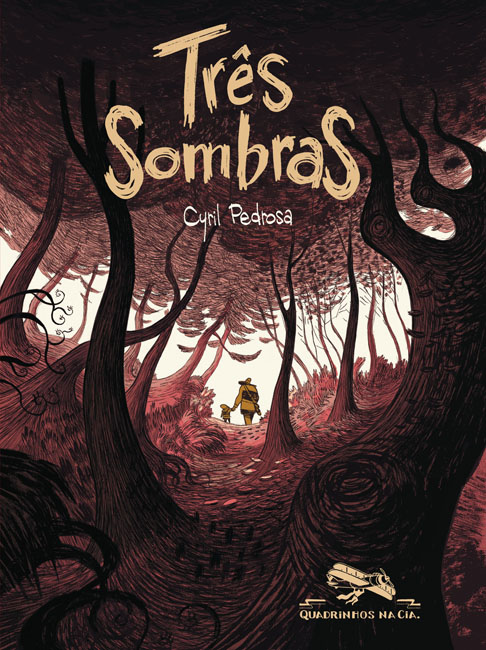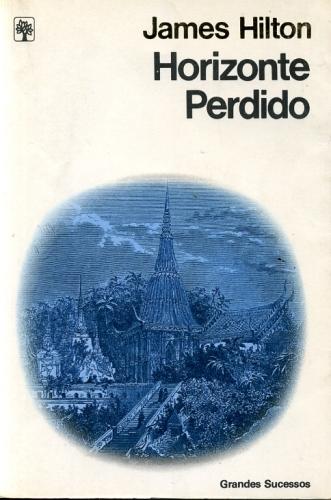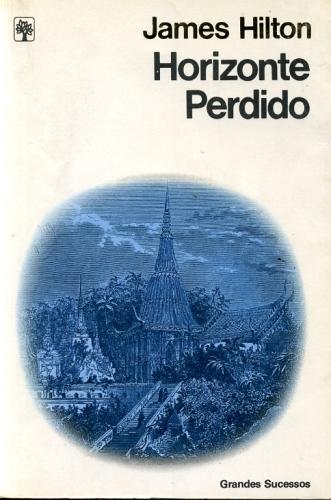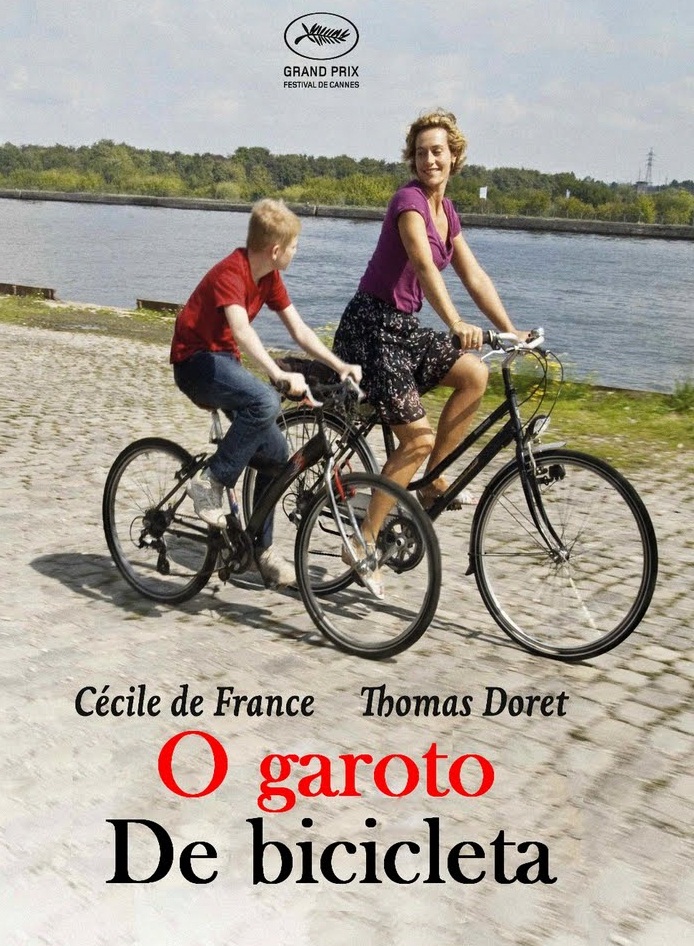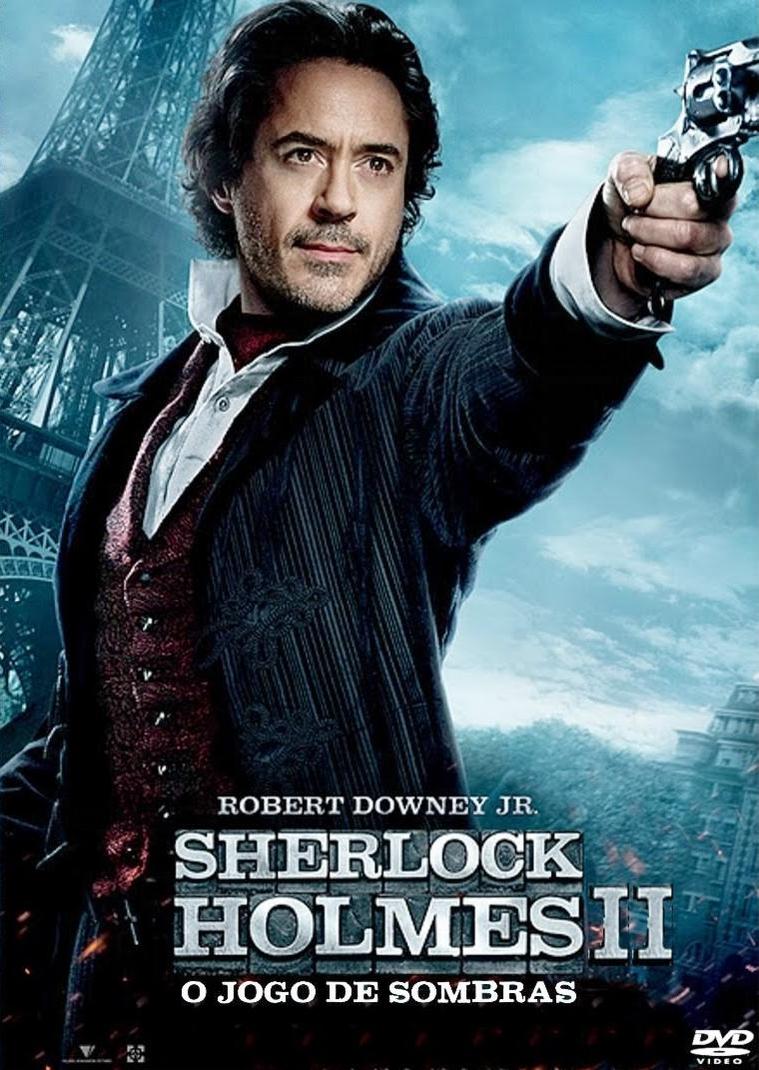Fazer uma lista de melhores filmes nunca é uma tarefa fácil. A quantidade de filmes é sempre enorme, o tempo escasso e as reclamações por esquecer de algo é sempre frequente. Por mais que você deixe claro se tratar de uma lista pessoal, sempre vai aparecer alguém reclamando sobre algum filme que foi deixado para trás ou pelo filme tal estar nessa lista. Pois bem, ainda assim decidi fazer essa lista, mas optei por deixar de lado o quesito “melhores filmes”, por um amigável “filmes essenciais”, quem sabe evito futuros conflitos.
Preferi listar os filmes que tem estréia em 2011 nos seus países de origem, do contrário estaria presente Bravura Indômita, Cópia Fiel e tantos outros de 2010 mas que chegaram no Brasil apenas em 2011. Deixei de lado alguns blockbusters de lado, pelo simples motivo de já terem sido comentados na lista feita pelo Jackson, o que caso não tivesse ocorrido, certamente figurariam por aqui.
Dito isso, vamos à primeira parte da lista (a listagem abaixo não segue ordem de preferência).
Margin Call – O Dia Antes do Fim
Um filme que retrata a crise norte-americana de 2008 com um clima digno de filme de ‘catástrofe’ ou de ‘fim de mundo’. O que se olharmos bem, faz todo sentido. A história 0corre durante a madrugada, em um banco de investimentos que acaba de descobrir que a bolha já estourou, sua única alternativa é vender todas as ações, títulos e papéis que a empresa tem para evitar a falência.
Margin Call acerta onde outros não chegaram nem perto, como o caso de Wall Street 2. A forma como retrata o colapso do mercado financeiro de forma e a ganância do capitalismo selvagem é digna de aplausos. Tudo isso somado a um estelar elenco.
Compramos Um Zoológico
Ok, o filme não é tudo isso. Eu sei disso, mas Cameron Crowe consegue mesclar um drama familiar com comédia sem soar clichê. Só por isso sua empreitada já é louvável. Apesar de errar a mão na construção de alguns personagens e se estender mais do que deveria, Crowe dá um banho de sensibilidade. Singelo e cheio de sutilezas.
Compramos Um Zoológico é um filme sobre descoberta de novas oportunidades, negação sobre a morte e de como se reencontrar após uma perda como essa, enfim, seguir em frente. Uma ode ao otimismo e ao recomeço.
50%
O longa-metragem do novato Jonathan Levine tinha tudo para ser um daqueles filmes feitos para você chorar do início ao fim, retratando o dia-a-dia de um paciente com câncer. Confesso que esse gênero de filme não me agrada nenhum pouco e boa parte deles tem um papel social péssimo, mais atrapalhando do que ajudando. Levine deixou de lado o mar de prantos proporcionado por esses tipos de filmes e faz um filme leve e divertido sem deixar de lado o drama vivido pelo personagem, e acima de tudo, sem soar desrespeitoso.
O título faz menção a porcentagem que o protagonista tem de sobreviver a doença, e diferente dos filmes do mesmo gênero, 50% busca uma visão otimista para o tema, inclusive ao mostrar a dor dos amigos e parentes próximos, as dúvidas sobre o futuro que uma pessoa nestas condições tem. Destaques para as atuações e a incrível trilha incidental de Michael Giacchino e o belo fechamento com Yellow Ledbetter do Pearl Jam. Delicado, autêntico e uma grande lição de obstinação.
O Guarda – Ouça nosso podcast sobre o filme
O Guarda deixa claro a máxima de que ‘Todas as histórias já foram escritas, o que importa é a forma como elas são contadas’. E de fato é isso que o filme faz. O diretor John Michael McDonagh resgata o gênero de ‘dupla de policiais’ com pitadas de um western moderno. Brendan Gleeson, em uma interpretação recheada de nuances que vai de policial racista, rabugento, acomodado e por vezes corrupto, mas que não deixa de ser extremamento competente e verdadeiro em suas ações.
Despretensioso, cínico, sarcástico, inteligente, divertido e até mesmo melancólico em alguns momentos, O Guarda vira o gênero do avesso e tudo isso sem soar gratuito ou ofensivo.
Rango – Ouça nosso podcast sobre o filme
Como um grande admirador do gênero Western, não poderia deixar Rango fora de uma lista de filmes de 2011. Reunindo todas as referências típicas dos filmes de faroestes, um roteiro simples e uma animação impecável, faz de Rango a melhor animação de 2011 disparado. O roteiro tem seus problemas, o fato de seguir o padrão ‘jornada do herói’ me cansa um pouco, contudo, o diretor Gore Verbinski conseguiu contornar bem isso e transformar o personagem título de um andarilho-errante em um grande herói utilizando bem os clichês do próprio gênero.
Só pela coragem de fugir de convenções gratuitas e infantiloides típicas de animações infantis que teimam em julgar que crianças são bobas, Rango já merece ser aplaudido de pé. A Pixar que se cuide.
Tudo Pelo Poder – Ouça nosso podcast sobre o filme
Ambientado nas primárias do partido democrata americano onde buscam definir quem será o candidato a concorrer a eleição a presidência do país, Tudo Pelo Poder é certeiro ao escancarar o quão corruptível o mundo político pode ser, seja na figura do idealista Stephen Myers (Gosling), ou na do próprio candidato e atual Gorvernador Mike Morris (Clooney).
Tupo Pelo Poder não é o primeiro filme ao retratar o jogo político, mas sua abordagem inicial cria um clima de morte da inocência e coloca o espectador na linha de frente para assistir ao assassinato sem puder fazer nada para mudar isso. Transformando-o quase num cúmplice do que ocorre em tela.
Another Earth
Another Earth traz uma premissa de que um planeta espelho a Terra acaba de ser identificado em nosso sistema solar. Um planeta idêntico ao nosso, como disse, um planeta espelho. Com base neste fato, o destino de dois personagens se cruzam e suas vidas nunca mais serão as mesmas.
“O que você faria se encontrasse uma versão de si mesmo?” são um dos questionamentos que o filme traz, o que pode parecer uma idéia absurda, mas metaforicamente, muitos de nós, ao se olhar frente à um espelho não se deparou com uma figura que não é familiar a si mesmo, uma figura de quem se perdeu durante o caminho, fez um escambo com aquilo que eram seus sonhos e seus ideais. Complicado dizer o que criticar em um filme como esse, apesar de um drama com fundos de ficção científica, Another Earth não é pretensioso e nem se estende mais do que deveria, dura somente o necessário e passa sua mensagem a quem estiver disposto a ouvi-lá.
É preferível tentar viver sem saber o que pode te esperar ou continuar vivendo em desgraça e sofrimento?
Árvore da Vida – Ouça nosso podcast sobre o filme
Infelizmente Árvore da Vida foi um daqueles filmes onde se comenta mais sobre as saídas dos espectadores do longa durante sua exibição nos cinemas que do filme em si. Uma pena, já que deixa claro que boa parte do público não está mais interessada em pensar, apenas digerir pensamentos liquefeitos.
É lógico que o filme não segue uma história tradicional, talvez por isso tenha sido tão malhado pelas pessoas que achavam que veriam apenas mais um filme do Brad Pitt. A narrativa de Árvore da Vida é composta por imagens, quase sem diálogos, e que em sua essência não passa de uma viagem sobre a existência humana, tudo isso de forma não linear. Um estudo sobre a vida, o amor e os relacionamentos. Uma experiência áudio-visual.
A Pele Que Habito – Ouça nosso podcast sobre o filme
Almodóvar retoma sua parceria com Antonio Banderas e cria uma obra-prima. Apesar de diferente de seus trabalhos anteriores, A Pele Que Habito tem toda assinatura típica do diretor, obsessões, sexo, solidão, tudo isso num misto de thriller de suspense, ficção científica e horror. Banderas se torna quase um cientista louco, decidido a criar uma espécie de pele perfeita que seria uma revolução entre os cirurgiões plásticos, e como todo cientista maluco, seu personagem não mede esforços e passa por cima de tudo para realizar seus anseios.
Não vou me alongar nesta pequena resenha, pois qualquer detalhe estragaria a experiência do filme. A Pele Que Habito é um filme que te faz sentir-se desconfortável com o que vê, talvez por isso seja tão genial. Contudo, a maior mensagem do filme é sobre quem somos.
Meia-Noite em Paris – Ouça nosso podcast sobre o filme
Woody Allen é um dos meus diretores favoritos e Meia Noite em Paris já entrou para o meu top 10 de filmes dele. Em 2005, Woody Allen começou a filmar na Europa, dessas viagem surgiram Vicky Cristina Barcelona, Scoop, Match Point e outros. Em 2011 foi a vez de Paris e o cineasta acertou em cheio.
Woody Allen, dessa vez personificado na figura de Owen Wilson é um roteirista de Hollywood que sonha escrever seu primeiro romance, viaja para Paris com sua noiva e seus sogros, e ali sem mais nem menos embarca em uma viagem de volta aos anos de ouro, em plena década de 20, onde tem diálogos incríveis com Hemingway, Pablo Picasso, Salvador Dali, Luis Buñuel (em uma conversa interessantissima sobre seu “Anjo Exterminador).
Allen cria uma linda história de amor por Paris e por uma época que serviu de catarse para o que viria a seguir.