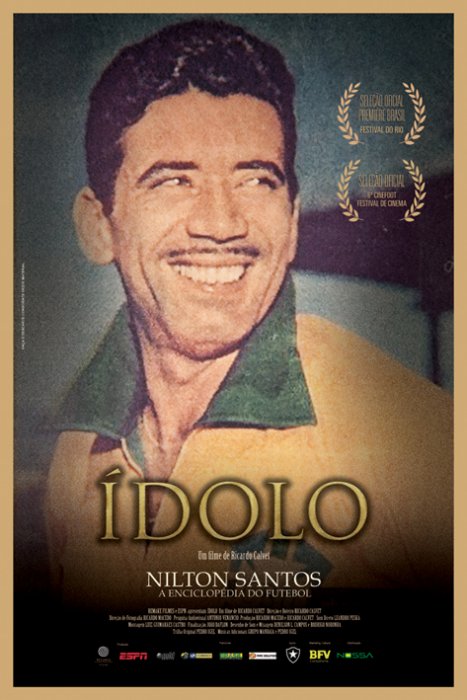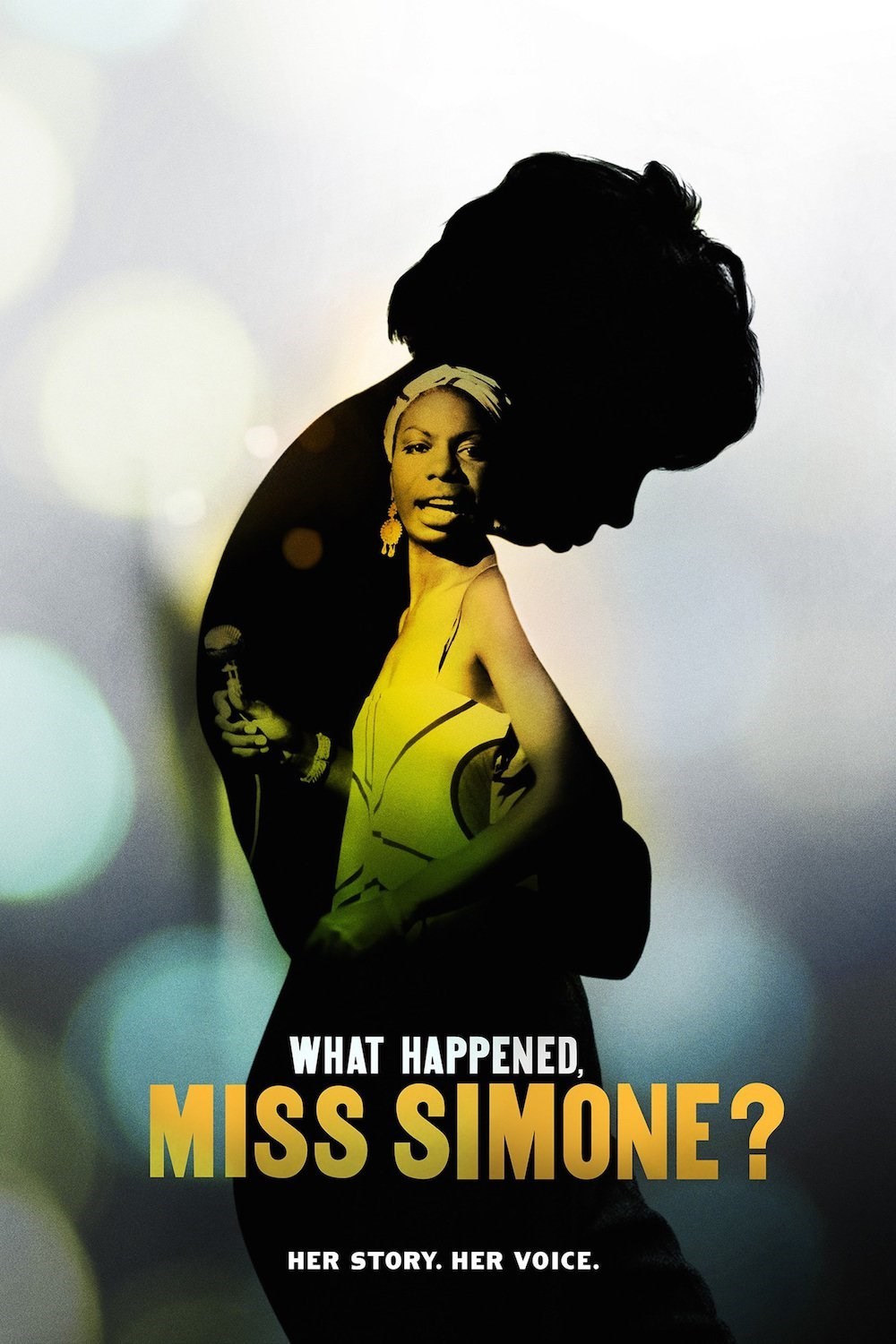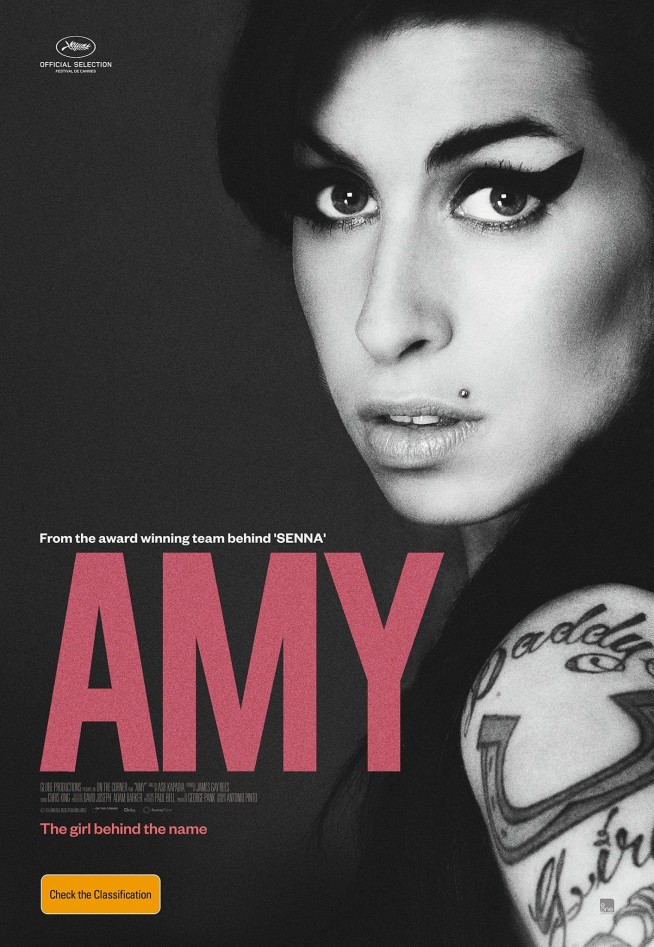O documentário de Otavio Juliano tem a intenção de recapitular as fases importantes da banda de metal brasileira oriunda de Minas Gerais. Sepultura Endurance destaca as três décadas de existência do grupo musical, a despeito até dos protestos de Max e Igor Cavalera quanto ao seu feitio. Os primeiros momentos do longa mostram Phil Anselmo (Pantera), Lars Ulrich (Metallica) e Corey Taylor (Slipknot) destacando a identidade musical única da banda, em especial pelo modo como empregam os vocais, além é claro de carregar em si uma identidade diferente do visto na cena usual de metal.
A maior parte dos comentários gira em torno da mistura que o Sepultura sempre fez, incluindo aí a energia hardcore californiano com o thrash metal. Andreas Kisser, em uma conversa informal com Jean Dolabella – baterista que substituiu Igor Cavalera – sobre a dificuldade que existe em ter que viver em turnês, longe da família, dos amigos e do Brasil. A fala do guitarrista e líder da banda destaca que Igor também passou por um problema parecido, e começou a se distanciar da música e dos shows.
O resgate às origens mergulha fundo, relembrando dos primeiros momentos dos ensaios na casa dos irmãos Cavalera, entrevistando Jairo Guedes, primeiro guitarrista da banda. Nos depoimentos se percebe que eles eram muito precárias as condições em que ensaiavam e se apresentavam inclusive no quesito talento. Guedes fala até de um vocalista presepeiro, que mais cuspia bananas do que cantava e isso se torna uma anedota curiosa. Em sua fala, também se nota uma aceitação de seu destino como anônimo, e uma colaboração voluntária para o seu sucessor Andreas Kisser seguisse como guitarra ao lado de Max.
Depois de Arise e Chaos A.D. , os rapazes começaram a olhar mais para a musica tipicamente brasileira, resgatando assim as origens sertanejas da musicalidade brasileira inserindo elas no som pesado e sujo. É nesse interim que Kisser assume que a relação que ele tinha com Max era o diferencial da banda, e que se perdeu em um processo lento e gradual, começado a partir da relação com a empresária Gloria que mais tarde, casaria com o vocalista e seria segundo os relatos do documental, o elemento que ajudaria primordialmente na cisão da banda. Aparentemente, Max deixaria o Sepultura sem brigar por absolutamente nada, nem pelo nome, direitos musicais e afins, essa é talvez a questão mais polêmica e Juliano faz questão de não resolver todas as dúvidas nos minutos que lhe restam, deixando as pontas soltas e preocupando-se mais em louvar a recuperação da banda, que se reergueu mesmo sem gravadora, sem frontman e sem empresário.
A versão da companheira do atual líder das bandas Soulfly e Cavalera Conspirancy diz que os antigos amigos sequer falam com Max e por isso ele e o irmão não participaram do filme biográfico. Já Igor, segundo o atual homem forte da banda, saiu sem maiores brigas e entreveros, ainda que ele também não tenha prestado qualquer depoimento ao cineasta.
Os bastidores da gravação do último trabalho, Machine Messiah na Suécia permeiam os 104 minutos, fazendo este Endurance lembrar muito a dicotomia que já havia ocorrido com o Metallica entre o filme Somekind a Monster e o disco Saint Anger, ainda que a atmosfera no filme brasileiro seja mais de louvor, enquanto seu semelhante é bem mais melancólico. Como registro de uma importante banda do cenário de metal no mundo, o filme de Otavio Juliano acerta em cheio, embora deixe de lado grande parte da problemática da briga entre os Cavalera e seus antigos amigos, restando então um relato interessante sobre a rotina do Sepultura na estrada ao longo de mais de trinta anos.
Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.








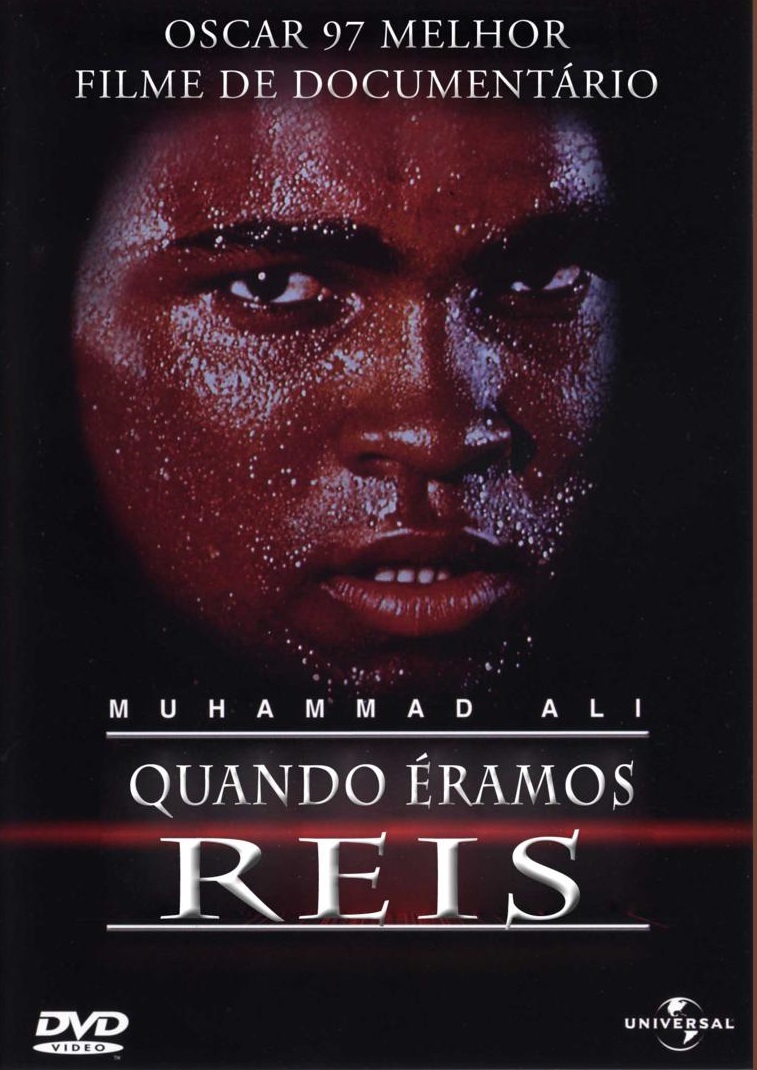





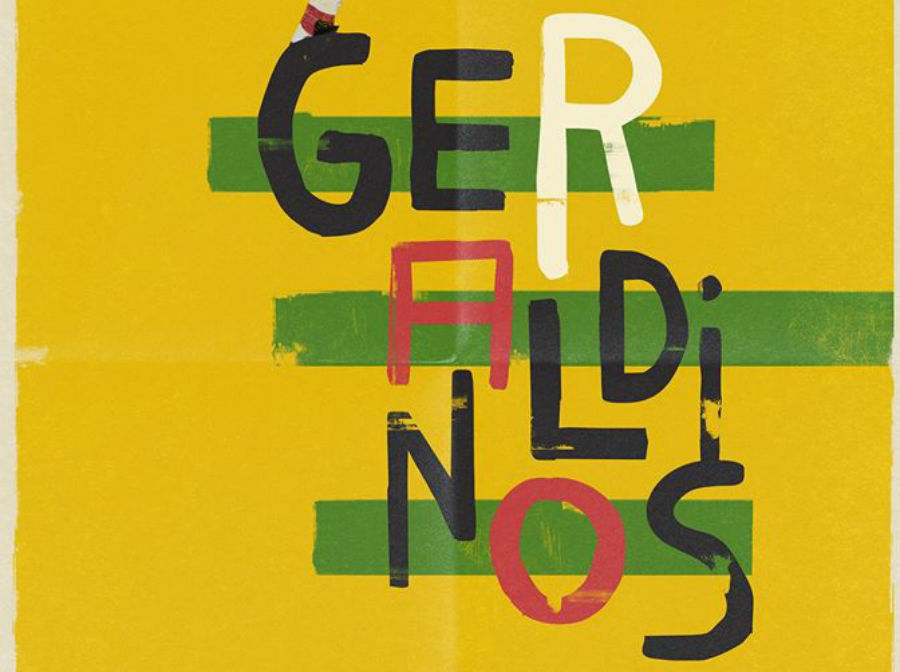

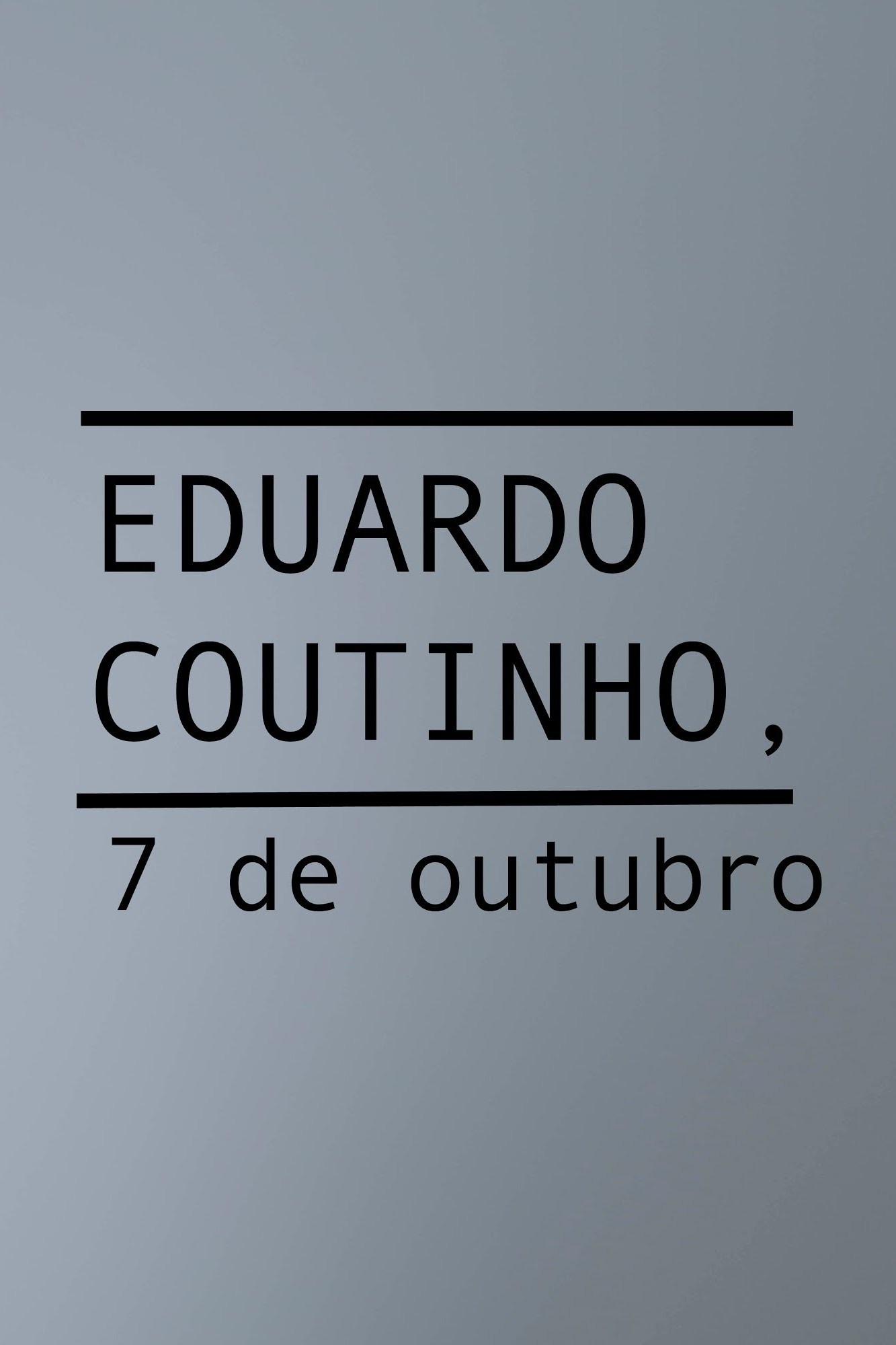
 “Minha vida é tão pobre que eu preciso filmar”, diz Eduardo Coutinho durante entrevista dada a Carlos Nader, que viria a se tornar o documentário Eduardo Coutinho, 7 de Outubro, no qual o documentarista se torna o documentado. Tarefa nada fácil delegada a Nader pelo Sesc, devido às particularidades do seu entrevistado.
“Minha vida é tão pobre que eu preciso filmar”, diz Eduardo Coutinho durante entrevista dada a Carlos Nader, que viria a se tornar o documentário Eduardo Coutinho, 7 de Outubro, no qual o documentarista se torna o documentado. Tarefa nada fácil delegada a Nader pelo Sesc, devido às particularidades do seu entrevistado.