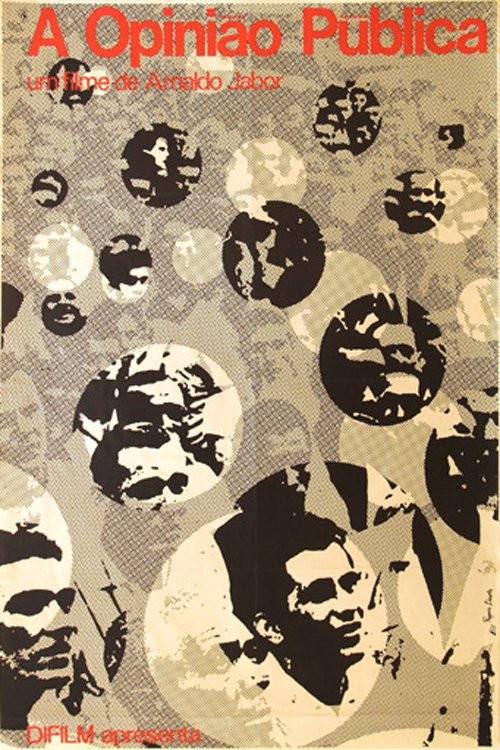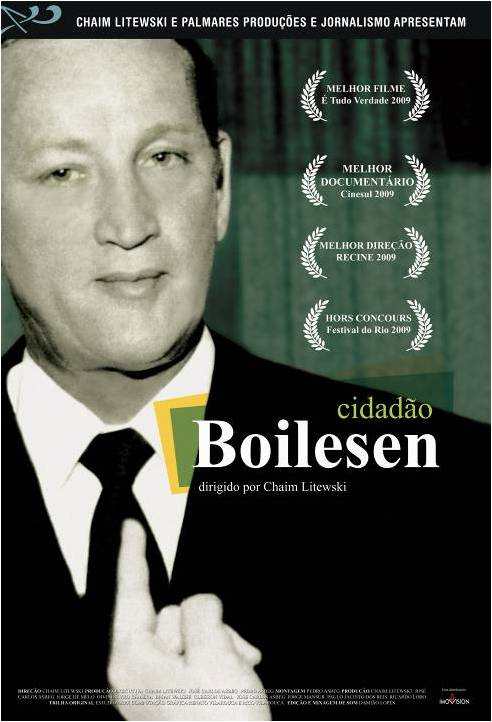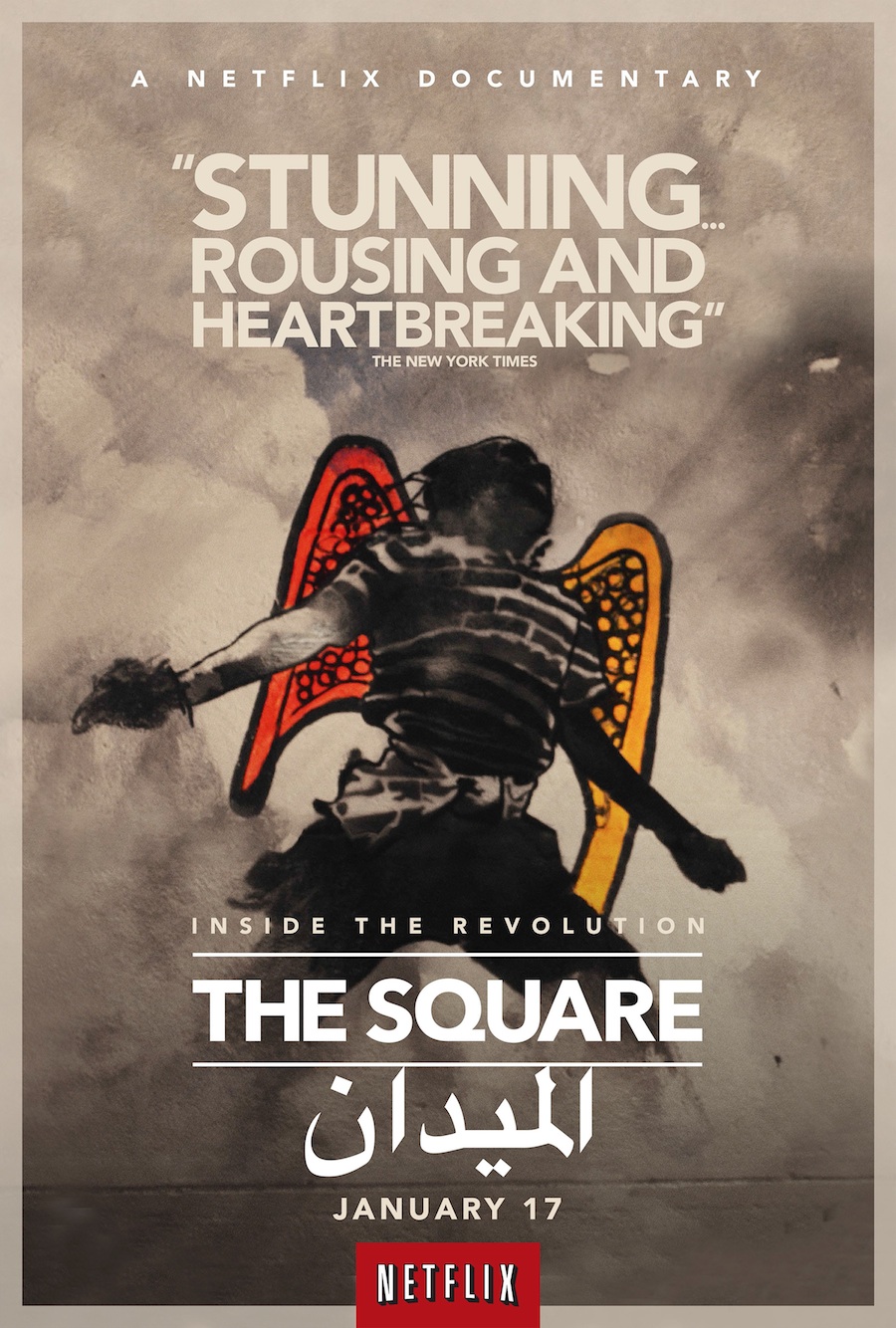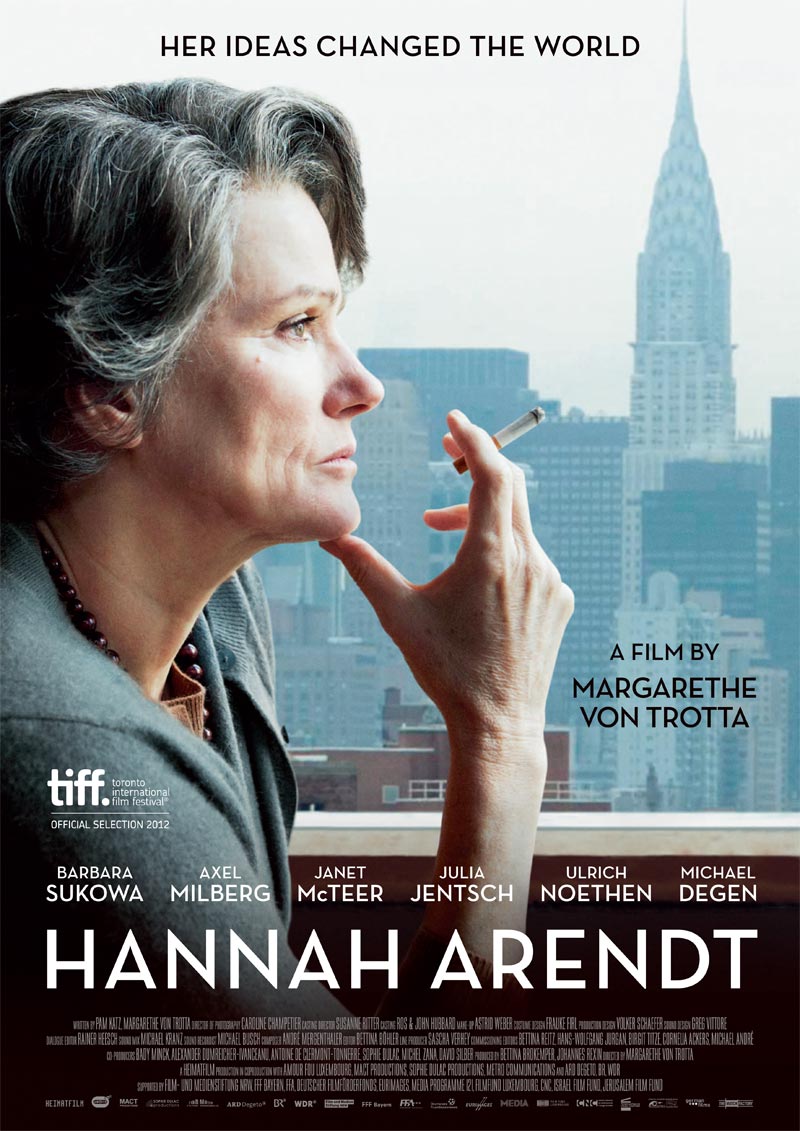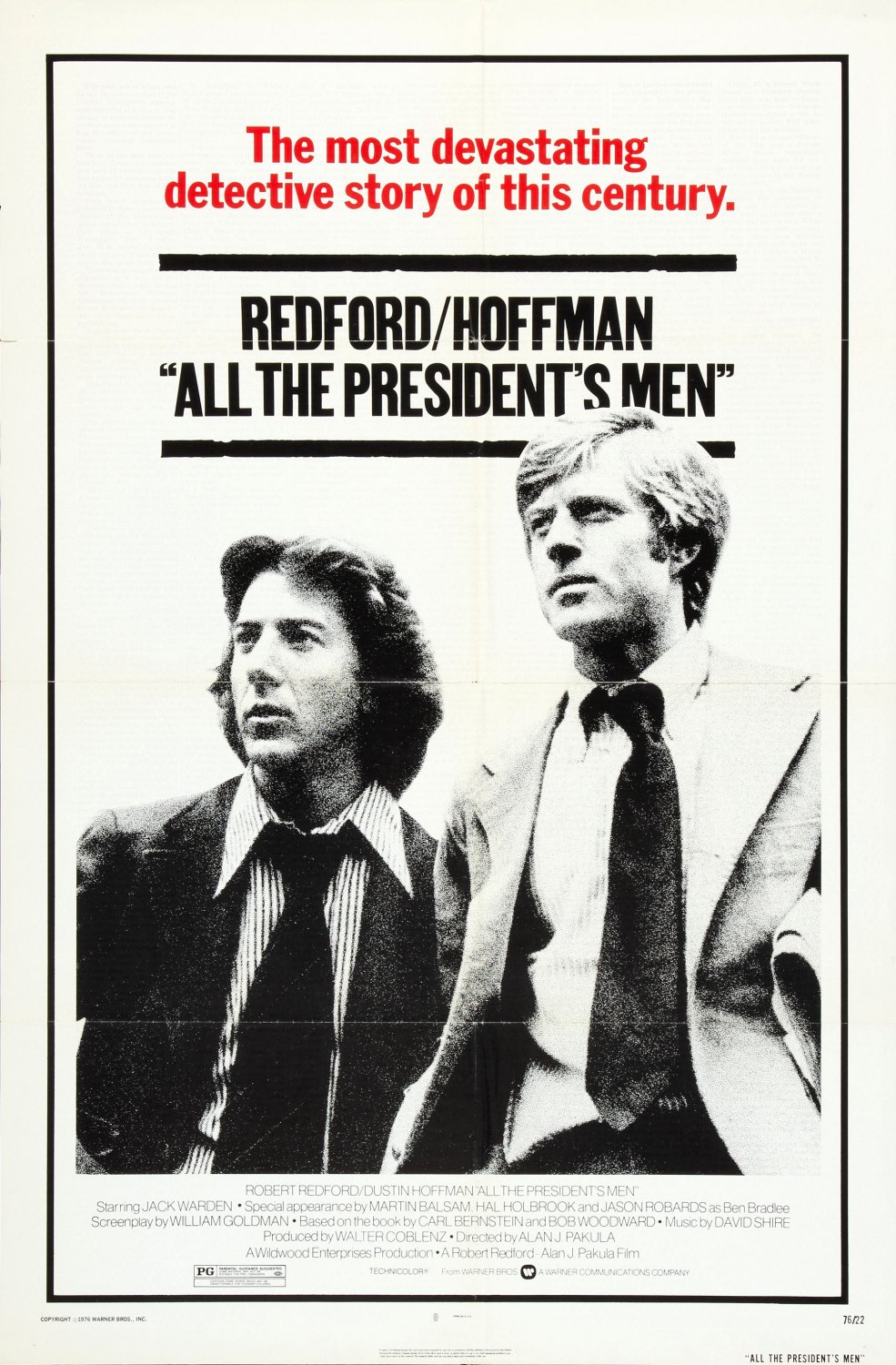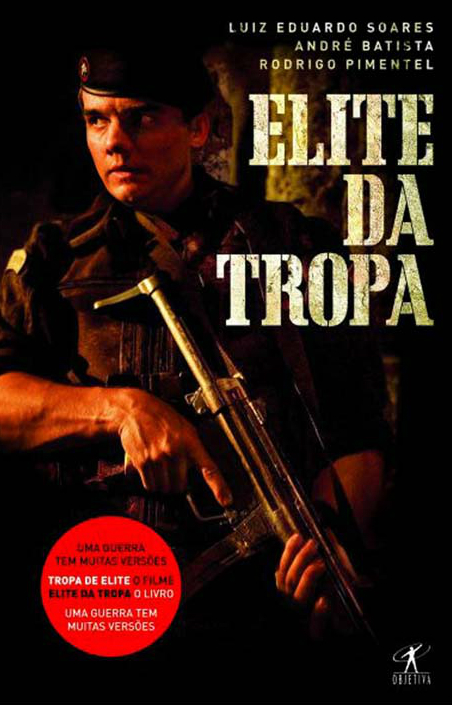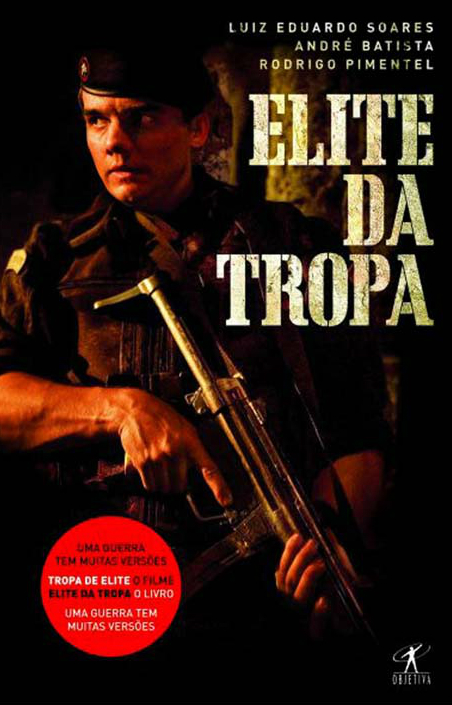De todos os temas da história, o Nazismo provavelmente é o mais conhecido e comentado pelas pessoas em geral, tanto por causa da dimensão do grotesco causado pelos nazistas quanto pela propaganda americana realizada por meio de seus filmes, que reforçam ser este o momento em que os EUA salvaram a humanidade deste mal. Portanto, fazer uma análise sóbria do que foi o fenômeno da ascensão e consolidação do poder nazista na Alemanha não é tarefa fácil.
Felizmente, o documentarista sueco Peter Cohen consegue desvendar em grande parte o que está por trás de toda a psicologia do Nazismo em seu filme de 1992, Arquitetura da Destruição. A obra deixa de lado grande parte das análises superficiais e sensacionalistas feitas até então sobre Hitler e parte para tentar compreender os fatos enquanto fenômeno da própria humanidade, que é o que todos temos medo, de nos enxergar como iguais aos autores de tais atos.
Narrado por Bruno Ganz (que ironicamente iria interpretar Hitler em A Queda, de 2004), o documentário tem três eixos principais. O primeiro, em que Hitler e grande parte da cúpula nazista eram artistas e por isso davam tanto valor à estética do III Reich, baseada principalmente na arte clássica greco-romana, quanto à perseguição à chamada “arte degenerada”; o segundo mostra que os nazistas viam na ciência e na Medicina uma forma de aumentar a expectativa de vida da “raça superior”, ao mesmo tempo em que os médicos alemães também estavam por trás da “solução final”; e finalmente o terceiro, em que aventa a tentativa quase desesperada de patologizar o “judeu” na sociedade alemã, investindo pesado em propaganda associando-os a insetos e ratos e outras pragas que contaminavam o “corpo alemão”.
A visão artística do III Reich era influenciada principalmente pelo romantismo alemão, movimento que vinha de uma forte herança nacionalista prussiana e antissemita e personificado na figura do compositor Richard Wagner, um dos ícones de Hitler. Também havia uma forte sensação de que o III Reich era o responsável por manter a linhagem da cultura greco-romana na era moderna, com foco especial em Esparta, sociedade considerada “ideal” por Hitler. As ruínas da Grécia exerciam forte fascínio sobre o Führer, tanto que ele e seu arquiteto, Albert Speer, projetaram vários prédios para a reconstrução de várias cidades alemãs, as quais imitavam a arquitetura grega para, no futuro, os povos olharem as ruínas dos nazistas com a mesma admiração com que, hoje, vemos as ruínas gregas. Por isso ele também proíbe expressamente o bombardeio de Atenas durante a invasão nazista a Grécia.
Portanto, é fácil entender a importância que a arte tinha para os nazistas. Tanto que os artistas considerados “degenerados” foram perseguidos ferozmente e tiveram suas obras confiscadas e muitas vezes, destruídas. Para Hitler, a arte degenerada era a arte moderna, judaica e bolchevique, ou seja, sem traços definidos, o que para eles representava sinais de doença mental de seus autores, enquanto a arte considerada correta era aquela romântica, de paisagens campestres e bucólicas, sem nenhum tipo de conflito.
O componente médico/científico do nazismo é também muito forte. Somos apresentados a dados impressionantes (como o de que quase metade dos médicos alemães aderiram à ideologia) e que reforçam ainda mais a tese de que o Nacional-Socialismo era muito mais um fenômeno de elite do que popular. Enquanto havia campanhas públicas para o alemão fazer exames e evitar a tuberculose e o câncer (tudo centrado na figura do “médico salvador de vidas”), os mesmos médicos estavam por trás dos primeiros passos do programa de extermínio dos “indesejáveis”, mostrando claramente que o uso dos campos de concentração era o passo final de um projeto que começa bem antes, sempre com o auxílio de vídeos feitos pelo governo. Um muito interessante mostra várias imagens de deficientes mentais vinculando-os a informações alarmantes (e falsas) de que, caso nada fosse feito, essa população iria ultrapassar a população alemã “saudável”, mostrando um indicativo de qual caminho os nazistas pensavam em seguir.
Tendo em mãos relatórios, cartas e documentos da época, Cohen remonta em detalhes todo o plano de execução destes “indesejáveis” e a preocupação dos nazistas em esconder este fato, o que mostra que, mesmo no poder, suas ações não eram 100% aceitas ou inquestionáveis. Os primeiros modelos de execução, muito precários, eram em caçambas de veículos com o escapamento acoplado, o que causava a asfixia das vítimas por monóxido de carbono, enquanto os fornos incineravam os corpos em regiões próximas à cidade. Relatos de funcionários das tabernas, o cheiro forte e pedaços de cabelo nas ruas geravam um clima tenso. Foi quando os nazistas decidiram que migrar para longe das cidades seria melhor.
Cohen também defende a tese de que a ação final contra os judeus acontece na parte final da Segunda Guerra Mundial, por conta da demora do conflito. Então Hitler decide acelerar os planos e passa a agir utilizando meios de comunicação em massa, especialmente o Cinema, para convencer a população alemã de que o judeu era uma praga que parasitava o estado e o povo alemão, portanto deveria ser exterminado. São categóricas as imagens de alemães dedetizando casas cheias de ratos e cupins com o mesmo gás que seria utilizado nas câmaras dos campos de concentração, o Zyklon B.
Em resumo, Arquitetura da Destruição se mostra um filme indispensável a qualquer um que tenha a mínima pretensão de entender a fundo o que foi o Nazismo. Muito bem construído e documentado, é daquelas obras que se eternizam no tempo por sua qualidade e profundidade, pois, em um tema tão complexo, é fácil deslizarmos para o senso comum. Segundo o próprio filme, não é chamando Hitler de artista frustrado (ou monstro) que iremos entender tal fenômeno. Tampouco achando que foi uma obra feita por meia dúzia de alucinados ou, tão errado quanto, pela totalidade dos alemães do período. O Nazismo cresceu e virou o que virou porque foi fruto de pessoas de sua época, de contradições de sua época, da anuência do Ocidente com uma ideologia militarista e extremista; mas, acima de tudo, foi um fenômeno totalmente humano. E isso é o que mais nos assusta.
–
Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.