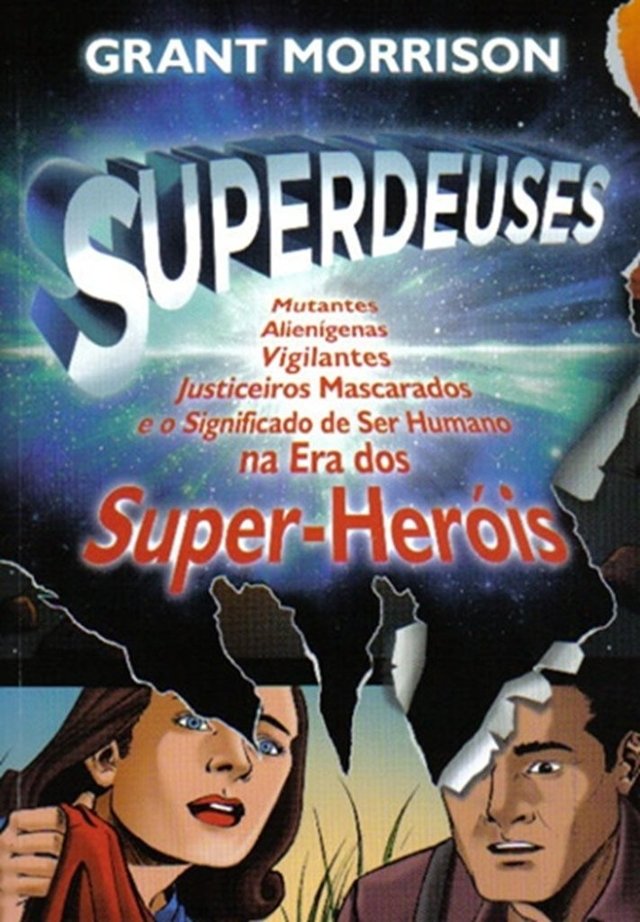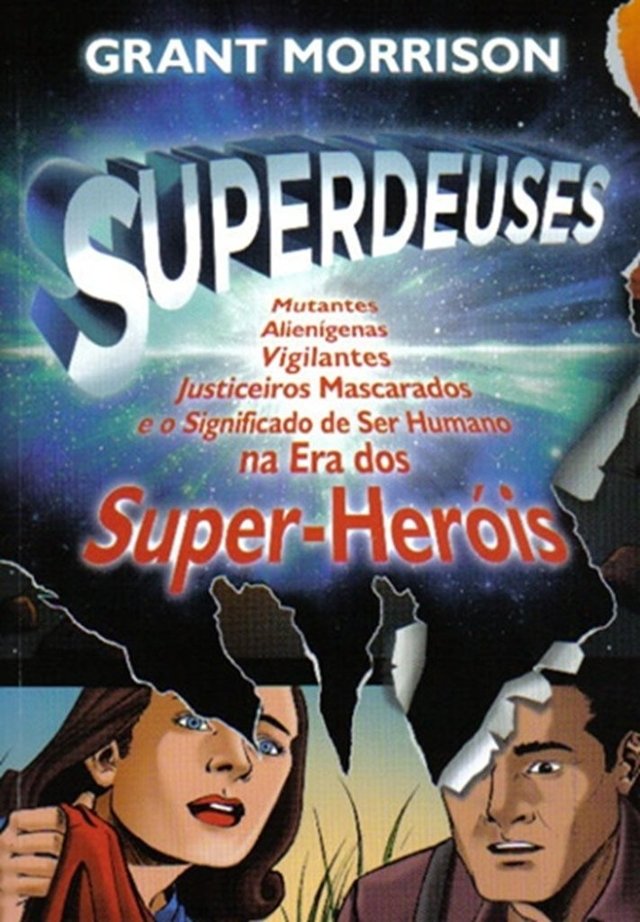
Grant Morrison fala dos seus últimos trabalhos e reafirma sua predileção pelo gênero super-heroico com Flex Mentallo, um personagem que introduz o elemento metalinguístico, a demonstração maior de seu processo criativo. Começava ali a parceria com Frank Quitely. O escritor fala dos paralelos que fez entre a sua vida e a de King Mob dos Invisíveis, passando pela doença que lhe acometeu nos anos 90 e de como a sua experiência de quase morte influenciou a sua escrita.
O autor destaca seu retorno aos quadrinhos mainstream com seus números em Novos Titãs e Liga da Justiça, nos quais restabelecia a LJA como o panteão olímpico, com cada um de seus membros simbolizando os deuses gregos, muito diferente do que Keith Giffen e J. M. D. Matheis fizeram com a Liga Cômica.
Mark Waid se aproximava de uma carreira permeada por alguns sucessos medianos, mas sem nenhuma obra memorável a nível épico. Isso até encontrar Alex Ross, que vinha do cultuado e visualmente esplendoroso Marvels, escrito por Kurt Busiek, e que retratava as muitas lendas da Casa das Ideias de um forma sensível e significativa. O Reino do Amanhã viria a ser a sequência em tom apocalíptico de Marvels, brincando, é claro, com o panteão do universo DC. Ross retratava os “imortais” heróis como homens barrigudos, carecas, decrépitos e decadentes, desconstruindo o mito há pouco restaurado.
Warren Ellis criaria o Authority, que elevou o conceito da LJA a tempos mais violentos e influenciados pela geração Matrix. Ellis — amigo pessoal de Morrison — ganha popularidade e reconhecimento por Ruínas, o inverso dentro da Casa das Ideias do que fora Marvels de Kurt Busiek, mostrando um futuro obscuro e desesperançoso dos heróis.
Authority tornou a Liga algo obsoleto. O sonho adolescente da geração anterior parecia não ter mais nada a dizer diante de seu análogo com influências do catastrofismo de Independence Day. O próximo lançamento de Ellis, Planetary, usava o sci-fi como pano de fundo e os arquétipos kyrbianos dos quatro fantásticos com o escopo aumentado para traduzir sua mensagem. Também bebendo da fonte do filmes dos irmãos Wachowski, Morrison lança Marvel Boy pela Marvel Comics, no qual mistura mitos do Príncipe Submarino e Kal-El, mas em um ambiente subdesenvolvido e belicista em vez do conservador do meio-oeste americano.
O cinema de quadrinhos nos anos 90 engatinhava somente com a franquia Batman fazendo sucesso e alguns espécimes pulpescos como Darkman, de Sam Raimi; O Corvo; e o incompetente Spawn. Além de alguns exemplos extremamente cartunescos como Dick Tracy, uma peça fora de seu tempo; O Sombra; O Fantasma; e comédias como Heróis Muito Loucos. Mas no verão de 2000 estrearia X-Men de Bryan Singer (apesar da Fox), com um elenco que funcionou perfeitamente. Mesmo com liberdades artísticas em relação ao visual, Jackman, Stewart e McKellen encarnaram muito bem os seus papéis. Mais tarde viria Corpo Fechado, de M. Night Shyamalan, com um personagem central que não conhece suas capacidades extraordinárias até chegar à meia-idade. Dunn de Bruce Willis é um deprimido sujeito que se descobre superpoderoso tardiamente, como uma reinvenção mais crível do mito do Super Humano.
Sobre A Morte de Superman, havia pouco a se falar a respeito da dramaticidade da história — praticamente inexistente — o que se notava a olhos nus era a repercussão que ela se deu fora do ambiente dos quadrinhos. Exceto por histórias pontuais em minisséries como Quatro Estações (de Joeph Loeb e Tim Sale), Legado das Estrelas (Mark Waid) e Entre a Foice e o Martelo (Mark Millar), as atenções do Super estavam voltadas para outras mídias, como as séries de TV do Superboy, que contaram até com roteiro de Denny O’Neil graças à greve de roteiristas; mais tarde com a comédia romântica Lois e Clark, que perdeu a audiência com a queda da tensão sexual entre os protagonistas graças ao casamento dos dois; e mais recentemente com Smallville. O autor destaca que as críticas sobre o quanto o herói é datado são injustas e geralmente associadas erroneamente à má recepção do público em relação a Superman – O Retorno.
Mas foi com a trilogia de Sam Raimi que os heróis entraram para o mainstream do cinema. Em Homem-Aranha tudo ia bem, com a valorização da vida civil de Peter, quase tão interessante quanto a rotina de super-herói — tudo emprestado do Ultimate Spiderman de Michael Bendis. O único erro, segundo Morrison, seria o Duende Verde de Williem Dafoe, que lembrava muito o fim de Jack Nicholson no Batman de Tim Burton. Homem Aranha 2 foi novelesco ao extremo, com o over-acting de Alfred Molina, mas foi o ápice enquanto o terceiro tornou-se um pastiche à la Joel Schumacher ao misturar a estética emo/gótica, nada condizente com o amigo da vizinhança. A Marvel trabalharia pouco depois com um remake mais rejuvenescido do Aranha, talvez para arrebatar o público da Saga Crepúsculo — o que se tornaria, à época, a nova franquia de Marc Webb, ainda a ser criada.
A série do Batman para o cinema, em 1943, trazia um herói realisticamente tosco que combatia vilões estrangeiros. O caráter xenófobo e o tom pueril não possuem meios de prender a atenção de um público mais seletivo como o atual. O único modo do Batman de Lewis Wilson amedrontar os vilões seria com a força que um demente tem de deixar os sãos em pânico. A série de 1949 era de um orçamento ainda mais barato. Robert Lowery fazia do seu Batman um Dean Martin nas últimas, enquanto o Robin de Johny Duncan lembrava um “michê” que já teve dias melhores. Mas a série trouxe elementos canônicos, como o Bat-Sinal e o Comissário Gordon (que se chamava Arnold). Era mais tosco ainda que a primeira versão, com ênfase no batmóvel, um conversível onde Bruce Wayne se trocava de forma espalhafatosa no banco de trás enquanto Robin dirigia, e, por conseguinte, havia a troca.
Em 66 surgia a versão burlesca de Adam West e Burt Ward. A era das televisões coloridas influenciou e muito na paleta de cores. O azul marinho tornava-se azul claro, os tons de cinza idem, o amarelo ficou chapado “lisérgico”. As roupas valorizavam o corpanzil de barril de West e continuavam pouco funcionais para as cenas de luta — que, por sua vez, pouco evoluíram desde os tempos da guerra. Para o grande público, o Batman austero e gótico do filme de Burton era uma novidade. O filme era notável graças ao Coringa de Nicholson, que emulava seus papéis de louco em Um Estranho no Ninho e O Iluminado, e também ao novo visual do morcego explicitando a preferência pelo visual “sadomaso”, com muito couro e muito preto. Na continuação de 1992 tudo era maior e mais grandioso, ainda que a sensação de claustrofobia se estendesse graças aos cenários cheios de becos de Gotham. Michelle Pfeiffer fazia a Mulher Gato definitiva, mas o diretor sairia da franquia para pegar seus caminhos autorais, e a entregaria a Joel Schumacher. Bob Kane declarou na época que a atuação de Val Kilmer era a que mais lembrava o conceito original do Batman. O resto do elenco era bastante famoso, com Tommy Lee Jones e seu duas caras imitando um Coringa do Nicholson sem dualidade, enquanto Jim Carrey fazia uma amálgama entre Frank Gorshin e O Pentelho. A abordagem de desenho animado em live-action com cores gritantes já se provou errada em Dick Tracy — com clara referência de Warren Beatty à sua namorada da época, uma deliciosa Madonna —, sem falar, é claro, do uso de mamilos na armadura e dos closes na bunda e nas partes íntimas.
O último filme dos anos 90 transformaria a franquia Batman, antes rentável, em “cocô de gato radioativo”. As entrelinhas homossexuais denunciadas por Fredric Wertham reconquistaram notoriedade e espaço. O morcego na roupa de Clooney “soltou-se de sua oval cerceante e tornou-se imenso, esvaindo as asas de ombro a ombro e banhado em prata“. O Batman sai das sombras para ir para as luzes estreboscópicas e dançando Village People. Era design puro, como a estética sem conteúdo dos anos 1990. A quantidade de gags e veículos davam ao filme um ar de miscelânea. Para piorar, Mister Freeze de Arnold Schwarzenegger era o bobo alegre e rei dos trocadilhos, diferente demais da boa interpretação de Bruce Timm na série animada do Batman.
Batman Begins traz uma repaginação do Morcego, utilizando-se das influências do Universo Ultimate da Marvel quanto à ambientação, e de Alan Moore em relação ao tom adulto das histórias. Pela primeira vez nas telas, o uniforme era funcional e cada parte dele servia a um propósito. Em TDK o herói voltou à popularidade, muito graças ao vilão. O Coringa de Ledger era diferente do insano inofensivo de Cesar Romero e do artista pop pervertido de Nicholson, pois era uma “força da natureza maléfica, personificação do caos e da anarquia”, que mente o filme todo dizendo não ter planos, ainda que toda a trama seja envolvida por suas maluquices e traquinagens. A persona de Harvey Dent também foi muito bem representada por Aaron Eckhart, que começou como o Cavaleiro Branco e, depois, levado ao inferno e à loucura pelo Coringa, passando a usar o acaso como fonte de corrupção e correção, mostrando a dualidade até em seus atos maus.
O Onze de Setembro transcendeu a barreira do real e invadiu o imaginário, obrigando os quadrinhos a se readequarem à atualidade. A Marvel resolveu, até por patriotismo, inserir o atentado no presente do seu universo fantástico, mostrando o grupo Al Qaeda mais poderoso do que Magneto, Doutor Destino etc, além de transformar a onipotência dos heróis coloridos em uma incômoda impotência diante de uma das piores tragédias da história estadunidense.
Muito graças a essa catástrofe — e à onda de explicações pseudo-científicas para o universo dos “super-homens” — a Marvel traz à luz o Universo Ultimate, uma tentativa nem sempre vitoriosa de recontar seus momentos clássicos. De Homem Aranha Millenium surgiria Brian Bendis, que tinha em seus diálogos realistas e atuais o seu ponto forte. Aos poucos, Bendis torna-se o principal roteirista da Casa das Ideias, evocando suas referências literárias pautadas não em Stan Lee, mas no dramaturgo David Mamet, em quem se inspirava para criar seu próprio estilo narrativo.
Os Supremos de Hitch/Millar se valiam da influência de Authority para fazer o esquadrão americano símbolo da “Era W Bush“: pouco afeitos a amenidades, belicistas, faceiros e fanfarrões — a fala do Capitão América é uma piada que representa tudo isso: “você vê um F de França na minha cabeça?”. Morrison começa a trabalhar em 7 Soldados da Vitória mesmo sem contrato para mais tarde voltar para a DC. Roteiristas de cinema embarcariam nas páginas das comics, mas poucos tiveram longevidade como Joss Whedon, que fez uma boa sequência em Astonishing X-Men e Mulher Maravilha.
Uma nova idealização dos vilões mudou. Nos anos 40, o lugar comum eram opositores anti-nacionalistas (EUA no caso), e, na época, os inimigos tornaram-se carismáticos, rivalizando em popularidade até com heróis, citando O Procurado de Millar e J. G. Jones. Morrison fala um pouco sobre o seu Seaguy demonstrando um estado distópico num futuro pouco distante, com cores chapadas como embalagens de balas, e registra um herói num mundo que não precisa mais de heróis. “O que aconteceria se o vácuo da página se rebelasse contra a qualidade do material que lhe era imposto e decidisse reagir gerando espontaneamente um conceito vivo, capaz de devorar a própria narrativa?” — essa foi a definição do autor sobre sua controversa mega-saga Crise Final. O autor não discorre sobre os problemas editoriais que sofreu ao realizar o evento, talvez até pelos vínculos contratuais junto a DC.
Morrison volta a falar de filmes, destaca Demolidor como uma boa ambientação, mas que peca nos estilos de luta — igualmente espalhafatosa para todos os personagens. Fala também sobre A Liga Extraordinária e guarda as críticas à “bombástica” produção, graças à amizade com a esposa do produtor Don Murphy — no entanto, relembra a aposentadoria de Sean Connery e conjectura teorias sobre o motivo que o fez se retirar das produções cinematográficas. Cita por alto O Hulk de Ang Lee e sua tentativa de fazer um filme que levasse o mito do gigante esmeralda à temática adulta, além de falar sobre Incrível Hulk e sua luta contra o Abominável — fora isso, nada mais comenta sobre a fita. Destaca Os Incríveis de Brad Bird como um expoente positivíssimo que toma emprestados conceitos de Miracleman e Quarteto Fantástico (que tiveram, inclusive, dois filmes nos anos 2000). Morrison fala brevemente dos fracos, segundo ele, Minha SuperEx- Namorada, Hancock, para então destacar Homem de Ferro como a maior surpresa da Marvel. O autor acredita que Watchmen de Snyder foi subestimado pelo público — assim com o seriado Heroes — , e dá grande atenção para os filmes de Mark Millar: O Procurado e Kick Ass, destacando a série cômica de TV No Heroics, que faz alusão reverencial a sua obra e a de Ellis.
As grandes sagas eram da voga da primeira década do novo século. Em Crise de Identidade, a morte da inocência recebia uma versão pós-Watchmen, com o fim do espírito da era de prata no universo DC tradicional. Morrison destaca a arte de Rags Morales — com quem viria a trabalhar no reboot à frente da nova Action Comics —, explicitando a especialidade do artista em mostrar os heróis no limite de suas forças: desenhados com suor, chorando, emasculados, carentes e paranoicos, às vezes tudo ao mesmo tempo. Crise Infinita, para ele, era densa e arcana, uma mistura de guia e quadrinho que animava e confortava o público central da DC Comics. Geoff Johns esteve bem alinhado com as sensibilidades precisas dos fanboys da editora e sabia quando fazer as caracterizações com as quais eles seriam familiares, e quando era preciso acrescentar elementos chocantes ou novidades.
Em 2007, a DC lançou 52, co-escrita pelos quatro maiores roteiristas da editora na época: Johns, Greg Rucka, Mark Waid e ele, e publicada em 52 semanas que se passavam em tempo real. A Marvel também embarcou na tendência, apresentando, após Guerra Civil, a “morna” Dinastia M, e Invasão Secreta, que tencionava repetir os clichês de Battlestar Galactica, relacionando os vilões Kree/Skrulls aos muçulmanos. Seguido a estas, Reinado Sombrio era interessante graças ao estudo de personalidade de Norman Osborn, e após, Michael Bendis se mostraria indispensável novamente com O Cerco (Siege, no original).
Morrison fala novamente de Crise Final e da responsabilidade de seguir após a saga de Geoff Johns, mas, em paralelo, comenta Batman Rip e a diversão em brincar com o arquétipo de Bruce Wayne e jogá-lo na sarjeta do vórtex temporal. Logo depois, comenta o que, a seu ver, era uma reinvenção do seriado de 66: Batman sendo Dick Grayson, o Robin Original como um herói mais jovem e relaxado, enquanto o papel de garoto prodígio caía sobre Damian, criado por assassinos até tornar-se um rapaz carrancudo e mimado. A dupla dinâmica inverteu-se, Batman era alegre e Robin soturno, o que causou em muitos leitores a reclamação pelo Retorno de Bruce Wayne, e nas séries subsequentes: Batman: O Retorno e Corporação Batman. Alguns fãs reclamavam de “fadiga do evento”, mas as vendas continuavam de vento em popa.
Sobre o seu trabalho com músicos, destaca o clipe da banda emo My Chemical Romance, lembrando o trabalho quadrinístico de Gerard Way, vocalista, com o brasileiro Gabriel Bá em Umbrella Academy: ” um grupo de crianças renegadas preparadas para serem os maiores super-heróis do mundo. Era a história de sua banda (…) e a minha também, uma premonição do nosso destino.”
Os super-heróis ocuparam o lugar no imaginário popular, antes cabível aos deuses — e ele tem certa razão nisso —, mas na contemporaneidade desceram à Terra e tornaram-se figuras em carne e osso, como Kick-Ass e Crimson Bolt (de Super), influenciando o mundo tangível, fazendo até Barack Obama declarar que nasceu em Krypton.
O autor fala da sua ideia de revitalizar o Superman, com Superman Now, e relata emocionadamente os últimos momentos de Walter Morrison, seu falecido pai, de quem tirou as ideias para Superman All Star. A história viria entre os motivos citados anteriormente para combater a batida fórmula de “heróis fodões enlatados e medianos”, além de fazer valer os elementos presentes em Superdeuses.
Superdeuses funciona melhor como livro de consulta, embora também seja uma competente literatura histórica e catalográfica das hqs de heróis e das comics. A ideia, que antes era apenas compilar as entrevistas do escocês sobre os super-heróis, tomou 15 meses de sua vida — uma eternidade para um roteirista de quadrinhos — e o dobro de páginas planejadas, mas segundo o escritor, valeu todo o esforço. Nos agradecimentos ele destaca os muitos artistas que teve de deixar de fora e que triplicariam o número de paginas caso fossem citados, o que demonstra que seu manuscrito, apesar de completo, não é definitivo. As últimas palavras do autor se referem a Action Comics Um junto a Rags Morales. No índice de leituras sugeridas ele diz que não indicará nenhuma leitura de seus próprios trabalhos por achar um ato oportunista demais, mas faz menção a, pelo menos, cinco de seus trabalhos, mostrando uma faceta narcísica/cômica enorme.