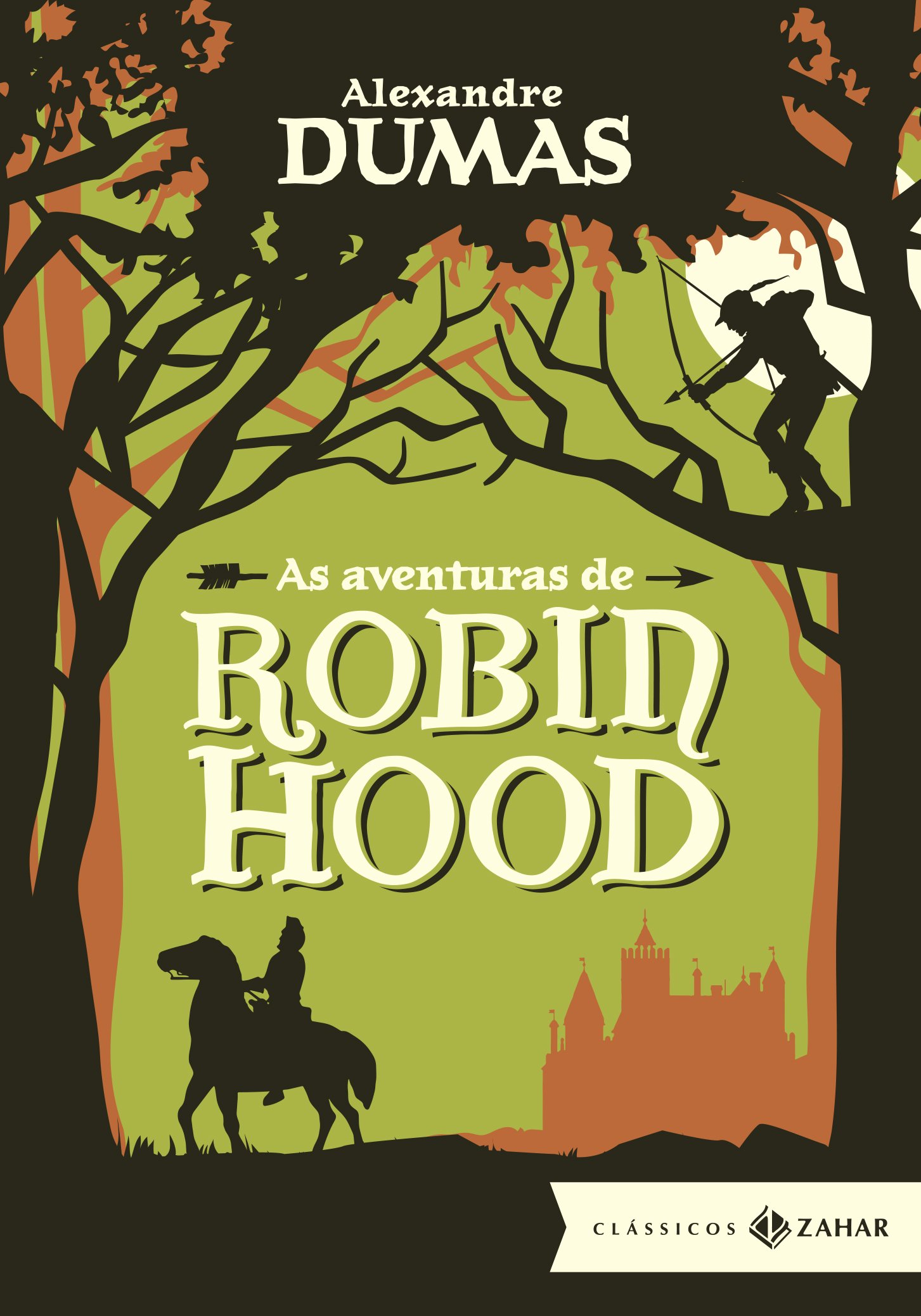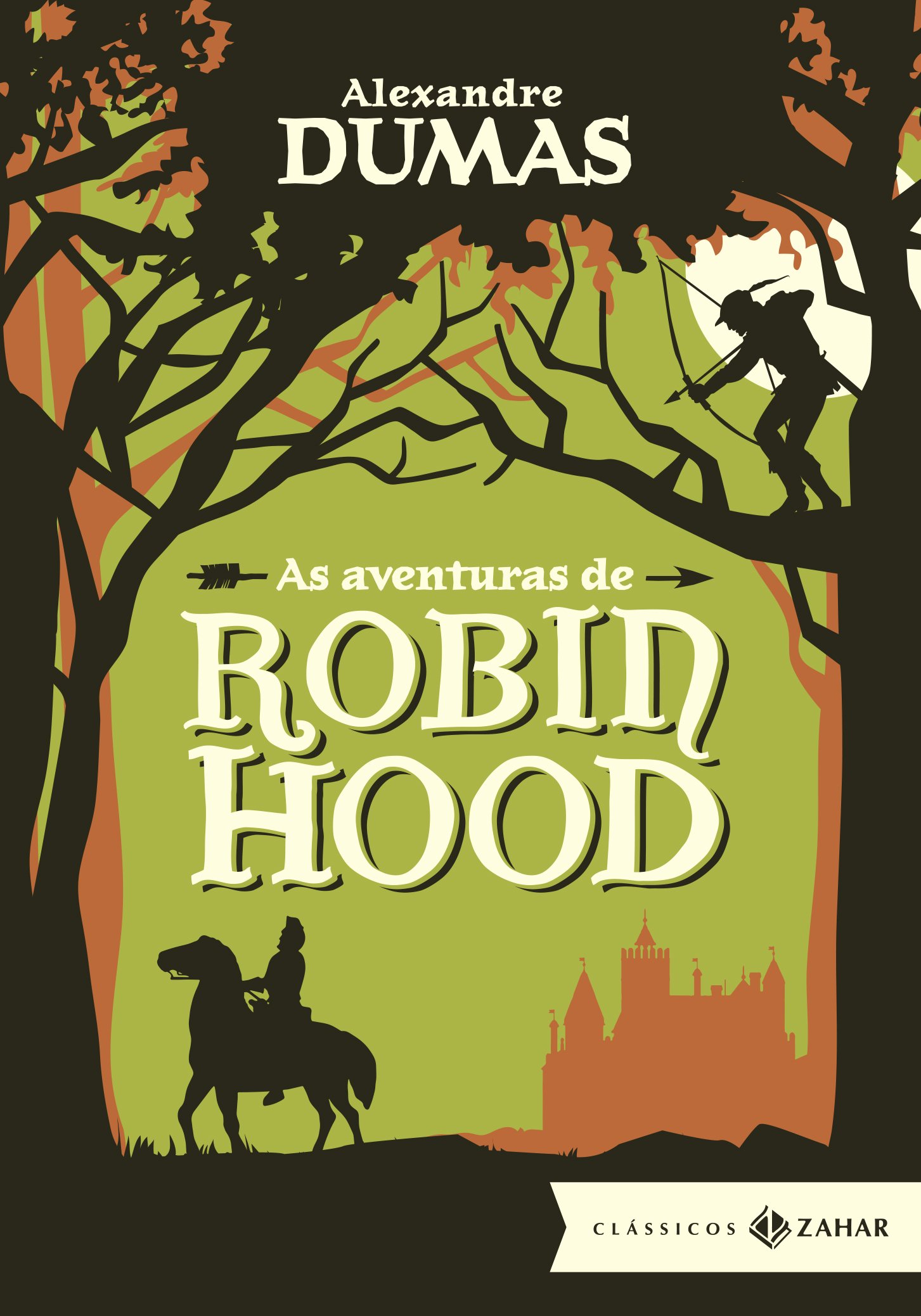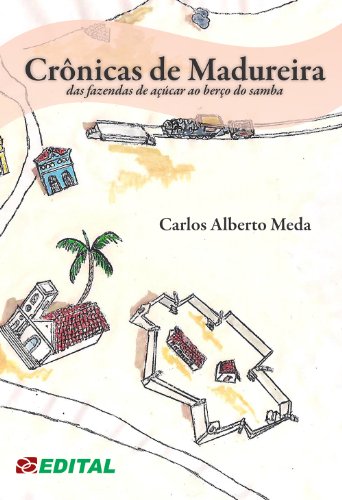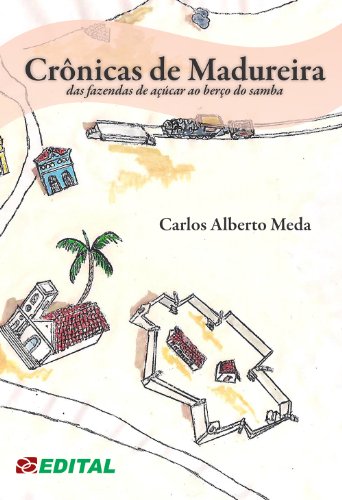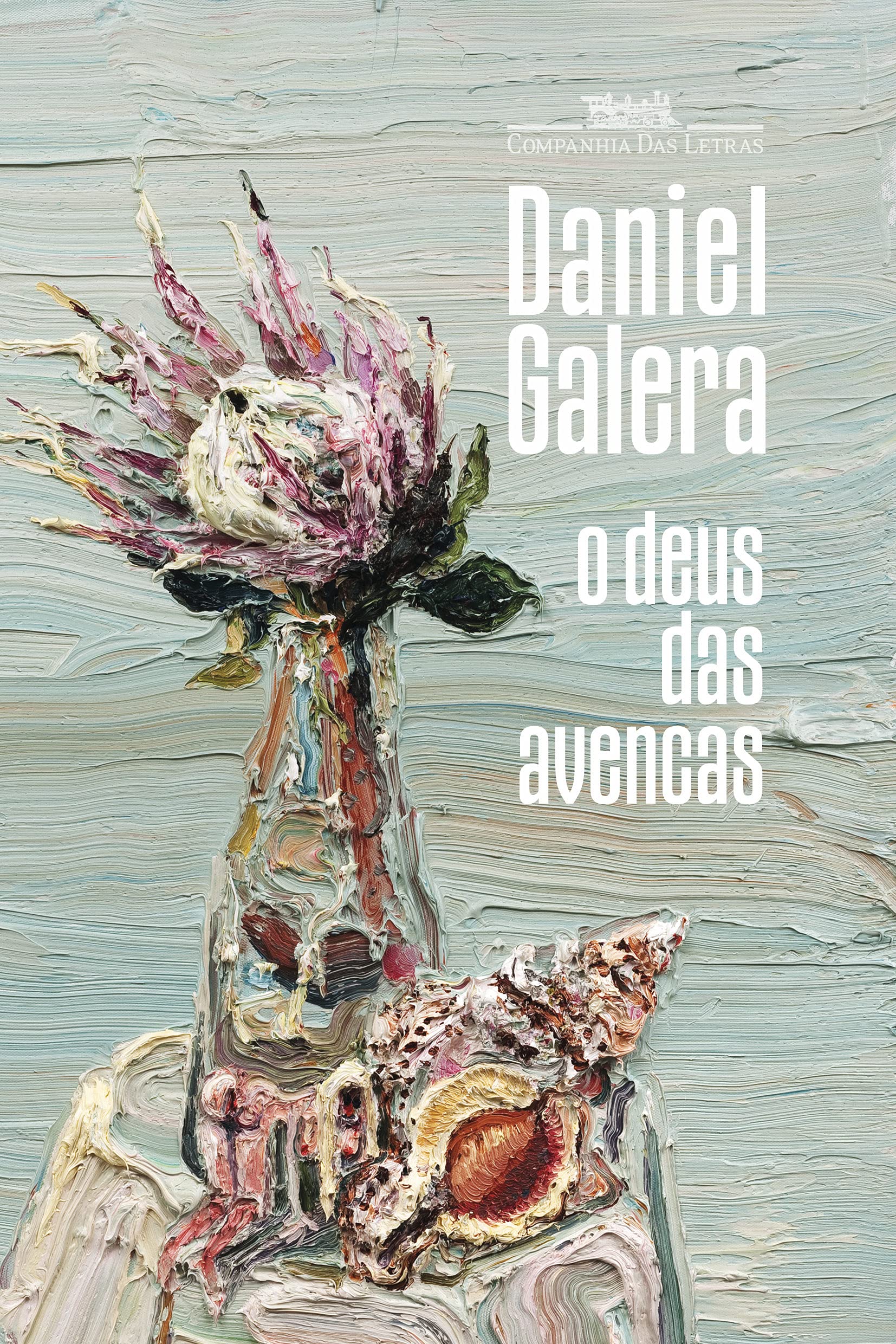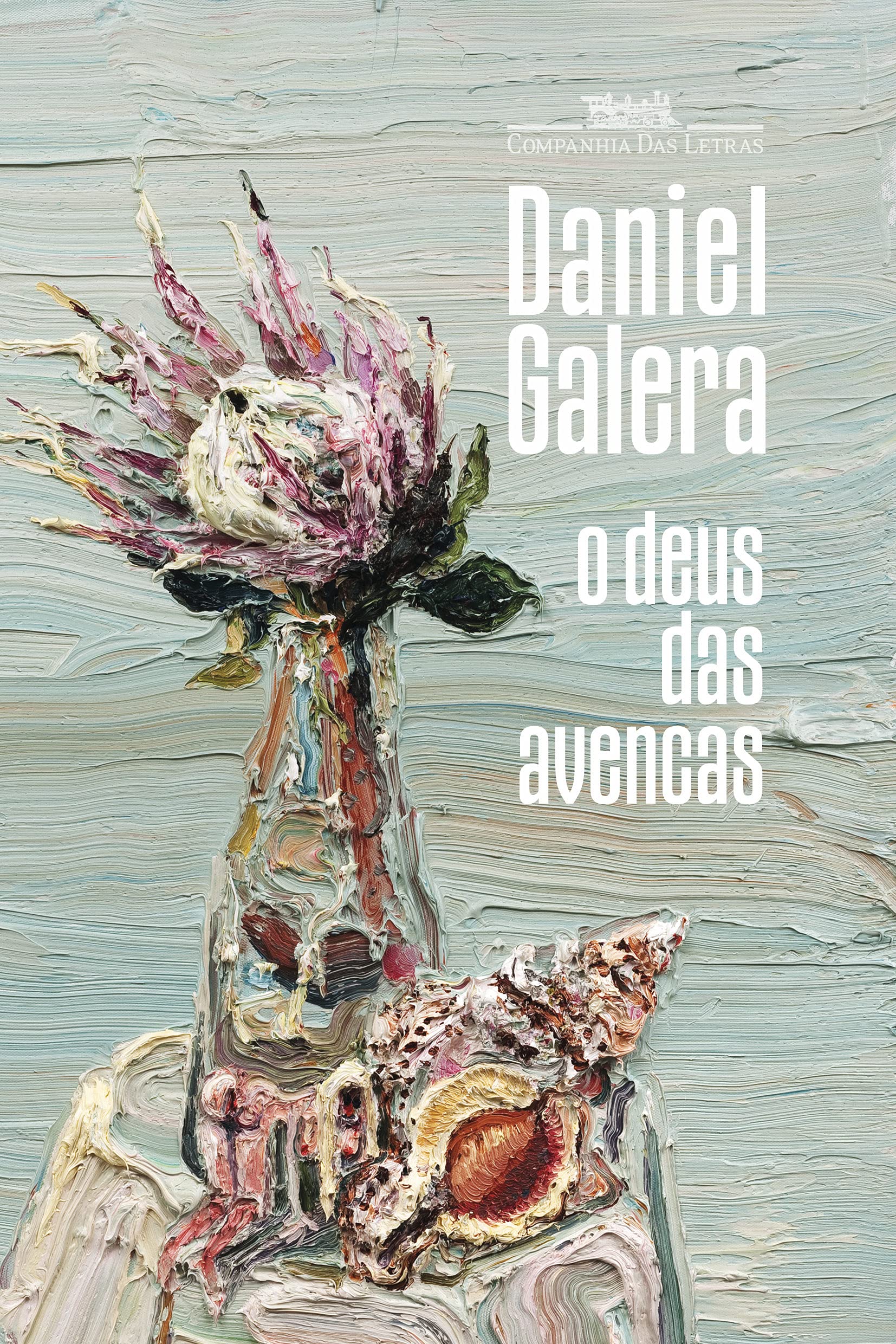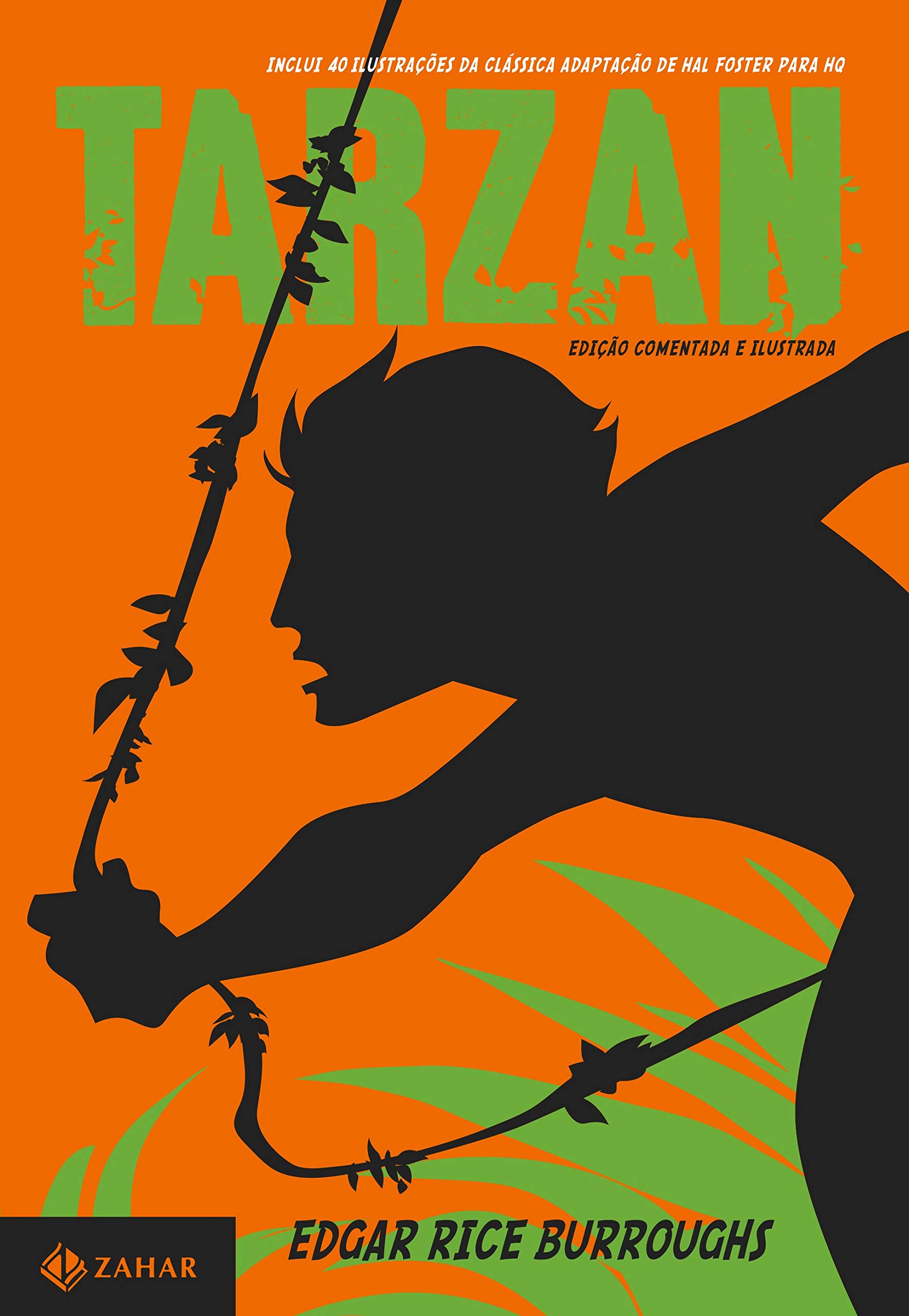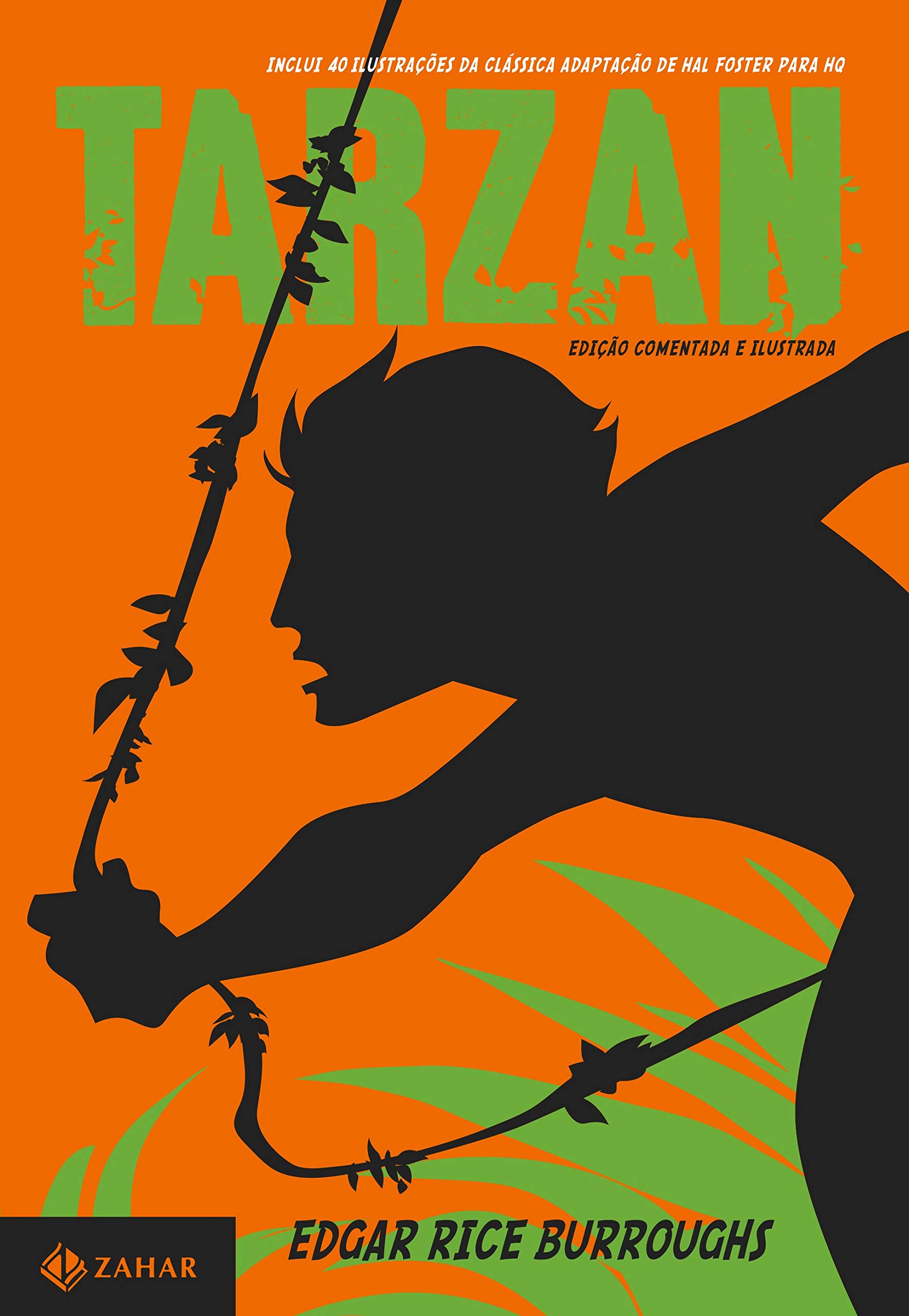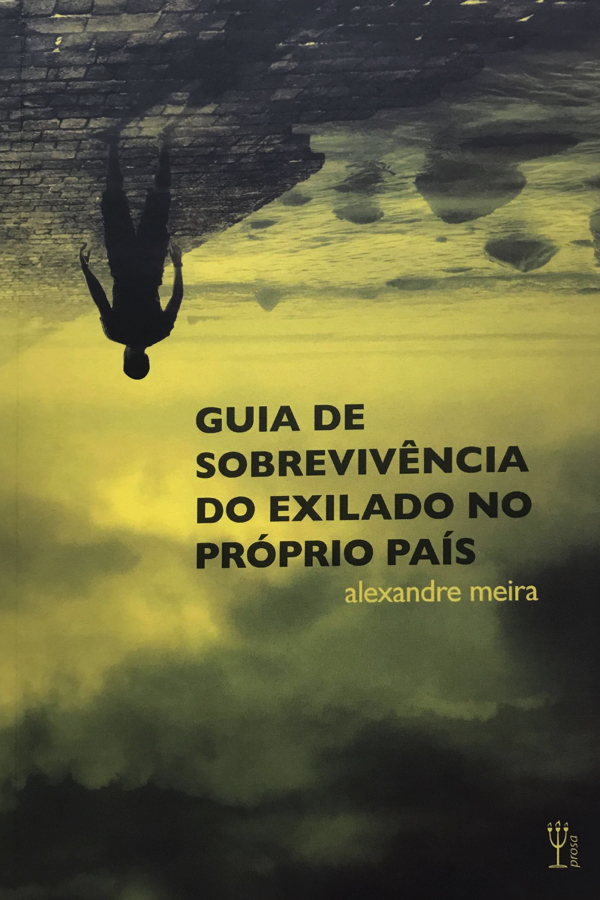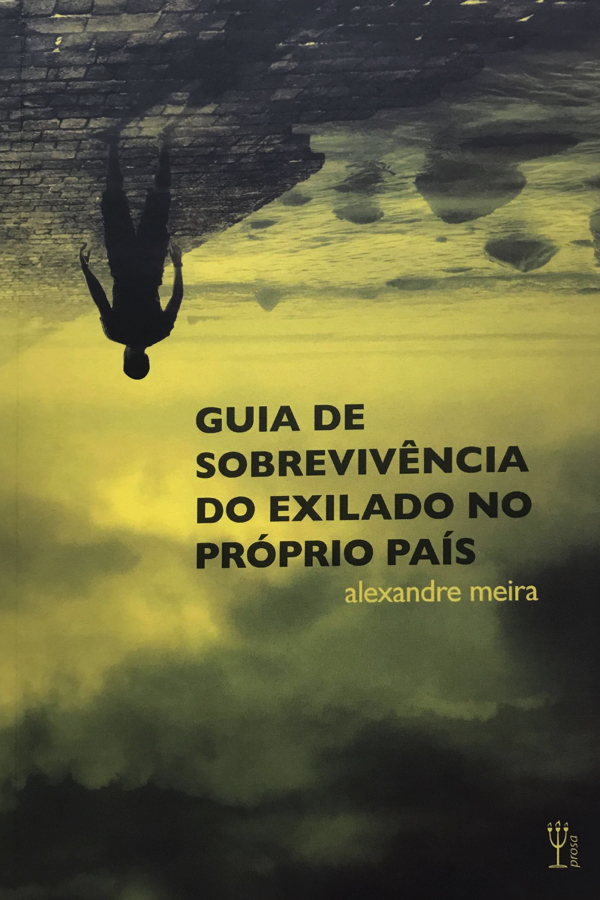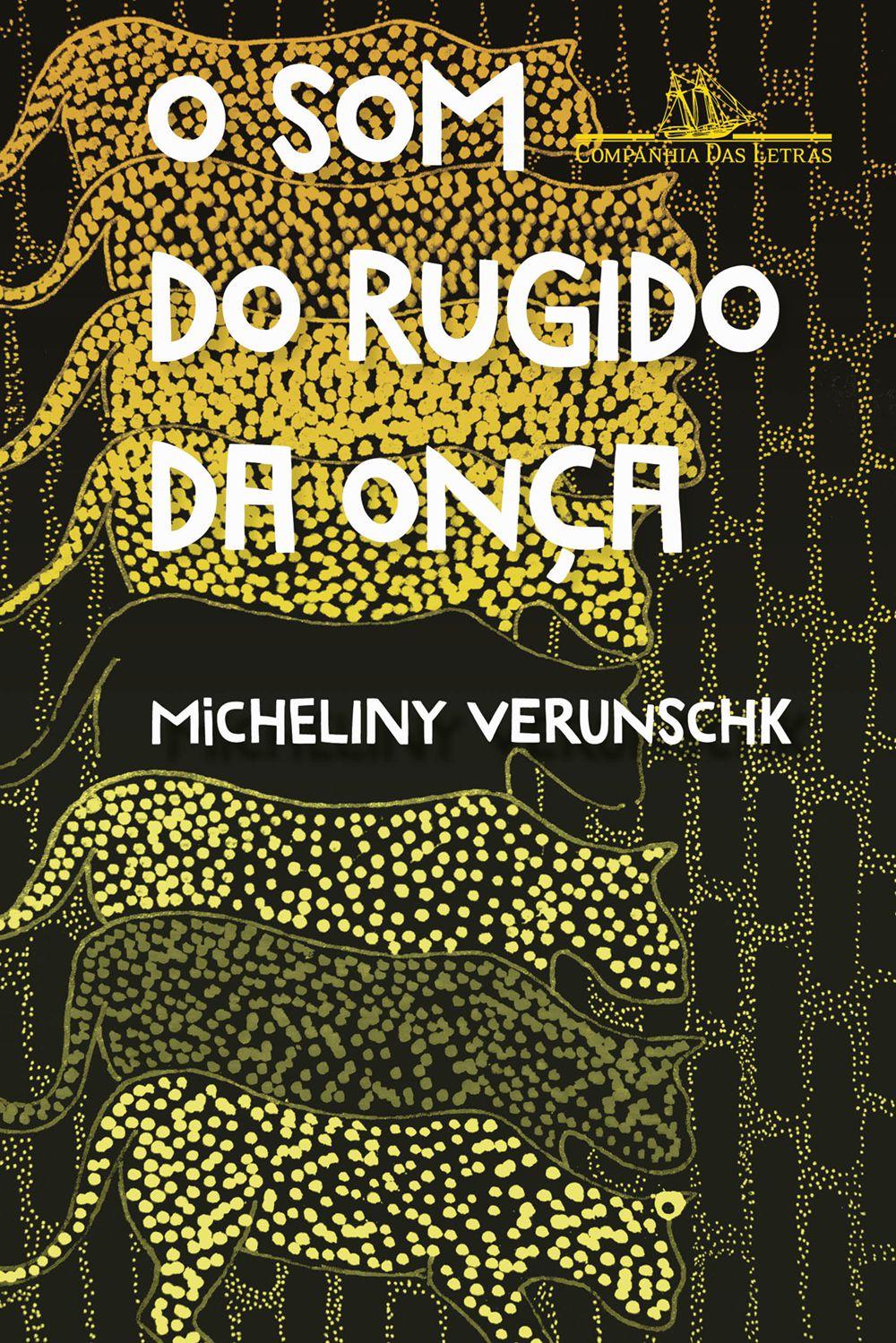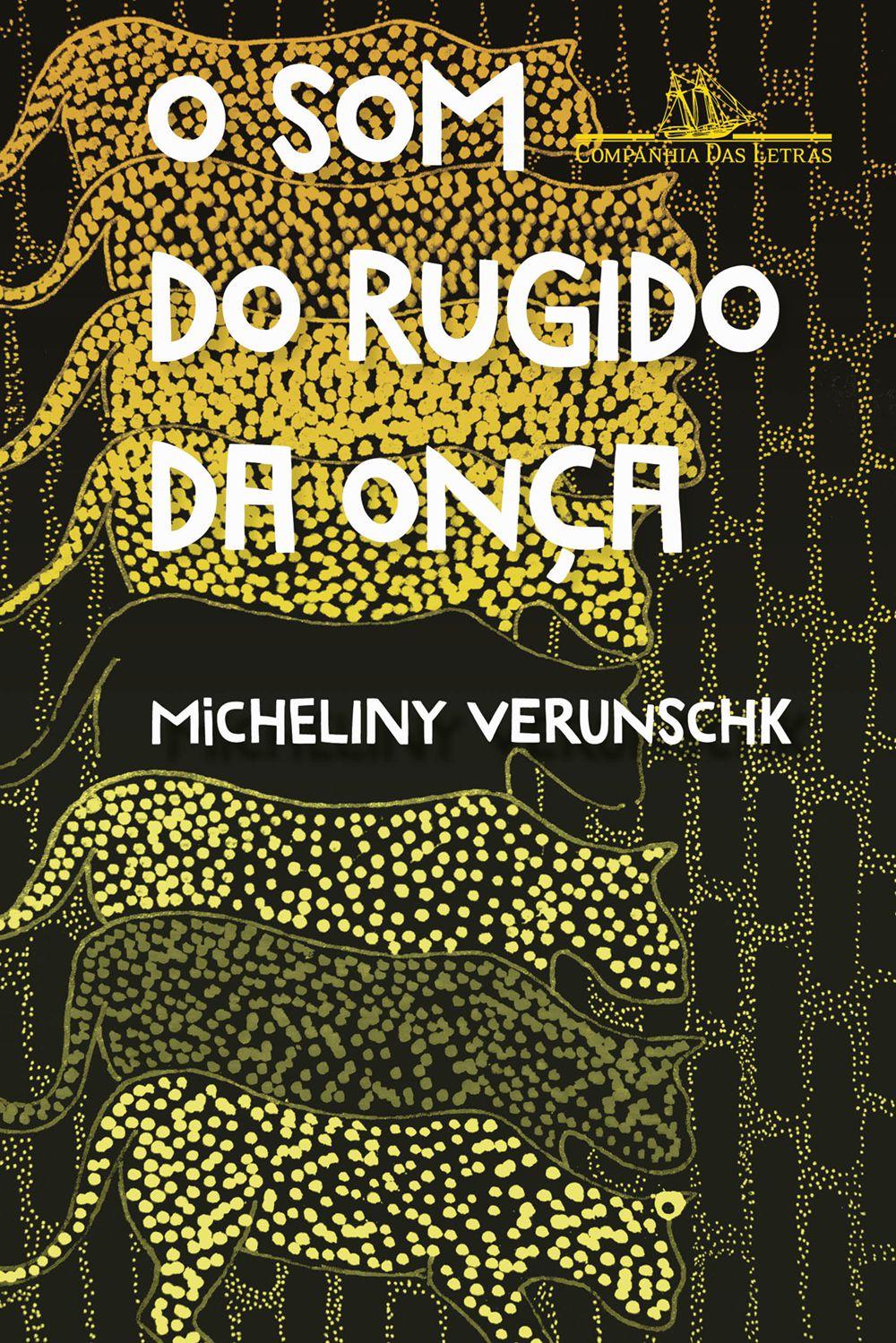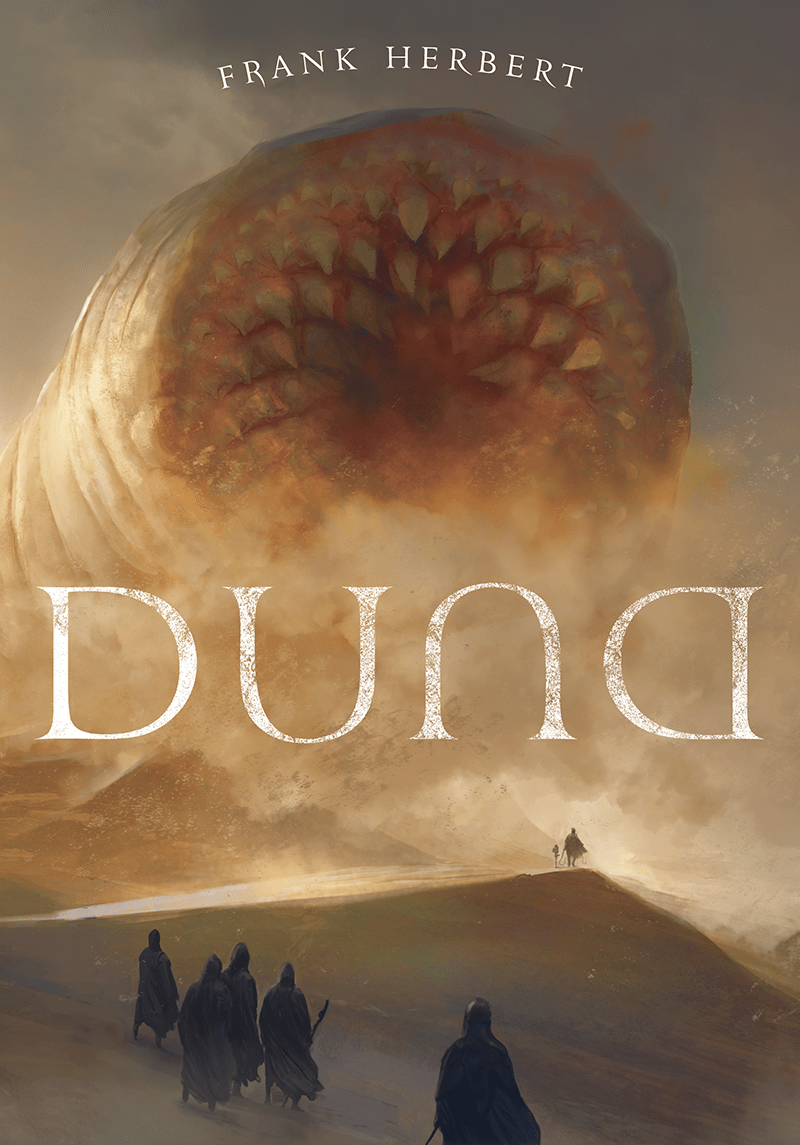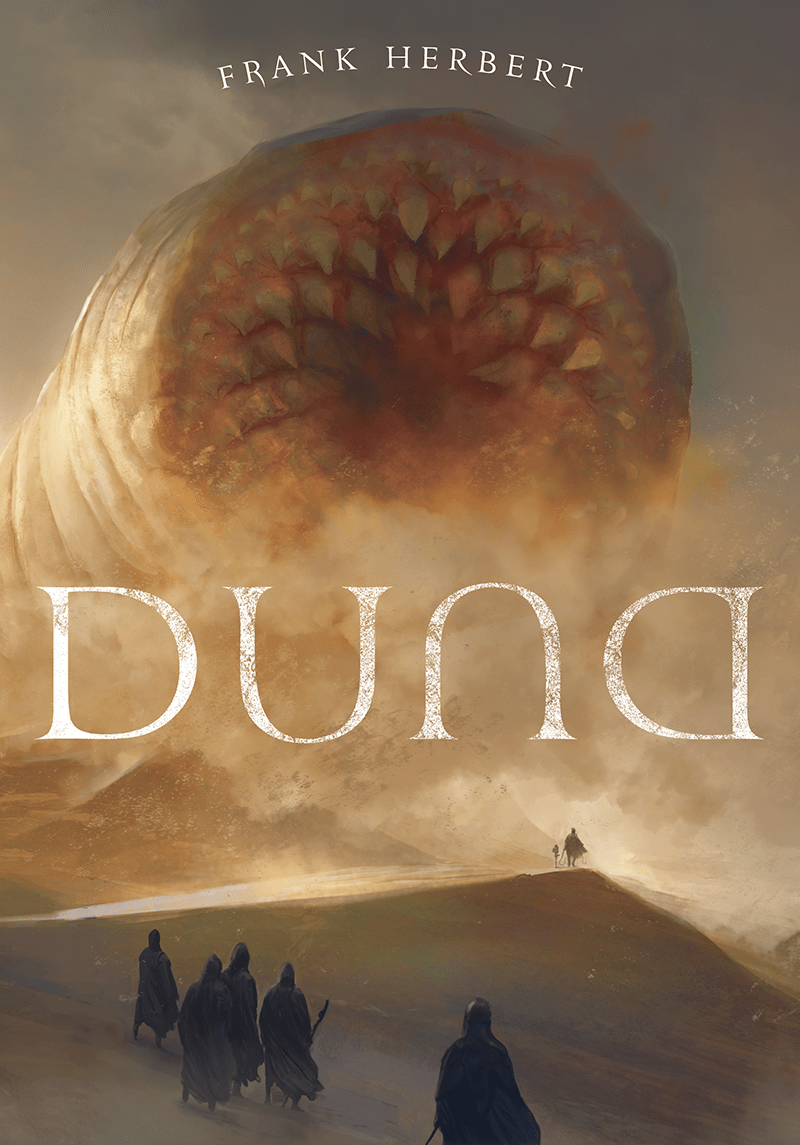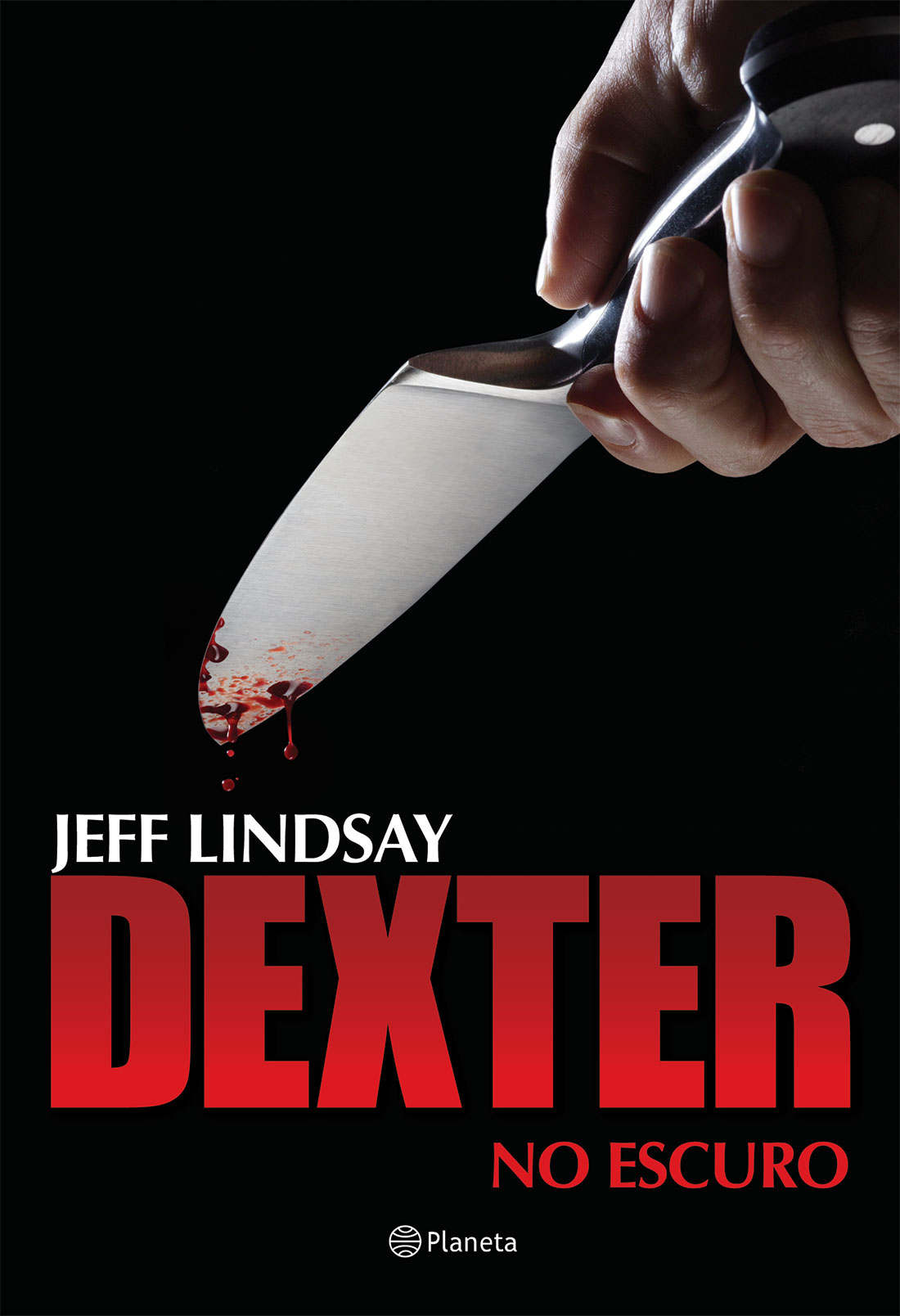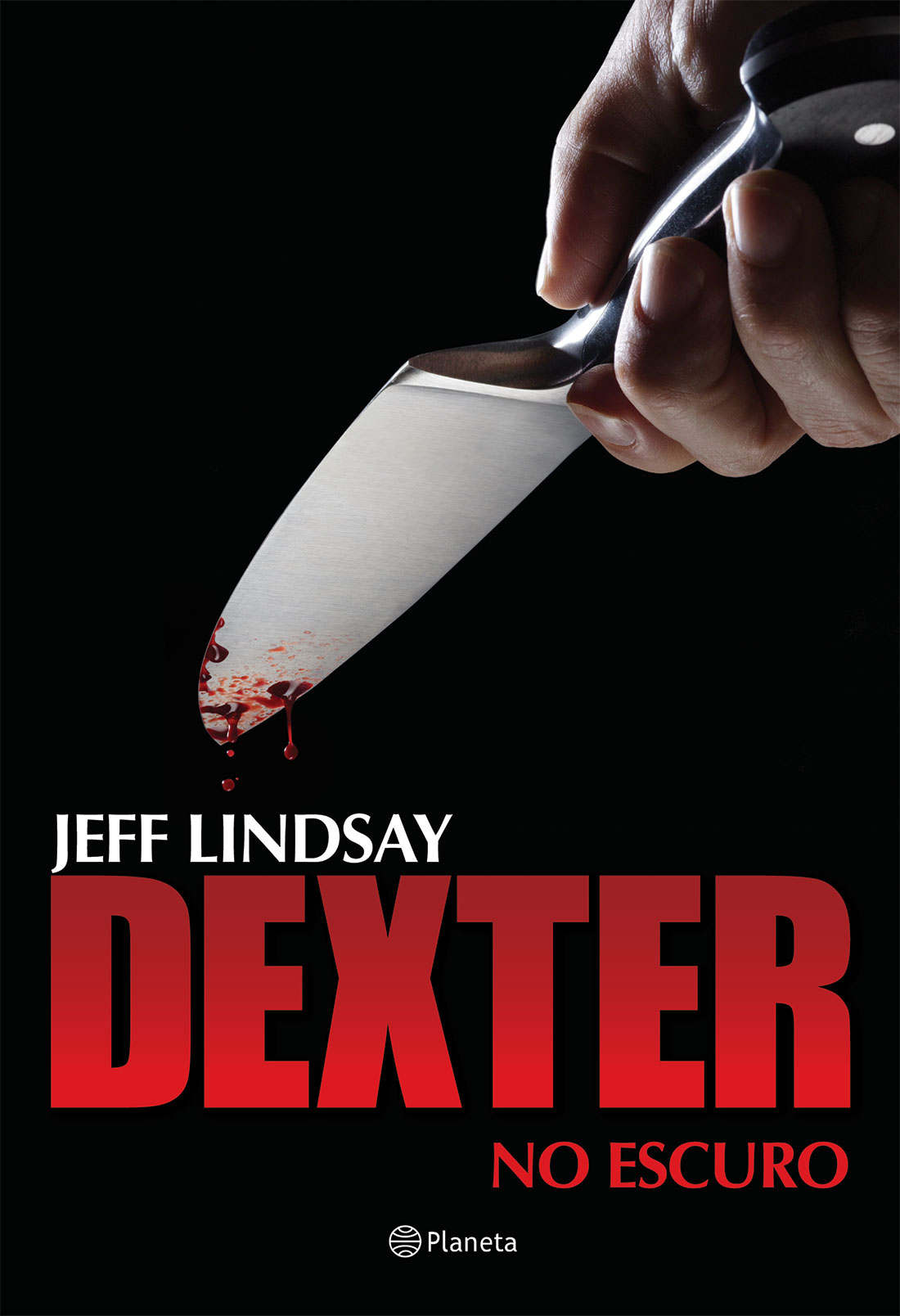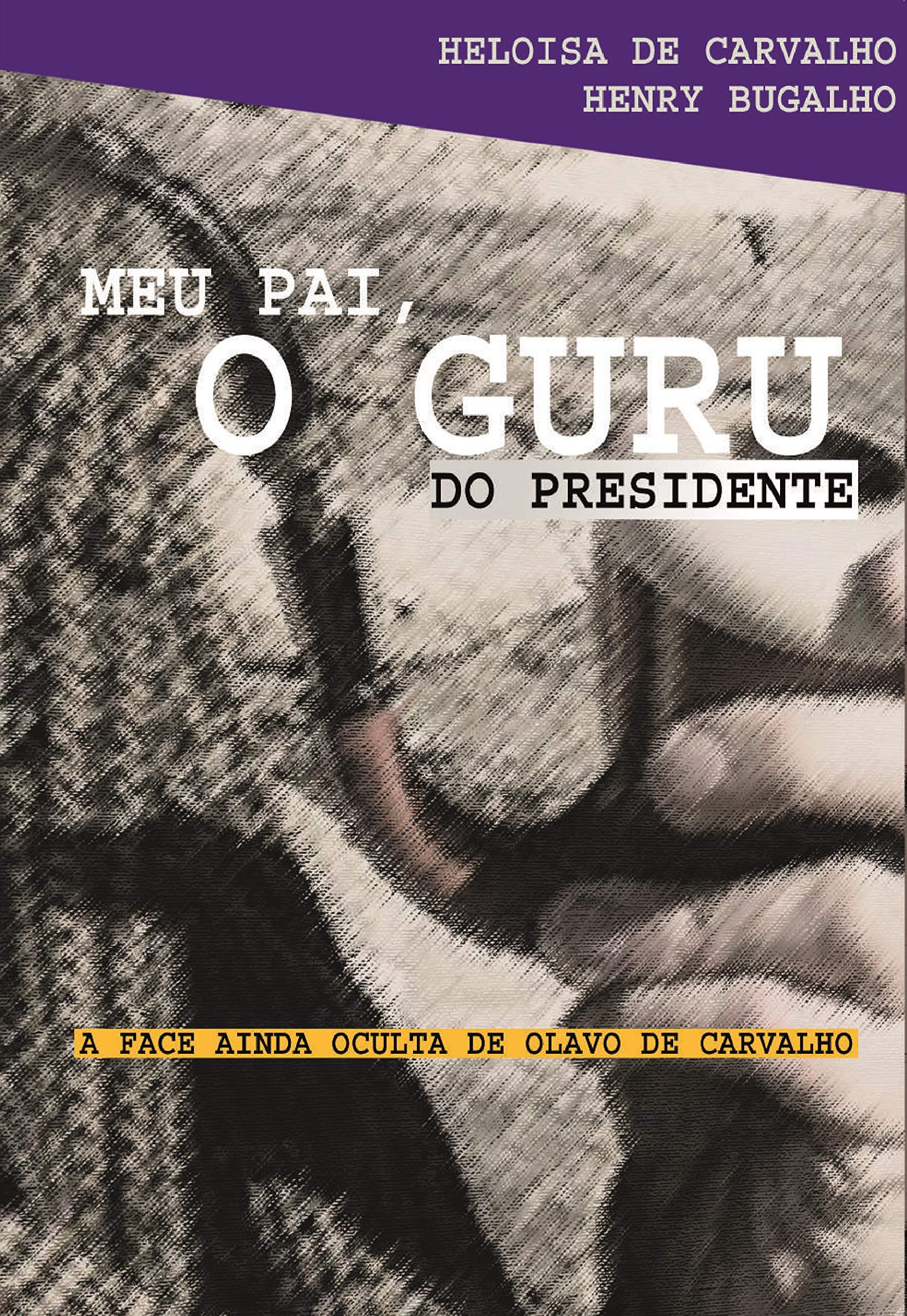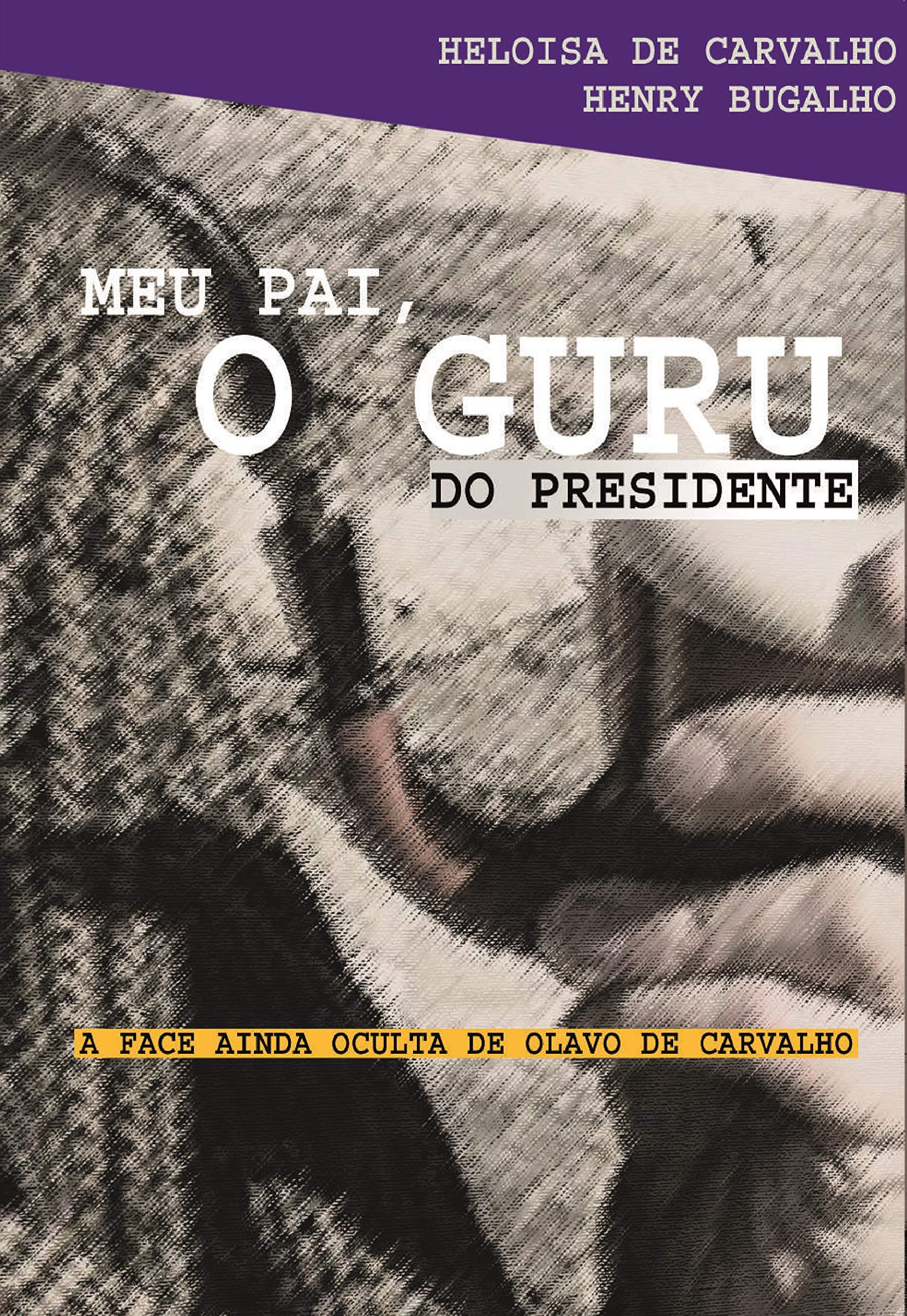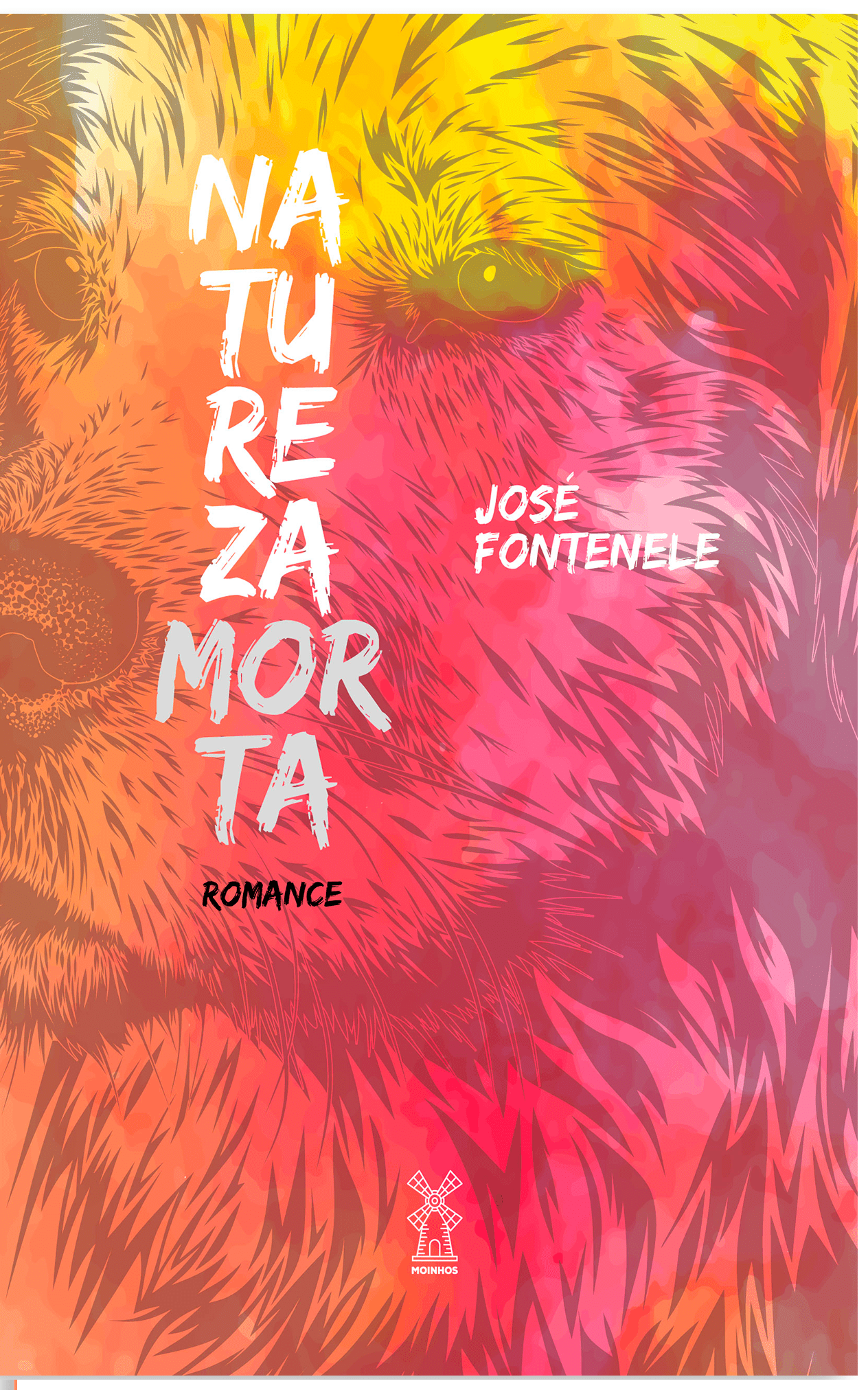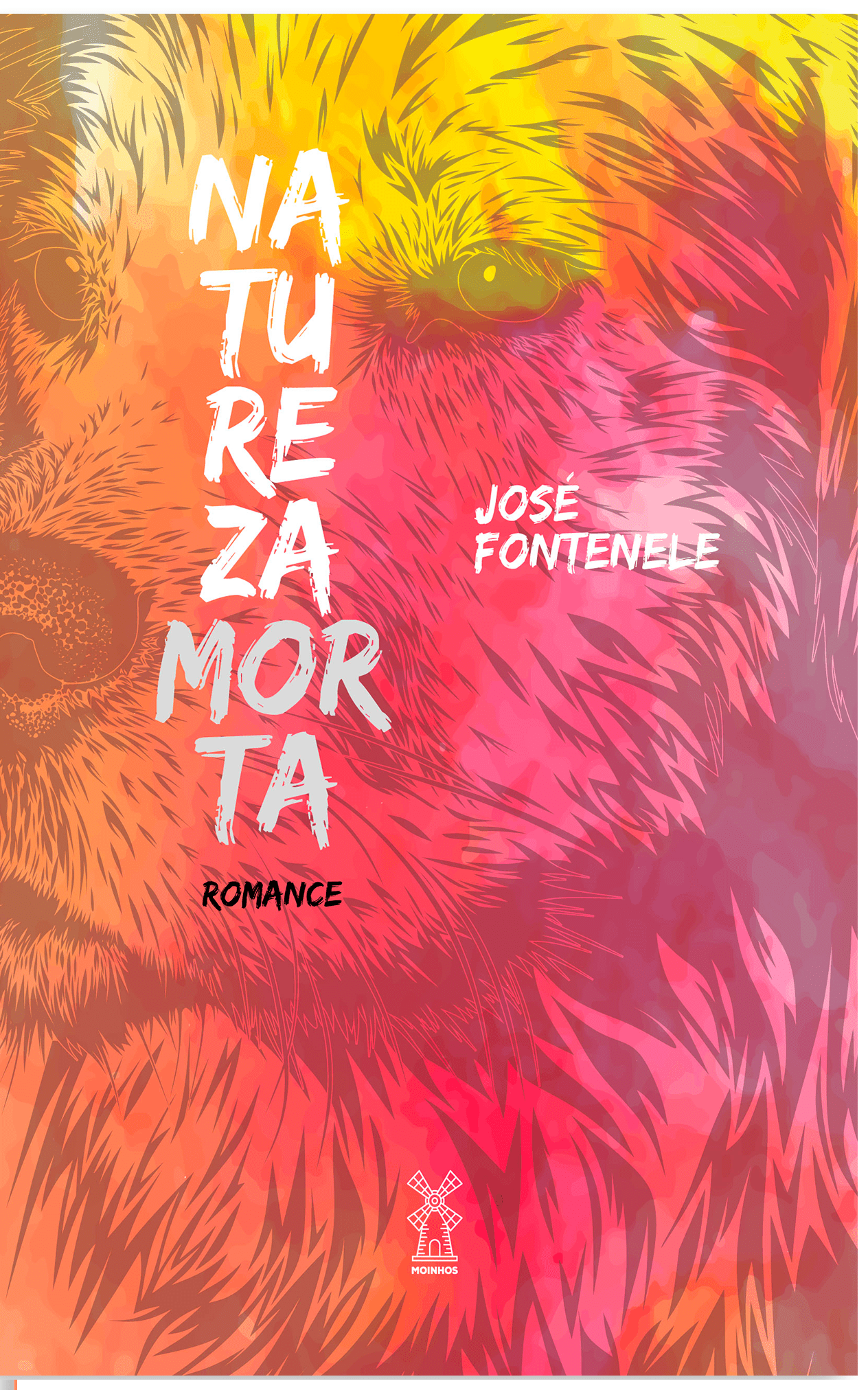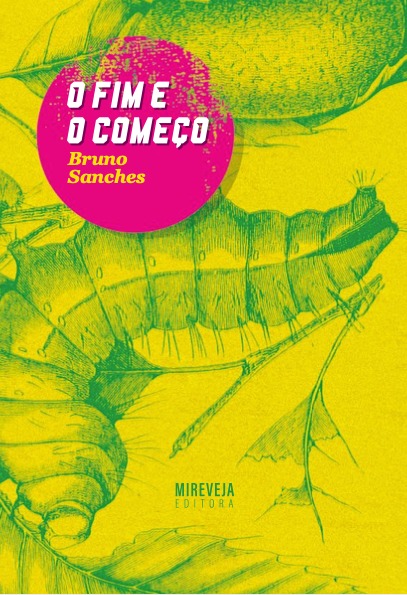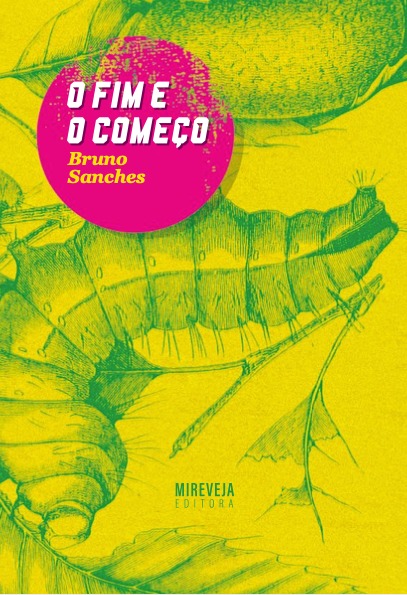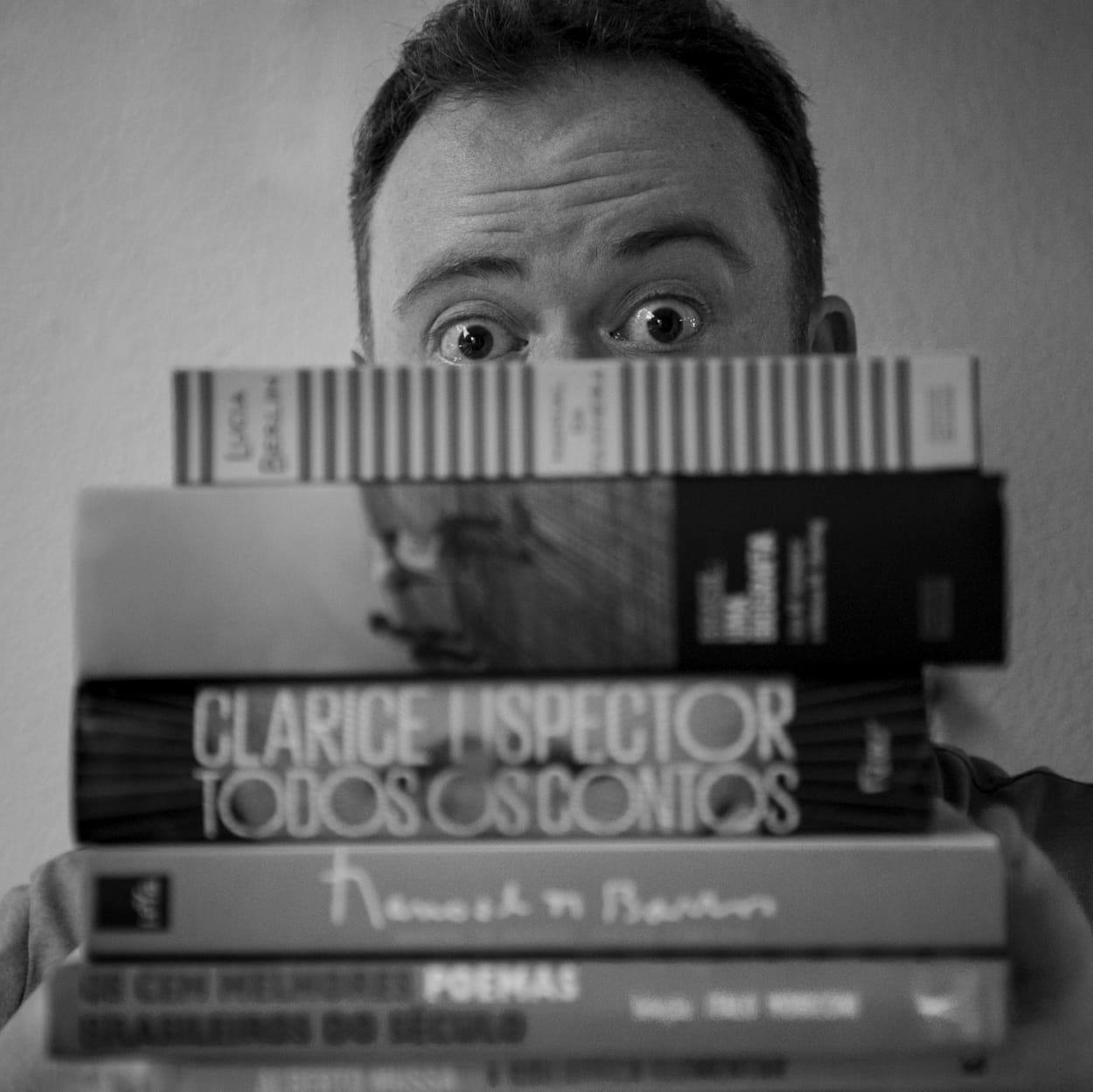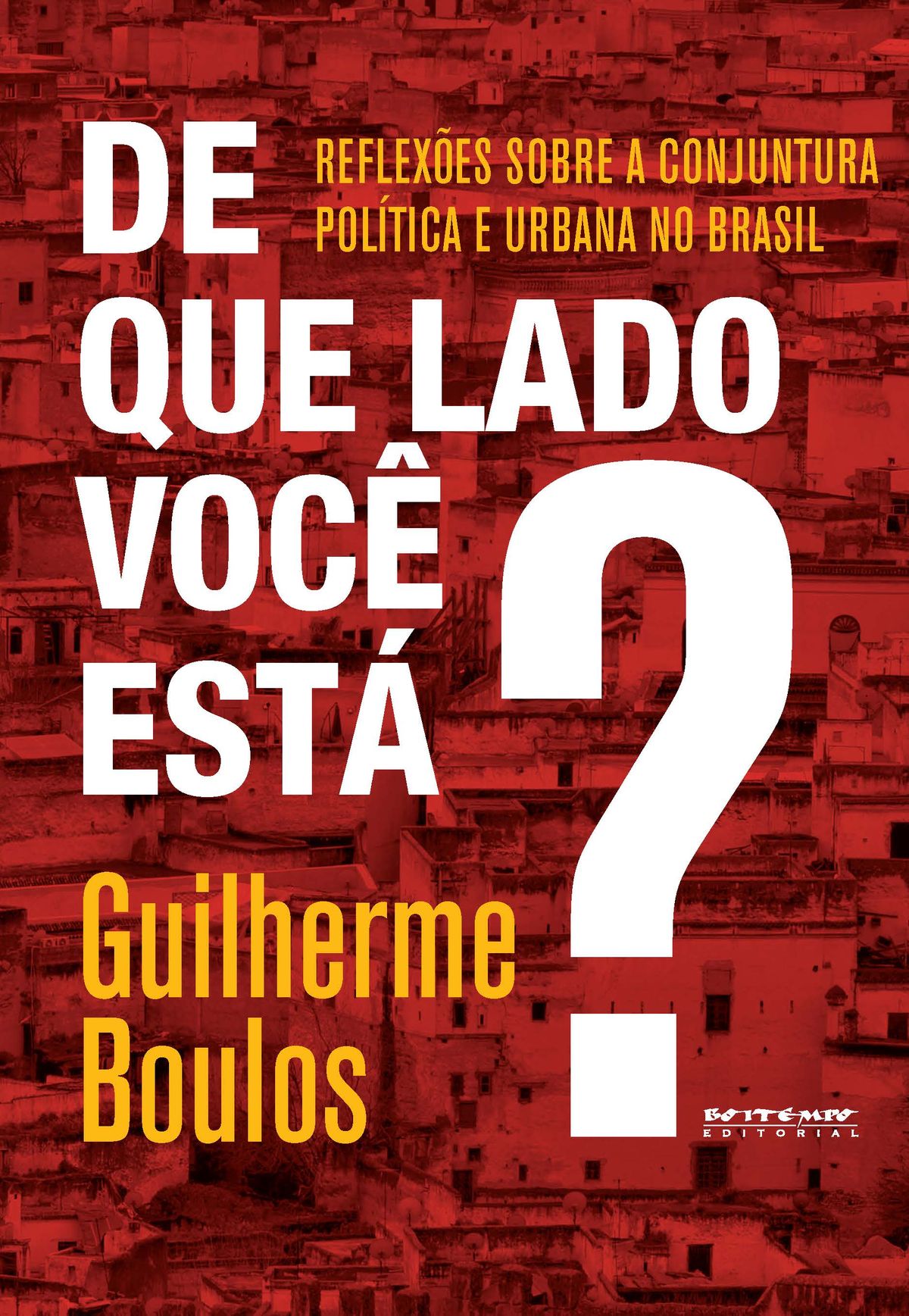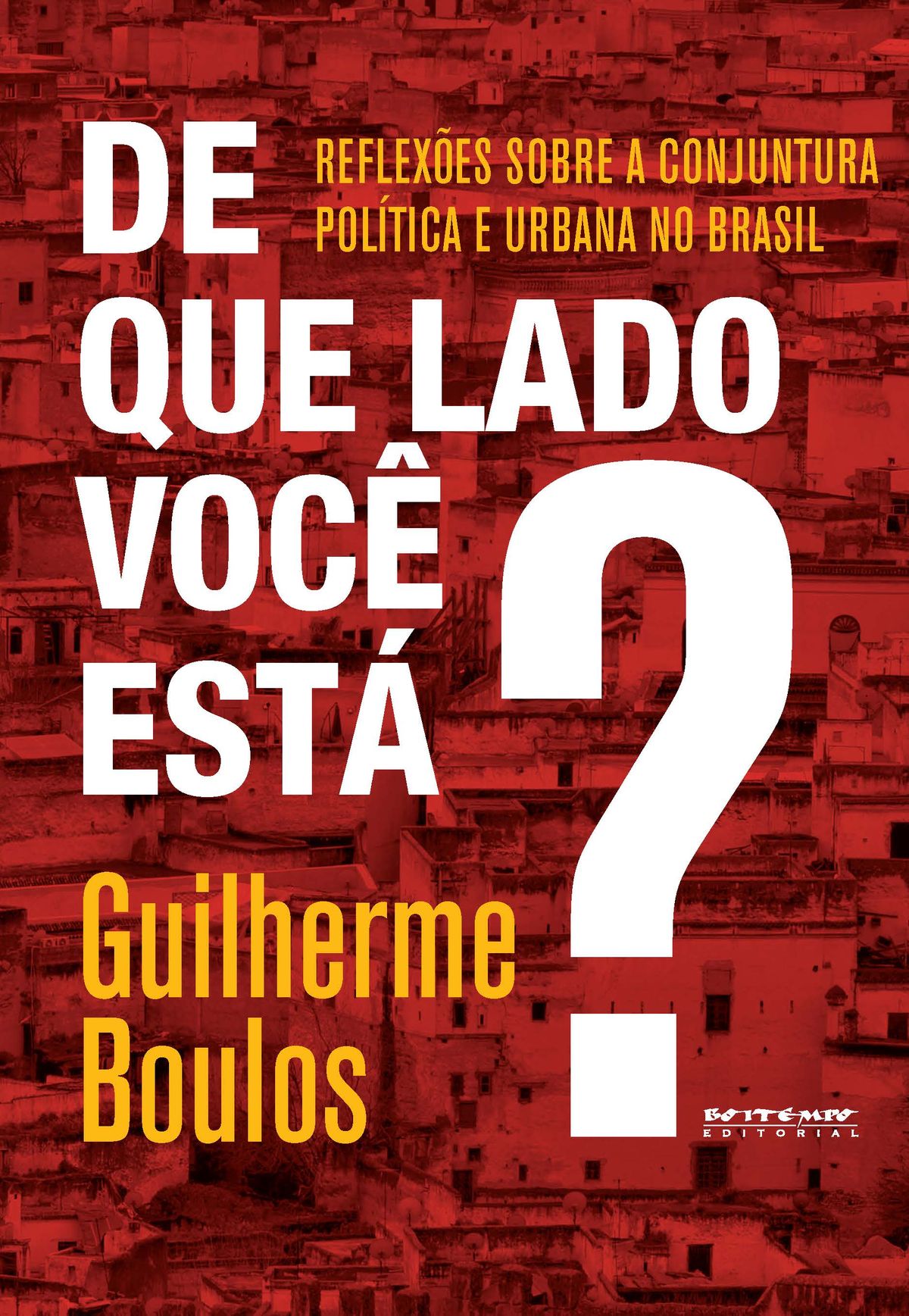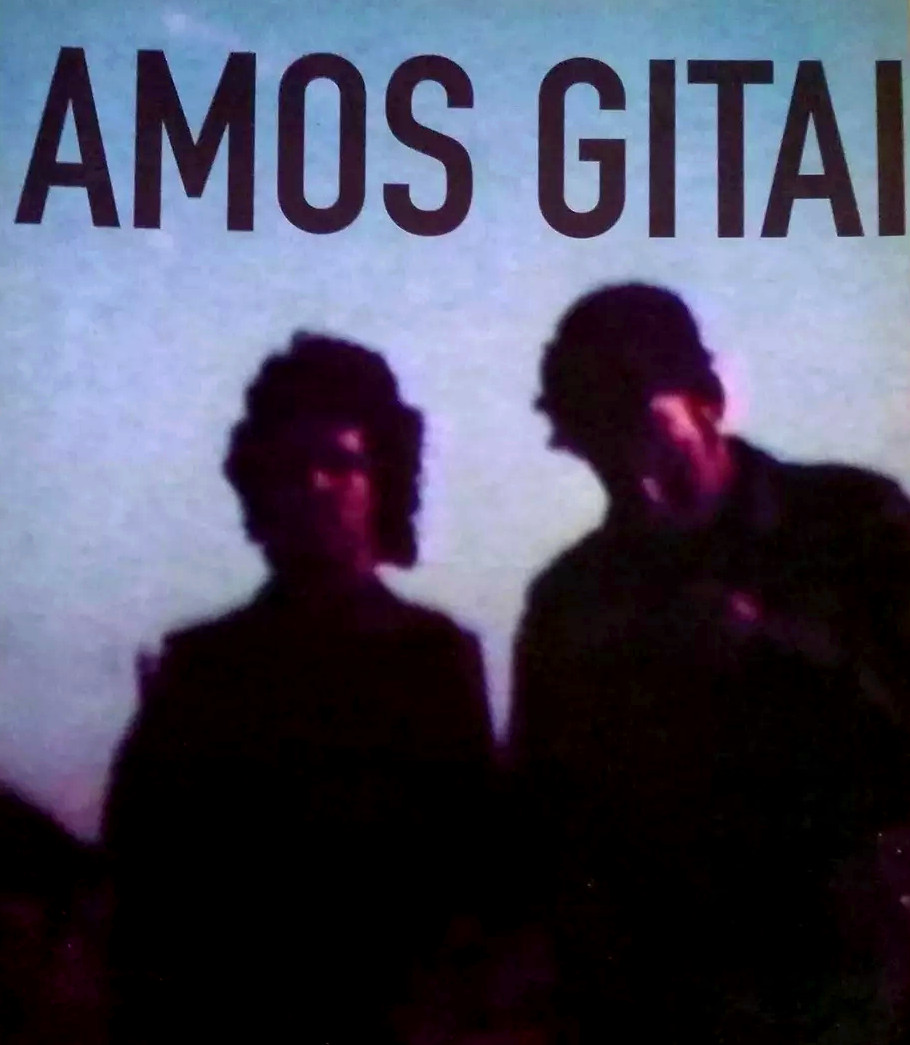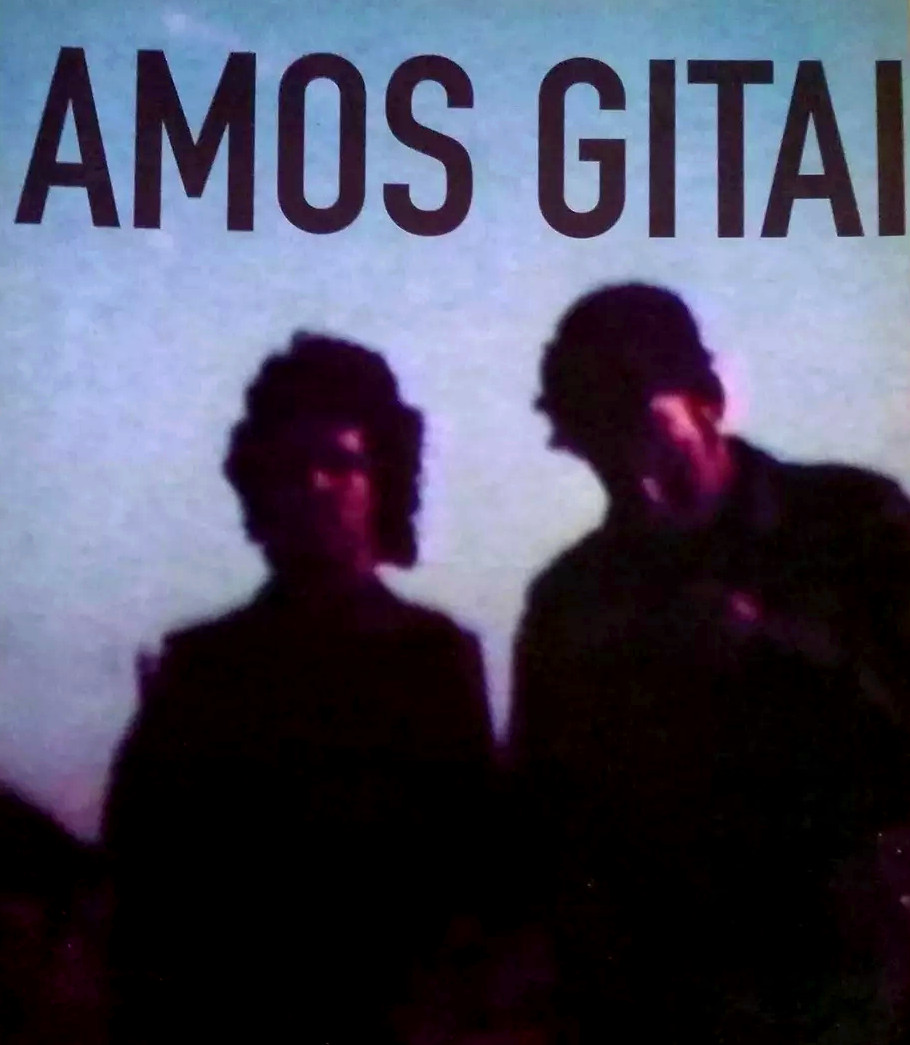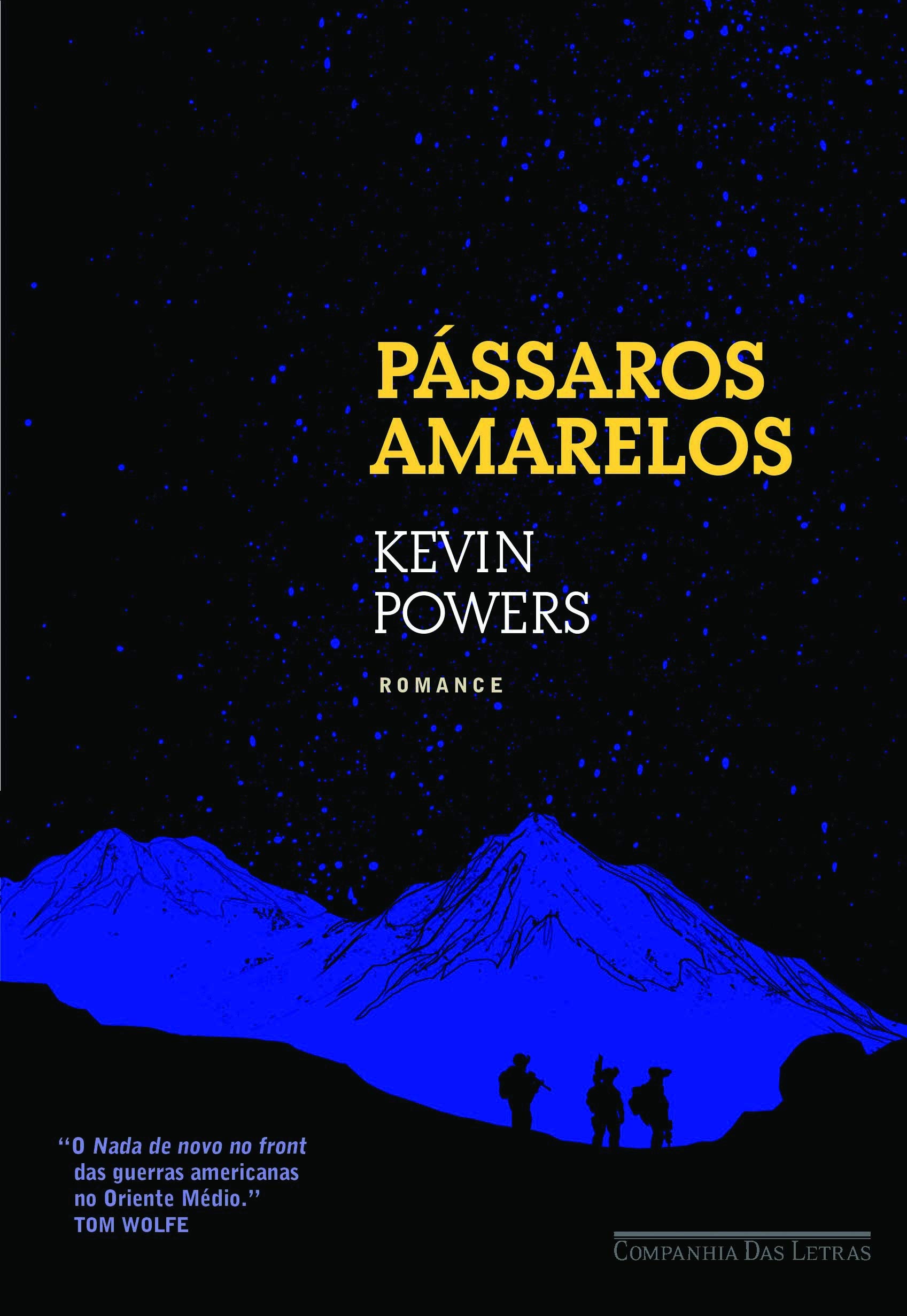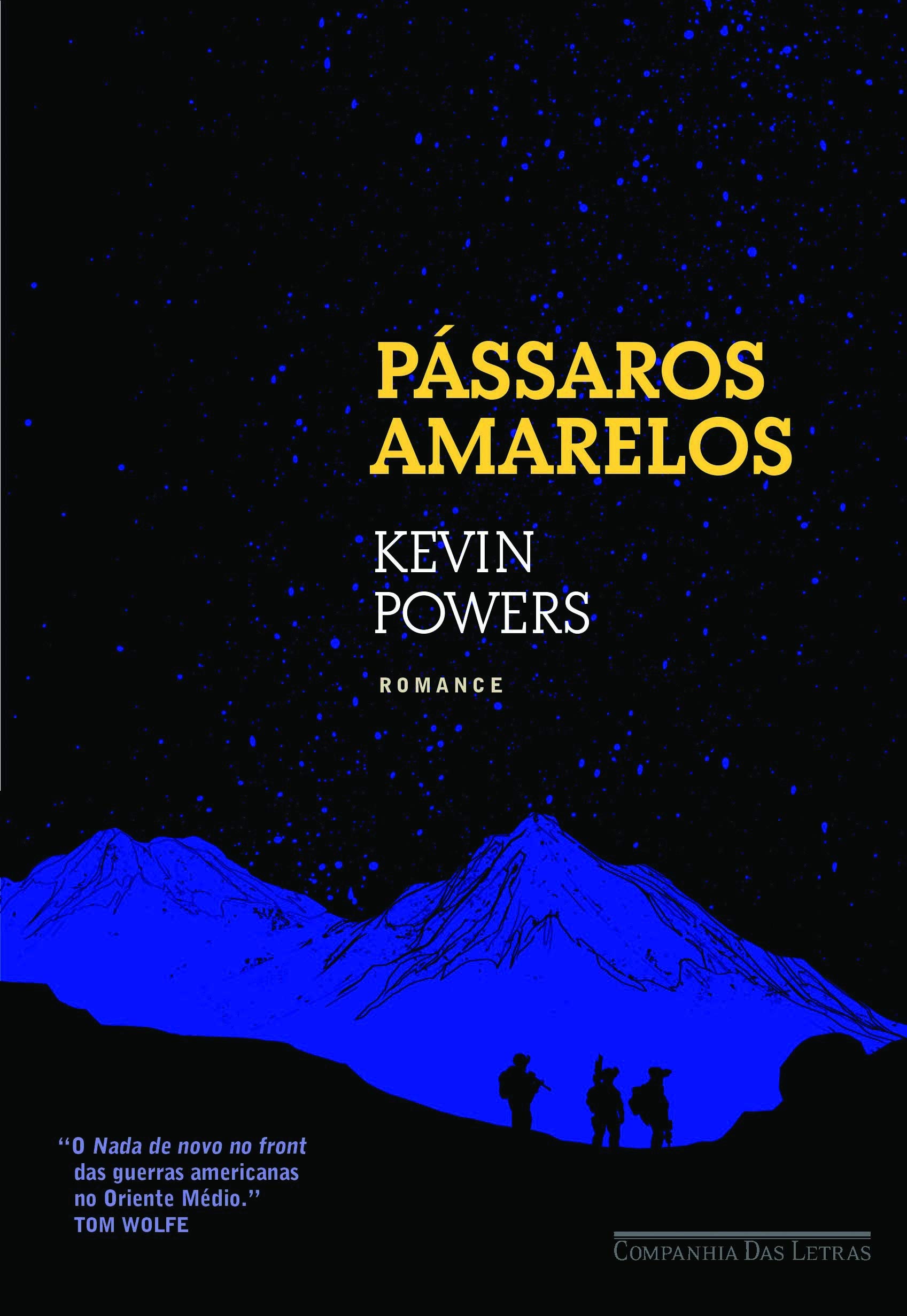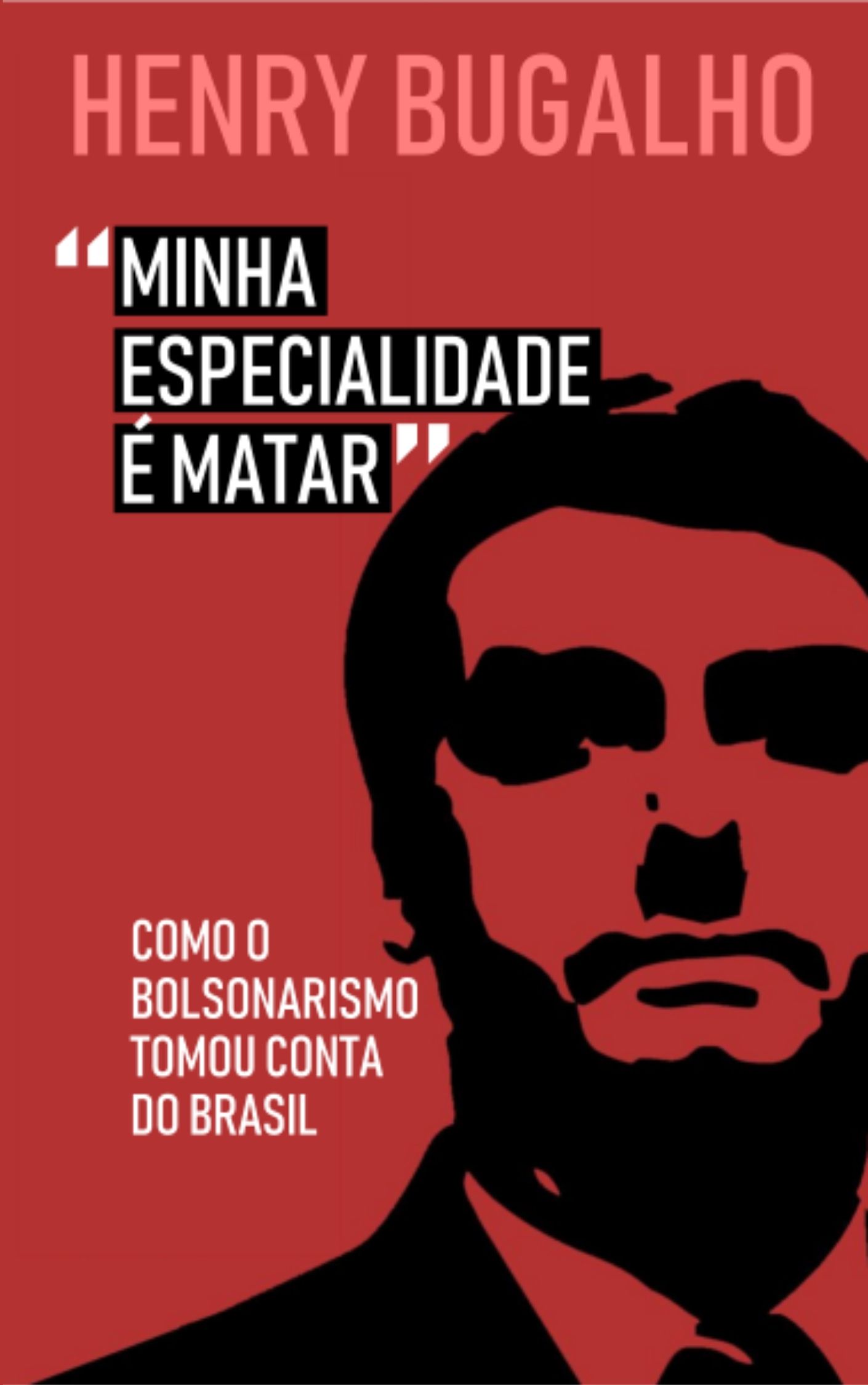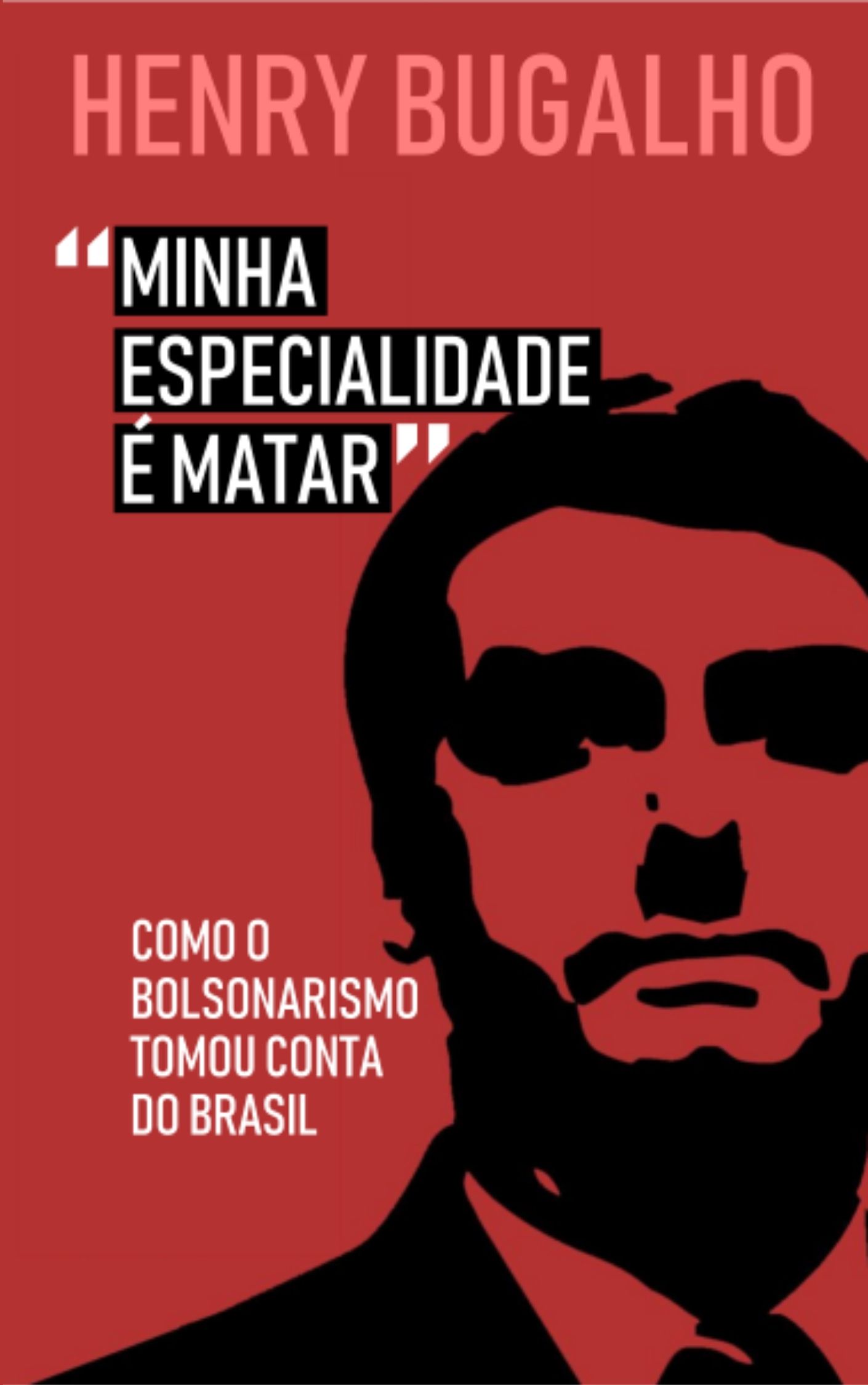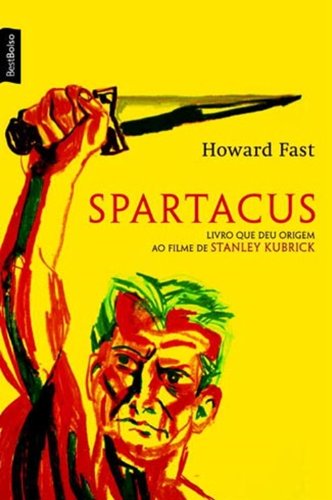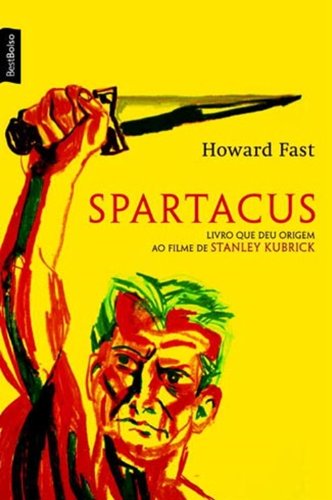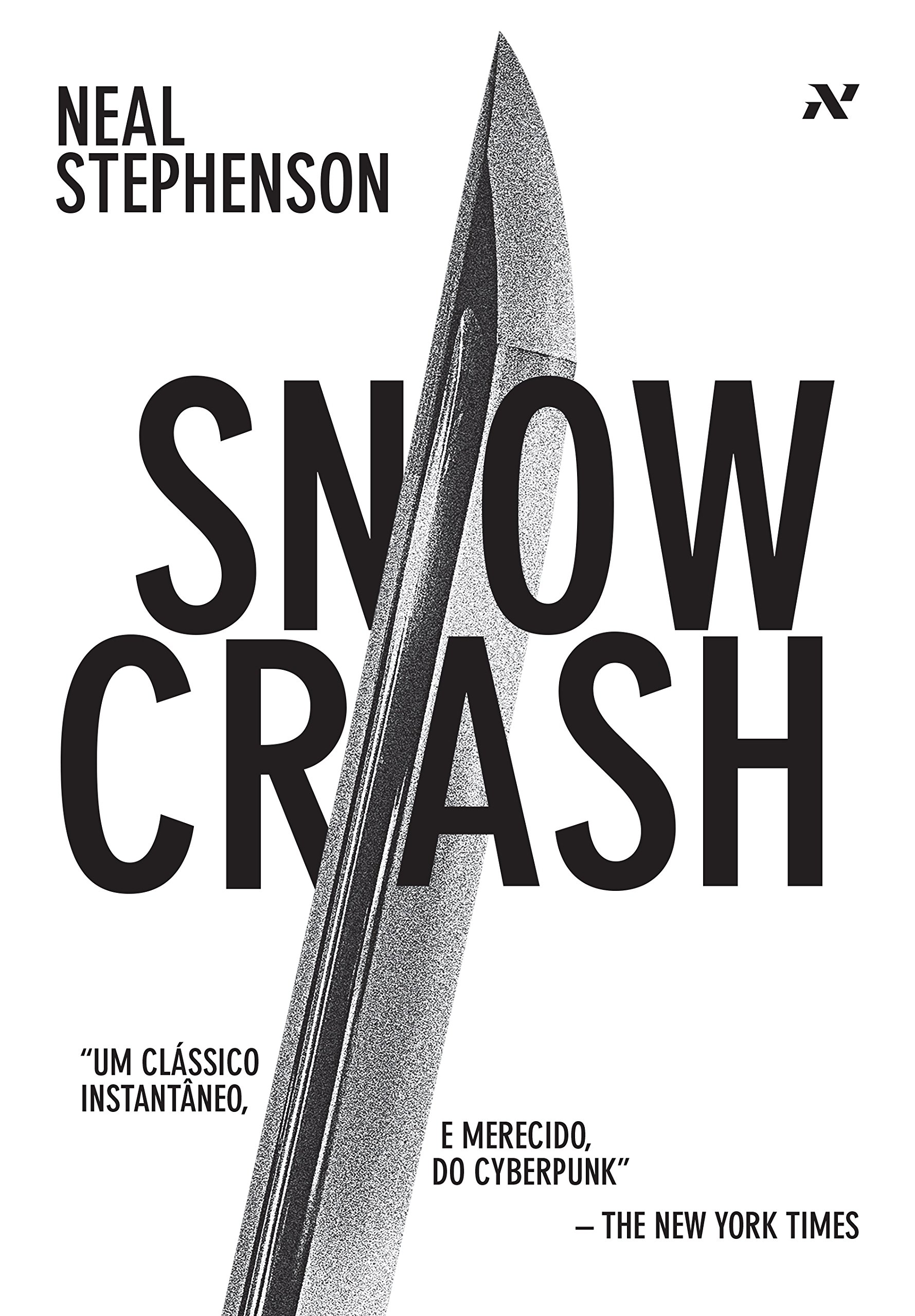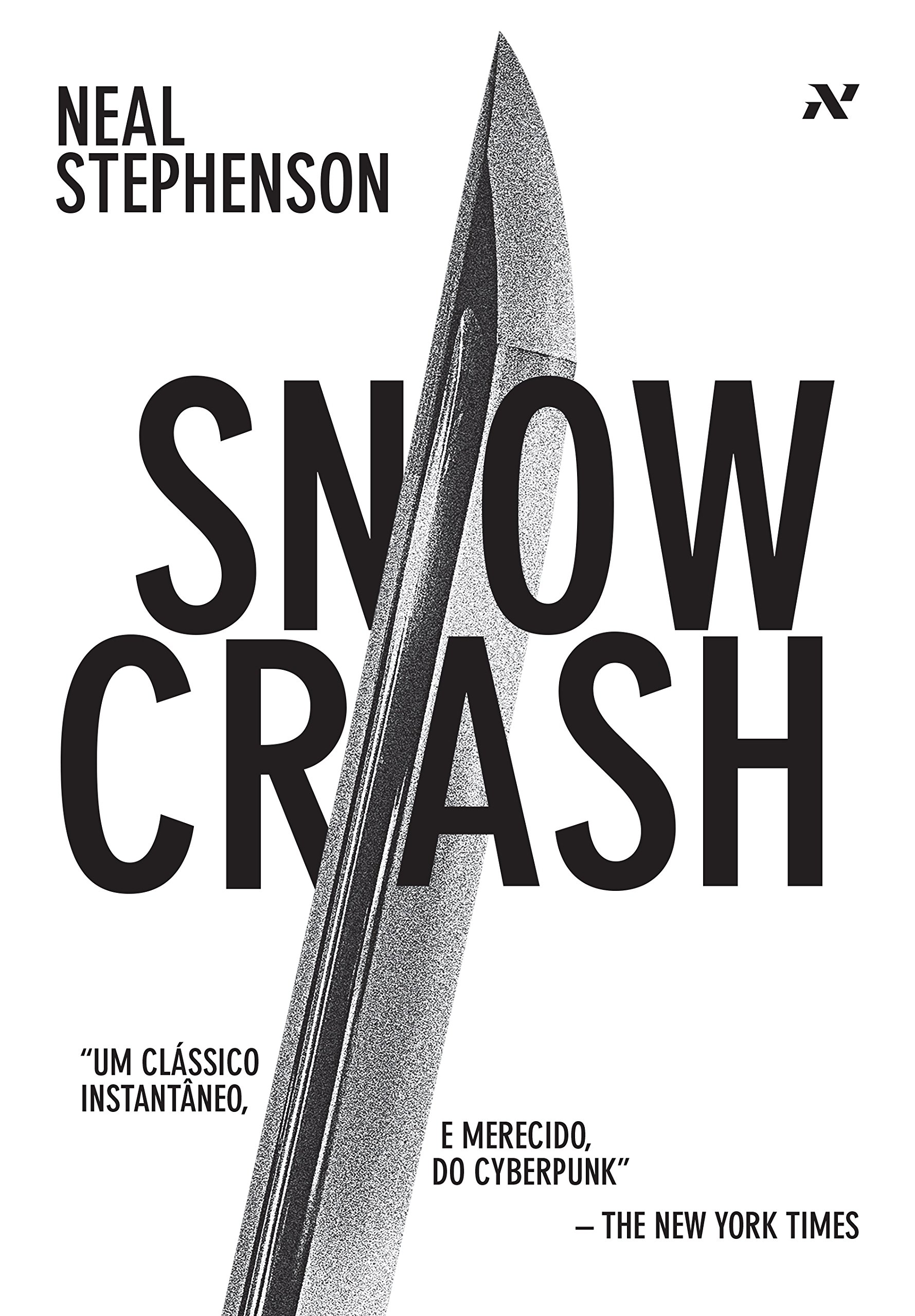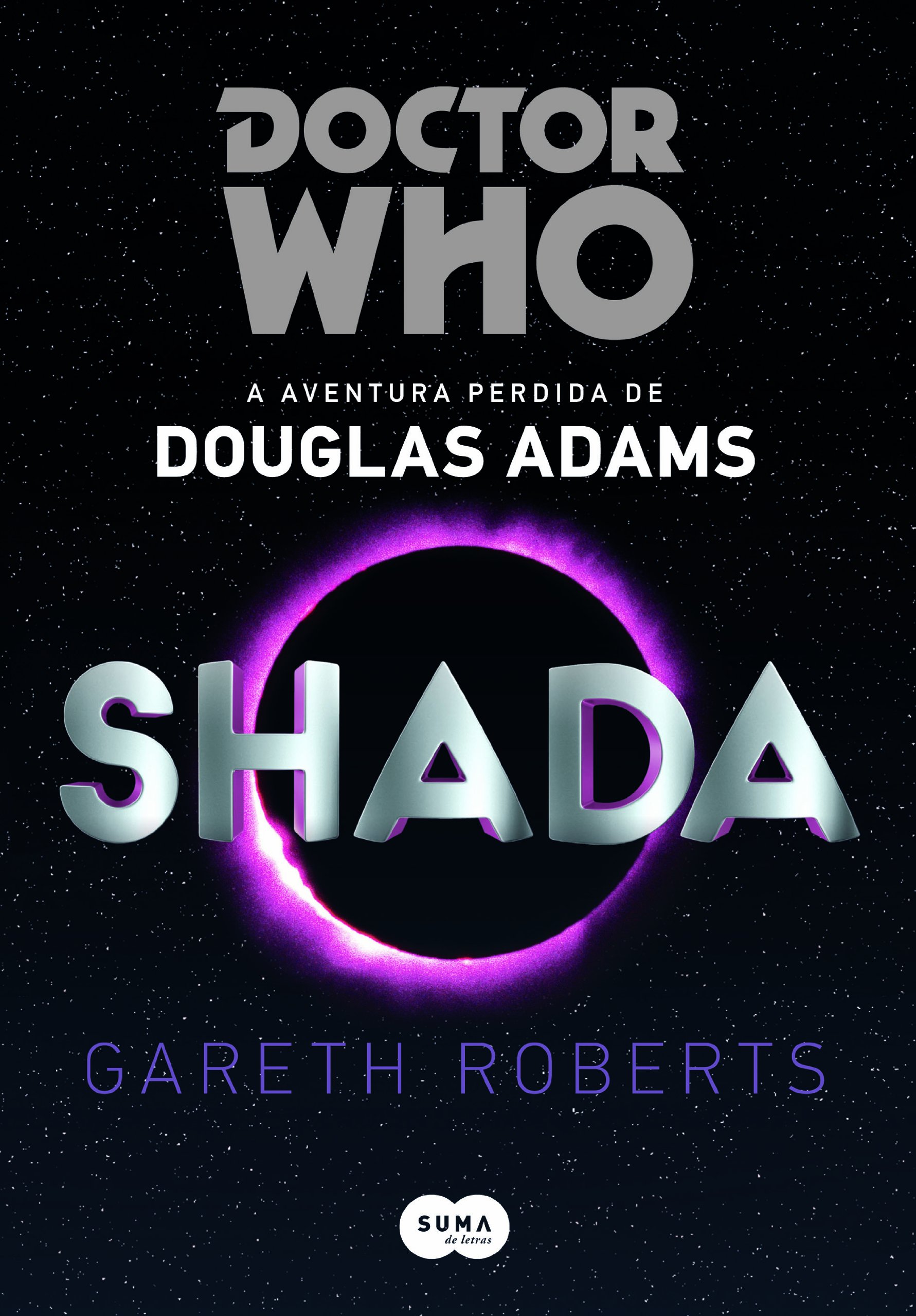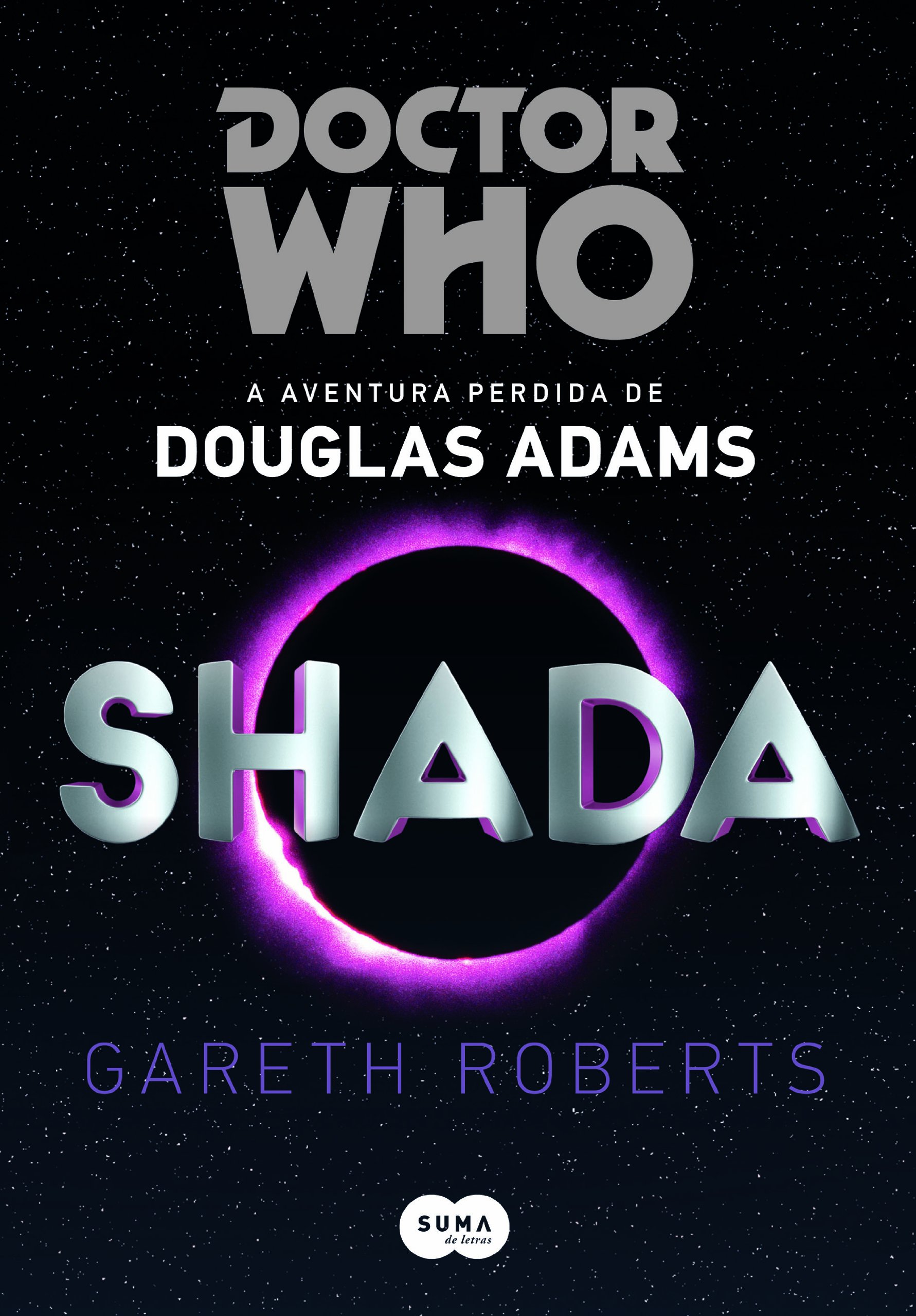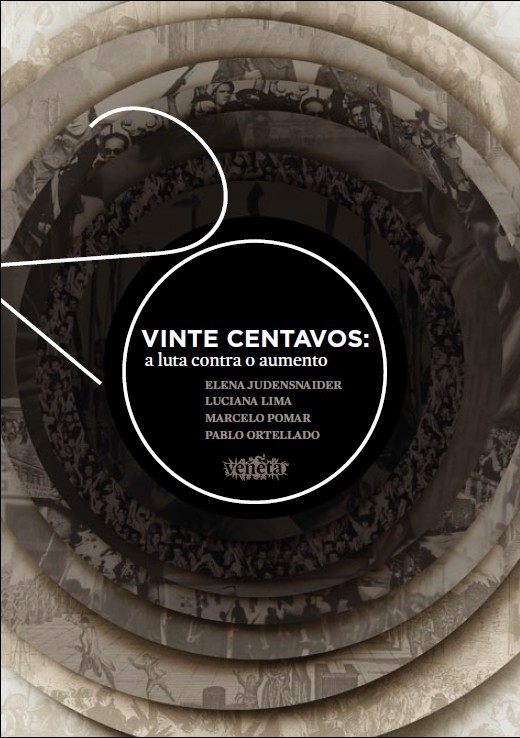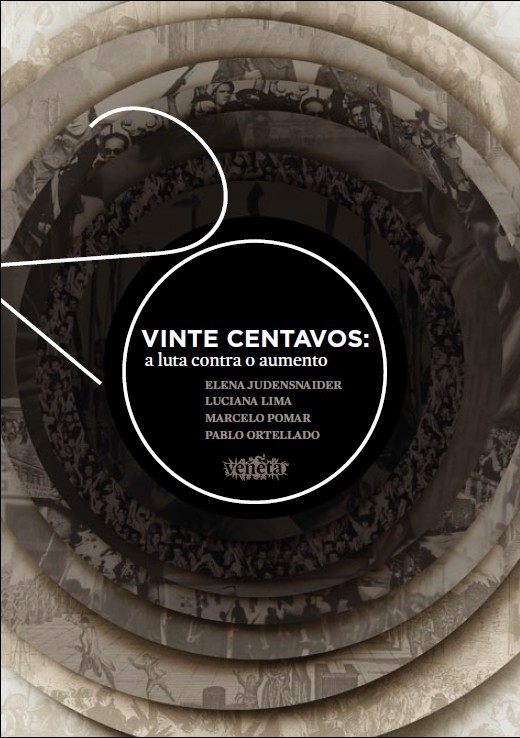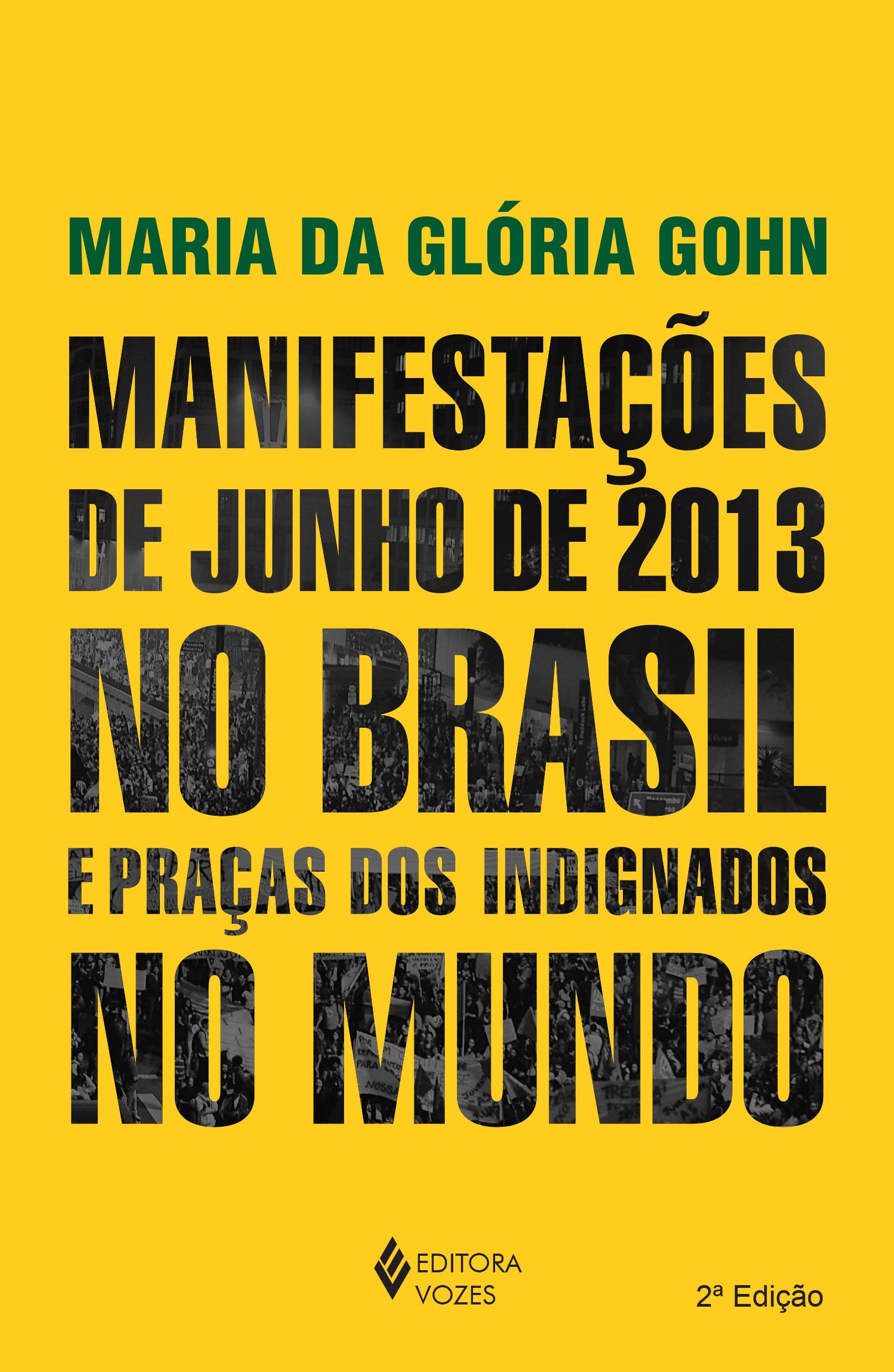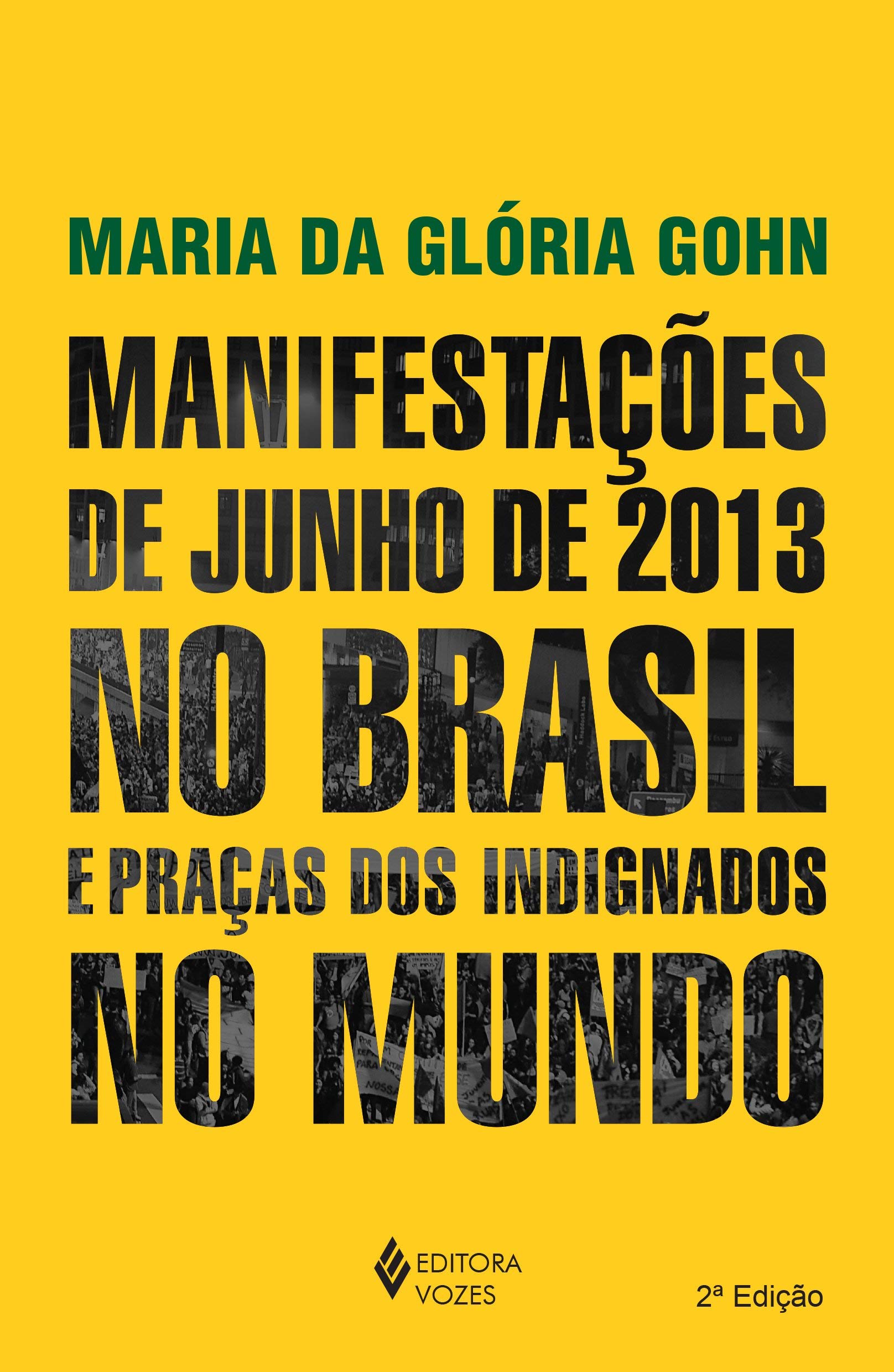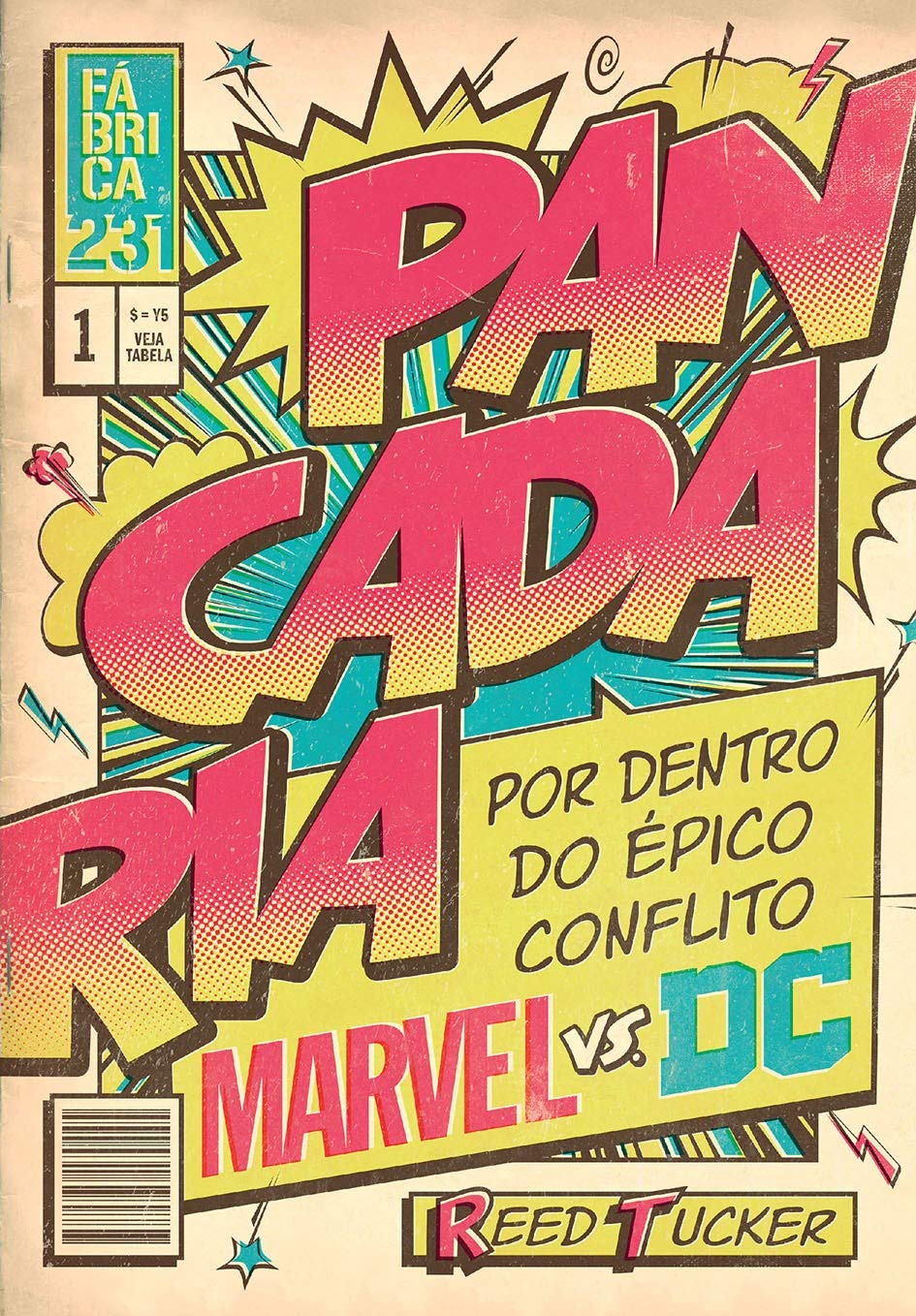
Resenha | Pancadaria: Por Dentro do Épico Conflito Marvel vs. DC – Reed Tucker
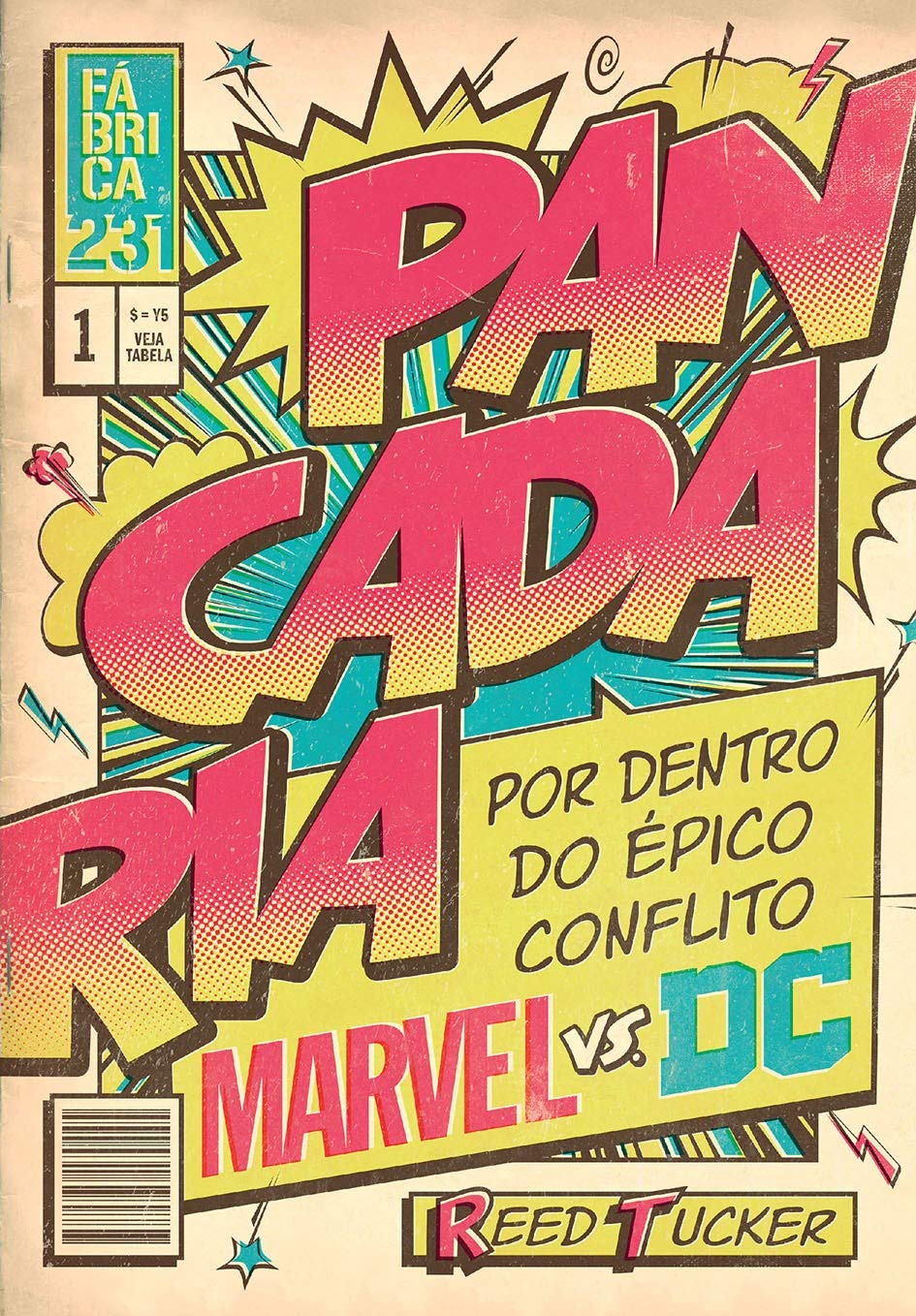
Pancadaria: Por Dentro do Épico Conflito Marvel vs. DC é um livro de estudo de caso sobre a rivalidade entre as duas maiores editoras mainstream dos Estados Unidos, escrito pelo jornalista Reed Tucker. A publicação é parte da cena de bons livros que se voltam para o universo dos quadrinhos no Brasil e no mundo.
Ainda na introdução o escritor tira algumas conclusões sobre o choque entre editoras e as diferenças entre elas, destacando a capacidade da Marvel Comics se renovar enquanto a DC Comics se assemelha a uma reunião de idosos incapazes de retratar algo fora de suas zonas de conforto.
Os capítulos iniciais destacam o pioneirismo da DC quando ainda era chamada National Comics, primeiro com reunião de heróis em grupos, como também em iniciativas editoriais que popularizavam os personagens de maneira unida e organizada. Um bom retrato da chamada Era de Ouro e pelos fatores que ajudaram a formar o que se entendia por quadrinhos de heróis. O tradutor, Guilherme Kroll faz um ótimo trabalho, o livro é repleto de notas de rodapé envolvendo contexto das publicações lá fora e no Brasil, como, por exemplo, as traduções nacionais envolvendo mudanças de nomes — Lois Lane para Mirian Lane, Átomo para Eléktron, etc.
Fato é que Marvel e DC eram bem diferentes desde sua concepção, ainda que a temática das aventuras nas revistas coincidisse. A Marvel, inicialmente, variava entre a mera replicação do que fazia sucesso nos quadrinhos populares da concorrente, com destaque de uma fala de Stan Lee:
“éramos uma empresa de macacos de imitação”
Enquanto sua concorrente era predatória, comprando todas as pequenas concorrentes — boatos no livro dão conta que até se cogitou a compra dos direitos do Príncipe Namor e Tocha Humana original, obviamente não confirmado pelas partes.
A maior riqueza do livro são os detalhes da indústria, como a função de Stan Lee de estagiário, responsável por entregas, servir café e demais serviços auxiliares enquanto sonhava em se tornar romancista, já que encarava os quadrinhos como uma arte menor. Além disso, o livro se debruça bastante sobre a Marvel, desde a importância e decadência de Jack Kirby, como também da ascensão de Stan Lee.
Reed tem uma escrita prosaica que prende o leitor, além disso, há muita fluidez e inteligência em transições de temas e assuntos. É tudo muito orgânico e o escritor não tem receio em expor a supressão dos artistas por parte da DC e as constantes brigas de Lee na Marvel para serem dados os legítimos créditos aos artistas e escritores no início da segunda metade do século XX.
Acompanhar os rumos que cada um dos personagens da indústria traçam neste livro faz o leitor buscar as histórias retratadas ali, seja dos personagens do Quarto Mundo quanto o primeiro crossover entre as editoras: Superman x Homem Aranha. O autor detalha tudo muito bem os crossovers dos anos 90, as tentativas de adaptação para televisão e cinema, e as principais disputas. O mesmo ocorre nas referências à era das graphic novels, e em como a DC foi pioneira no formato de venda de “livros”, enquanto a Marvel não pensou tanto nisso, fato que foi importante para a falência da editora, que chegou a vender os direitos de seus personagens.
A leitura de Tucker é convidativa, especialmente pela riqueza de detalhes dos bastidores da indústria de quadrinhos, tudo é bem explorado, tanto para o leitor não habituado a esse universo, quanto aos mais experientes. Pancadaria é uma leitura rica sobre esse subgênero e muito complementar a outros estudos sobre o tema.