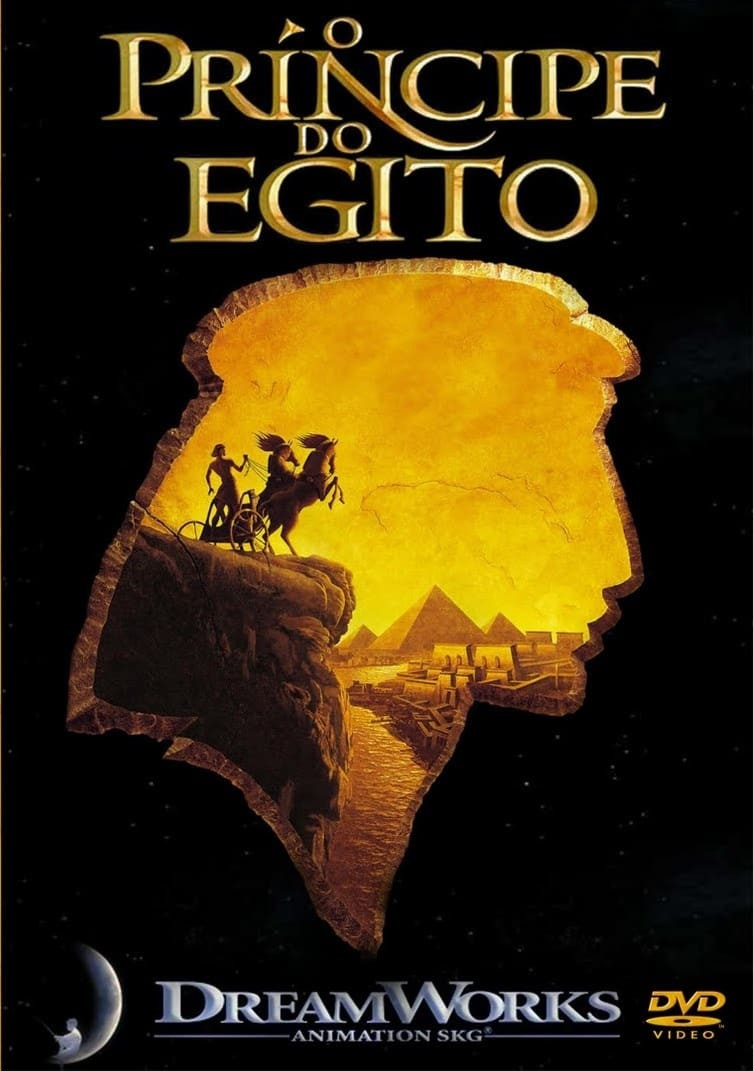
Crítica | O Príncipe do Egito

Em 1998, a Dreamworks e os diretores Brenda Chapman, Simon Wells e Steve Hickner conduziram uma adaptação do livro do Êxodo, bem ao estilo dos musicais da Disney, com um apuro visual absurdo que mistura animação em 2D super detalhada ao mostrar os personagens humanos, com outras tantas em 3D para mostrar os cenários e monumentos da civilização antiga.
Já nos primeiros instantes, onde Joquebede e os seus pequenos filhos Arão e Miriam têm de se despedir do recém nascido são apresentadas duas músicas belíssimas, uma clamando pela liberdade do povo que tem as costas marcadas pela chibata dos escravagistas egípcios, e outra de lamento pelo destino possivelmente trágico do menino, que era perseguido pelo faraó, por conta de uma profecia antiga – que nesta versão é bem diferente, atribuindo a morte das crianças não a crença do nascimento de um libertador, mas sim por conta de um controle de natalidade dos escravos.
A pequena cesta que carrega o futuro profeta reúne no pequeno trajeto até a sua mãe adotiva um resumo do livro do Gênesis, não só na óbvia referencia a embarcação que Noé fez para salvar a humanidade (a cesta lembra uma pequena arca) e a fauna do fim do mundo pelo dilúvio, como uma breve demonstração de animais na parte rasa do Rio Nilo. Além destes momentos, há também uma corrida de bigas, onde os diretores mostram como o alto orçamento da produção foi bem empregado, não só na grandiosidade do império e a referência óbvia ao clássico Ben-Hur.
A escolha narrativa de um Moisés provocador e imaturo é inteligente, pois na própria Bíblia ele costuma ser demonstrado como um homem genioso e complicado, principalmente em sua juventude, assim como colocar Ramsés como alguém instável, sempre pilhado e receoso com o fato de não ter todos os predicados para levar sua civilização ao apogeu. Dois homens criados juntos, mas com destinos diferentes e igualmente complexos – tudo isso com pouquíssimo tempo de tela para cada um.
Lógico que se tratando de uma animação cantada, há algumas desnecessárias lições morais – o primeiro encontro do protagonista com Zípora, por exemplo. O que realmente pode incomodar plateias mais velhas é a velocidade com que os fatos ocorrem. As músicas pontuam bem os momentos de transição e evolução, do mimado e inconsequente príncipe rumo a se tornar o pastor das ovelhas de um povo oprimido.
O filme se divide basicamente em três partes, a juventude do herói no seu antigo lar, a fase no deserto onde encontraria sua vocação e a saída do povo do estado servil. O estado de revolta e amadurecimento de Moisés é muitíssimo bem pontuado, não só no sonho sobre suas origens, em uma animação com imagens de hieróglifos que em sua composição beiram o genial, como também em sua transformação para o completo oposto de seu irmão de criação, primeiro por se sentir enganado ao longo dos anos por não saber de onde veio, depois por entender o quão injusta era a condição de opressão do povo.
Por mais que o segundo terço não tenha tantos momentos épicos – mesmo que a cena da Sarça Ardente ocorra neste tomo – a condução do agora pastor de ovelhas para o Egito é cuidadosamente planejada para causar encanto em quem assiste, desde o confronto entre os sacerdotes Hotep e Huy, até as conversas com Ramsés, que em sua vida adulta, repete os erros e a simbologia visual de seu pai, Seth, inclusive com a repetição da posição das imagens dele como tirano junto às estátuas dos soberanos da dinastia, com novos signos e discussões.
A questão da onipotência divina é muito bem exemplificada, mesmo em seus detalhes. Quando Moisés transforma as águas de um rio em sangue, o espaço onde ele fica, não é manchado, em uma pequena amostra de que as pragas e pestilências não ocorreriam de maneira alguma com o povo escolhido. Essa face intervencionista de Deus está presente o tempo inteiro no livro sagrado dos judeus e cristãos, no entanto, ela é ignorado por boa parte dos fiéis e dos porta-vozes da fé, o que é uma pena. Não é preciso ser especialista em teologia para perceber que o caráter do Criador segundo as sagradas escrituras citadas sempre foi a favor do povo oprimido, e esse deveria ser o maior dos símbolos. O Príncipe do Egito acerta em cheio, pois ainda que a intervenção do Deus seja enérgica, e por vezes cruel, há benevolência em suas ações e intenções, e não busca por glória ou egoísmo.
A questão do Anjo da Morte repetindo a matança dos bebês judeus do início do filme é uma boa demonstração de que a vida cíclica, e claro, é uma resultante do conceito da lei da Semeadura, onde os egípcios colhem a mesma desventura que plantaram anos atrás. Os momentos finais são épicos e dignos, semelhantes ao último ato de uma ópera. Os milagres divinos são grandiosos, postos em tela de maneira tão eloquente e fortificam a ideia de uma das últimas canções entoadas pelos imigrantes.
A ruína de Ramsés se dá exatamente onde mais dói, não fisicamente mas em seu ego, com ele sobrevivendo para perceber seu reinado e o legado de seu pai entrarem em decadência, tudo porque ele não quis ceder aos seus caprichos. Essa talvez seja a mais poética versão dos fatos ocorrido no livro do Êxodo, e graças ao trabalho hercúleo tanto das composições de Stephen Schwartz (adaptadas magistralmente para o português na versão brasileira), e ao alto custo da produção, conseguiram traduzir de maneira certeira uma história inspiradora, mesmo com a pressa e a supressão de muitos pontos polêmicos da biografia do que seria o personagem histórico de Moisés.

