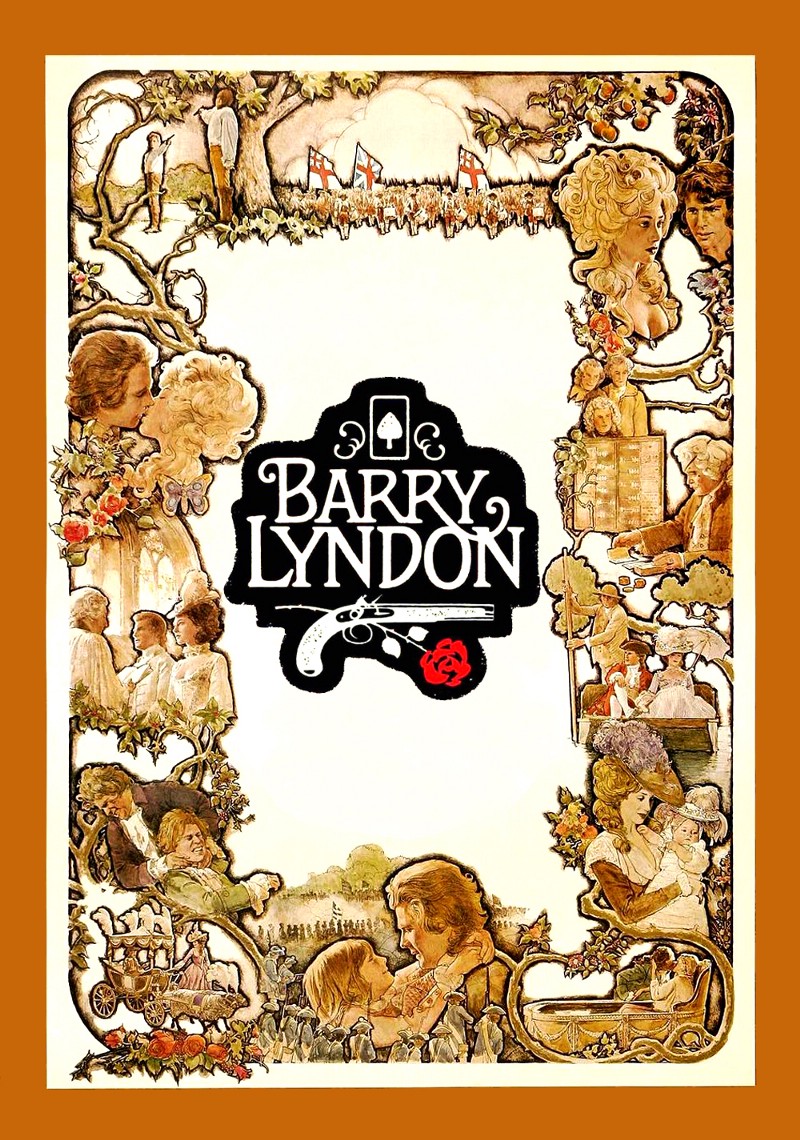
Crítica | Barry Lyndon
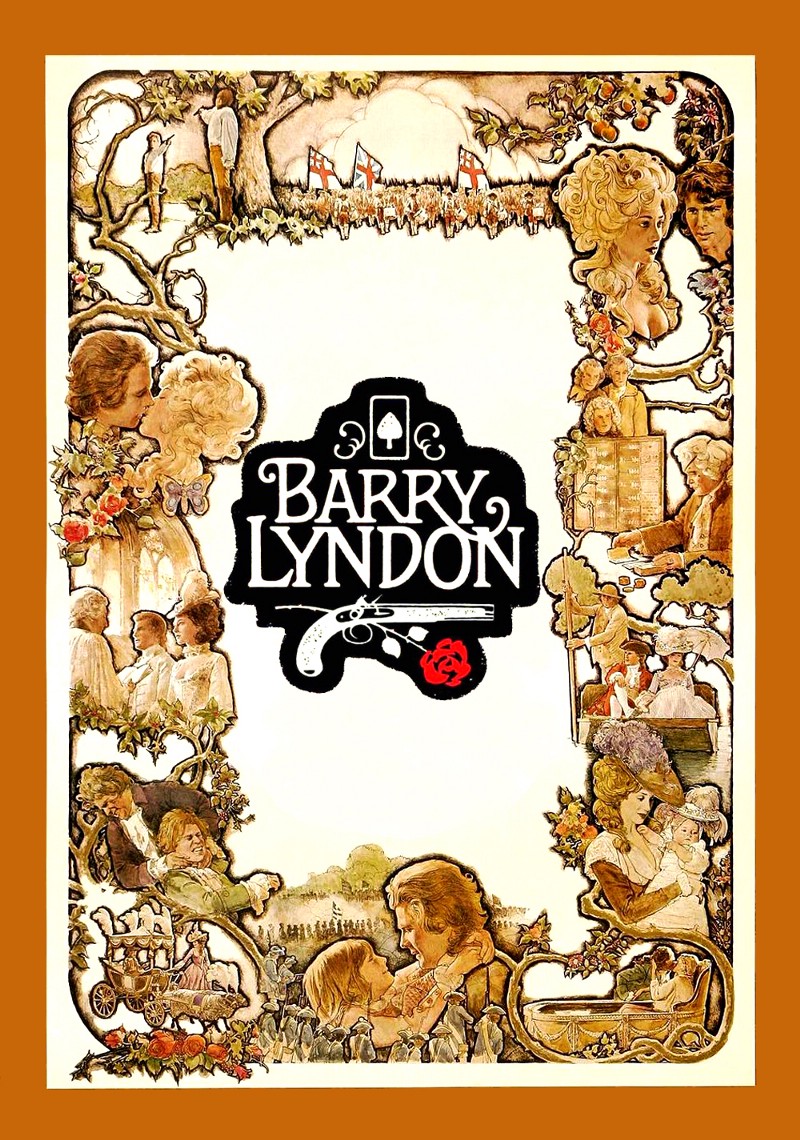
Era uma vez um estonteante palácio europeu, de sociedade de fina estirpe, e palco da mais intensa cena já rodada por Stanley Kubrick (aqui usando lentes da NASA para filmar certas cenas): eis o jogo de sedução de Lady Lyndon junto ao soldado irlandês Redmond Barry, estátuas vivas em meio a castiçais de ouro e fichas de jogatina, ainda que presos num pequeno salão, próximo a uma varanda isolada onde, não mais suportando ignorar a atração e o arrebatamento um pelo outro, terão seu primeiro beijo apaixonado a luz de um luar rarefeito. Até chegarmos a tanto, Barry e Lyndon, frente a frente numa mesa, estão ocupados a trocar olhares gritantes só para os dois escutarem, ambos queimando paixões silenciosas por debaixo de seus históricos trajes aristocráticos e rodeados pela presença maciça de uma elite absurdamente cortês, que, de tão entretida nas suas apostas e na sua própria postura irredutível, pouco nota a tentação a crepitar violenta e tormentosa naquele par de corpos, fadados a um destino em conjunto, e esmagador, na melhor das hipóteses.
Daí surge a espinha dorsal de Barry Lyndon: o duplo nascimento passivo-agressivo de uma dama prestes a sucumbir por seus sentimentos por um homem, e o início de uma nova vida ao trapaceiro que usa de sua amada para trilhar os altos privilégios que uma vida da mais nobre classe reserva a seus fortunados. Ao intruso, tudo, incluindo (principalmente) os infortúnios que o mesmo se acha capaz de suportar – e que, por ironia, tornam-se tão elegantemente insuportáveis quanto a cena descrita, acima. Ele quer subir mais alto que um rei, e ela, desde sempre acostumada a esse mundo da mais graciosa pompa (e seus conflitos armados), no fundo quer alguém que lhe diga, e pela primeira vez na vida, qual a graça afinal dessas ambições sociais, tão externas a essa realidade. É a oportunidade que Kubrick queria para adaptar substancialmente o romance moralista de William Thackeray e explorar, sob a ótica do mais fascinado historiador cinematográfico, o olhar ingênuo do infiltrado em uma dimensão que não é sua, mas que quer pertencer – e paga o preço, cedo ou tarde, no ritmo de uma longa e harmoniosa ampulheta mortal.
Ao aproveitar o megalomaníaco trabalho de pesquisa para Napoleão, seu faraônico projeto que nunca foi pra frente, Kubrick fez questão que sua rigorosa e pontual máquina do tempo fosse aqui poderosíssima, e jamais denunciando sua ilusão de nos teleportar direto para o imenso charme burguês do século 18. Ele quer que sintamos o cheiro das roupas, o odor do suor por baixo das plumas, e o aroma da mobília dos grandes palácios da burguesia – e consegue. Ao final da sessão, precisamos até retirar o ácaro de um tempo tão antigo da nossa pele, pois ao deixarmos o transe, notamos que estávamos lá, presentes o tempo todo, tomando chá entre Lordes e Ladies europeus enquanto testemunhamos seus vícios chiques, suas artimanhas pomposas e, vez ou outra, suas barbáries uns aos outros que sempre irrompem com mais força que a mais feroz briga de boteco. Eles revestem sua bestialidade com o mesmo pó de arroz fino de sempre, e é por isso que o seu cair de máscaras parece sempre mais arrebatador. O choque surge porque nenhuma mentira ou encenação sociais dura firme e forte para sempre, e é essa uma das grandes mensagens de Barry Lyndon: a fina flor carrega os mais letais espinhos, e muitas vezes contra ela mesma.
Essa autodestruição mora nos olhares dessa aristocracia hipócrita que faz acolher um soldado exterior a ela, um típico outsider, como também é encarado os que vem de fora e sem parentesco ao mundo apadrinhado e desalmado de Hollywood. Figuras (moscas) adotadas (atraídas) por um poder tão ambíguo em seus princípios morais quanto uma faca de dois ou muito mais gumes. Da futilidade nasce a essência do momento, a fruição do movimento, mas acontece que Kubrick já sabia que isso não passa de um reflexo direto da indústria americana que, na década de 70, já fazia parte e era um dos grandes nomes, após 2001, Dr. Fantástico e Laranja Mecânica terem chamado tanta atenção do mundo, e revolucionado a noção de experiência cinematográfica para sempre. Sempre indo aos limites da imagem, e do som, Kubrick é extremamente paradoxal aqui, uma vez que parece, na sua sobrenatural ambição de recriar com autenticidade máxima uma época, e seus espaços característicos, muito mais interessado em nos provocar sobre até onde nós, a plateia, consegue se interessar por uma história cuja nossa principal percepção diante dela é a sua própria artificialidade triunfante.
Assim, o envolvimento proporcionado é soberbo, nos testando com todos os recursos técnicos possíveis (uso frequente de zoom para deixar as imagens com ar de pintura renascentista, interiores originais na Grã-Bretanha e Alemanha filmados a luz de gordas velas, trilha-sonora inerente ao período que tão bem representam pela vibração da música) a fim de nos mergulhar e nos revirar na trágica trajetória de Redmond Barry e Lady Lyndon, a despeito de toda a distância emocional e temporal que o filme carrega em si, de propósito, e mesmo assim conseguindo nos provocar riso, lágrimas e uma tensão de duelo a duelo, de close em close, provando aos céticos de plantão o domínio de Kubrick à forma de sedução pela qual será sempre lembrado. Esse belíssimo desafio do cineasta para com o público, portanto, é mais do que digno, dividindo como sempre opiniões acerca de suas inesquecíveis e sempre elegantíssimas obras-primas que tornam a sétima-arte tão durável quanto vinho, e tão prestigiosa quanto as mais nobres e palpáveis conquistas artísticas da humanidade.

