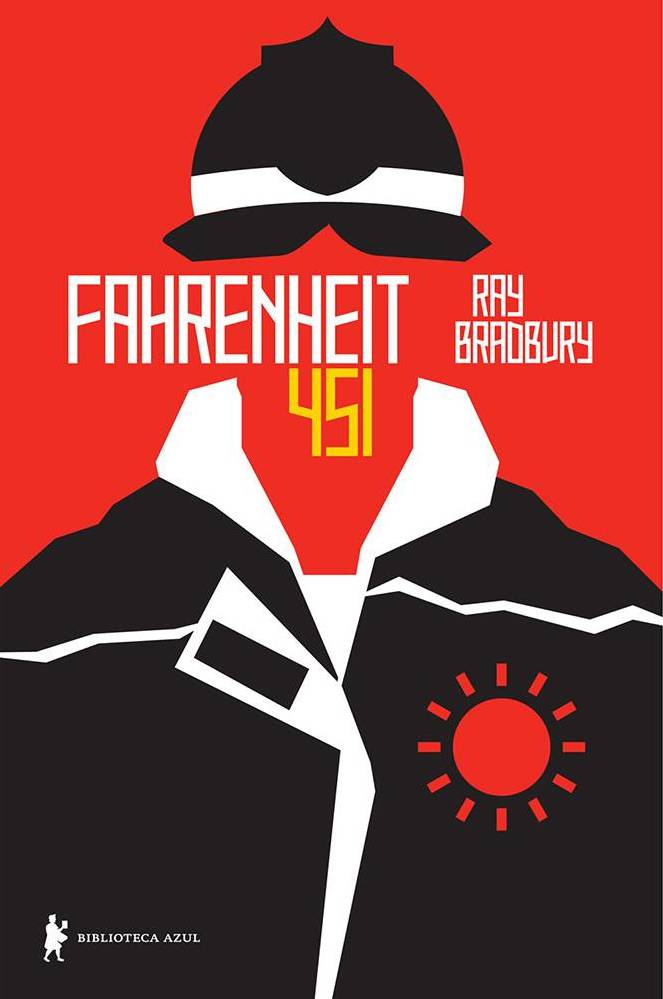“[…] E quando finalmente montaram a estrutura para queimar os livros, usando os bombeiros, reclamei algumas vezes e desisti, pois não havia mais ninguém reclamando junto comigo. Agora é tarde demais.”
Distopias são atraentes em níveis grandiloquentes ao extremo para quaisquer escritores que idealizam a chance, que sentem com fervor o néctar de uma premonição fantasiosa, sedutoramente louca e porque não astuta, como neste caso, de um futuro aquém ou além do esperado por previsões realistas e, sejamos francos, nada convidativas a grandes aventuras. O acaso é a grande regra das histórias de um amanhã distópico, sempre a observar nos seres humanos as consequências objetivas desta imprevisibilidade irresistível para o escriba a interagir conosco; sejam essas consequências expressas no nosso físico, no social, na ciência, na política, na religião, ou talvez da forma mais cruel possível: na nossa cultura.
O escritor norte-americano Ray Bradbury vai longe no seu retrato de um mundo totalitário, conjurando uma forma de estado e seus agentes de controle social que abominam os livros (por razões não tão óbvias assim, ainda que com total perfídia a qualquer tipo de liberdade que o cidadão possa ter), perseguindo leitores que possuam exemplares em sua casa e queimando, literalmente, até mesmo as traças que possam habitar os manuscritos. Bradbury sabe como intimidar o leitor página a página, detalhando com rigor o funcionamento desse estado, sua lógica e ferramentas de repreensão, e a sobrevivência de quem ainda sabe que, aonde se queimam livros, no final queimarão os seus leitores (o uso de palavras-chave na sua prosa é encantador, contextualizando através da Palavra um mundo onde a violência é o meio, e o fim.).
Dentre as cinzas culturais que sujam e envergonham a sociedade alienante, e alienada, de Fahrenheit 451, destacam-se alguns poucos homens e mulheres, figuras um tanto isoladas, muitos destes frios e pessimistas, mas inconformados com sua situação de cegueira coletiva imperial. Ao não concordarem com o sistema determinista que manda arder a história do mundo sob o calor de 451º na escala fahrenheit (com medo que o povo questione seus arredores, temeroso quanto o poder da escola, das disciplinas, da pesquisa), cedo ou tarde estes cidadãos controlados criarão forças para tentar derrubá-lo, mesmo que sua tentativa sirva apenas como aviso: Ainda não estamos totalmente cegos para não perceber as cinzas ao redor. O livro de Bradbury, sua grande obra prima, escala reflexões de extrema pertinência ao papel da cultura na sociedade, como um todo, e como ela pode ser a maior arma que uma pessoa pode contar na vida.
Na formosa edição brasileira publicada pela Globo Livros, por meio do selo Biblioteca Azul, com tradução de Cid Knipel, a leitura se torna dinâmica ao ponto de sentirmos, ou ainda calcularmos, o desenvolver sutil de uma guerra contra a intelectualidade alvejada que reside nas mãos do povo, como também o de uma rebeldia necessária num caos civilizatório desses no qual bombeiros não apagam, mas causam o fogaréu a exterminar nossos cérebros. Há então aquele que trai a corporação para não trair a sua raça, propriamente dita. Humano, afinal. Mesmo em uma época onde livros migram para as telas dos celulares e computadores, não fadados somente ao papel, museus se tornam o alvo preferido dos incendiários. O que arde vai além do físico, seria o nosso passado mesmo, impossibilitando o conhecimento geral sobre as nossas fundações, e assim, por consequência, o que vem depois. É isso o que eles desejam, e Bradbury deu o seu alerta da forma mais sagaz, divertida e solene possível, ainda em 1953: é isso o que eles mais desejam.
Compre: Fahrenheit 451 – Ray Bradbury.