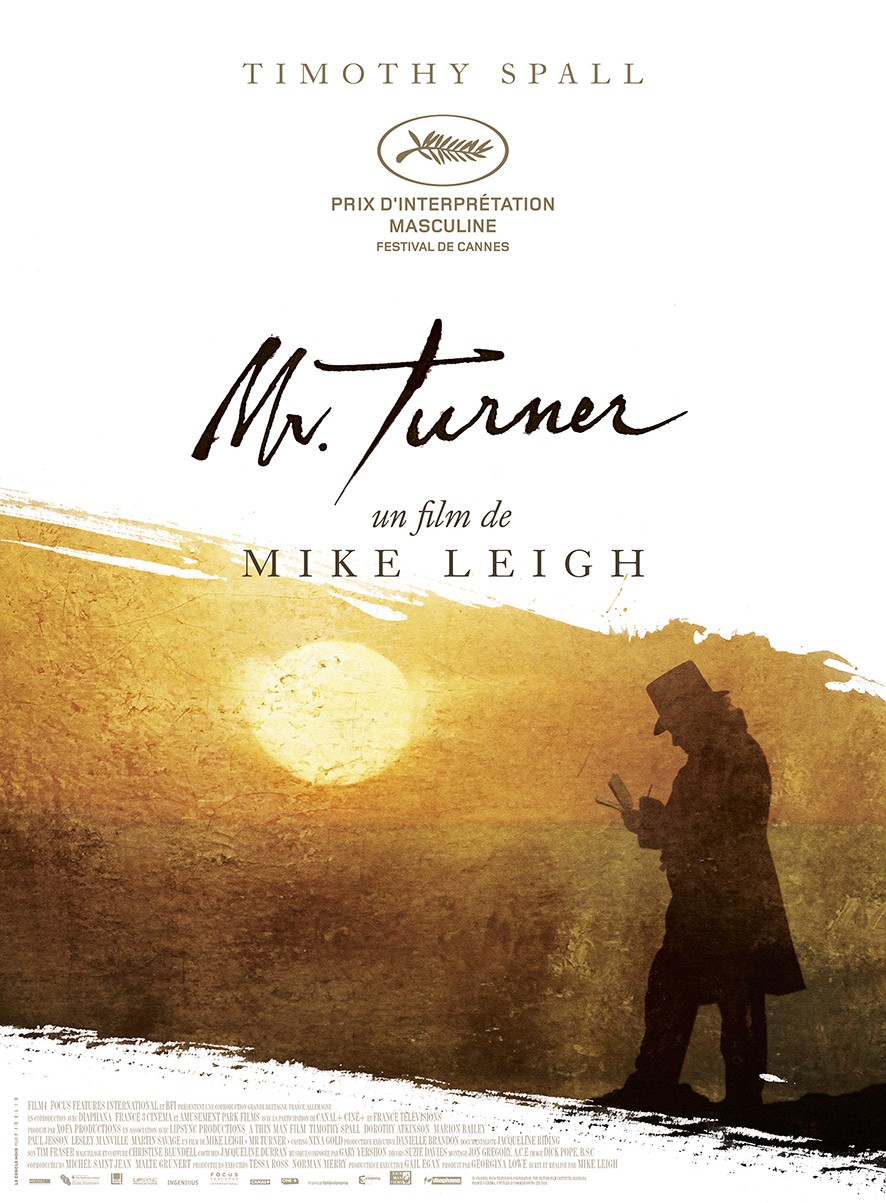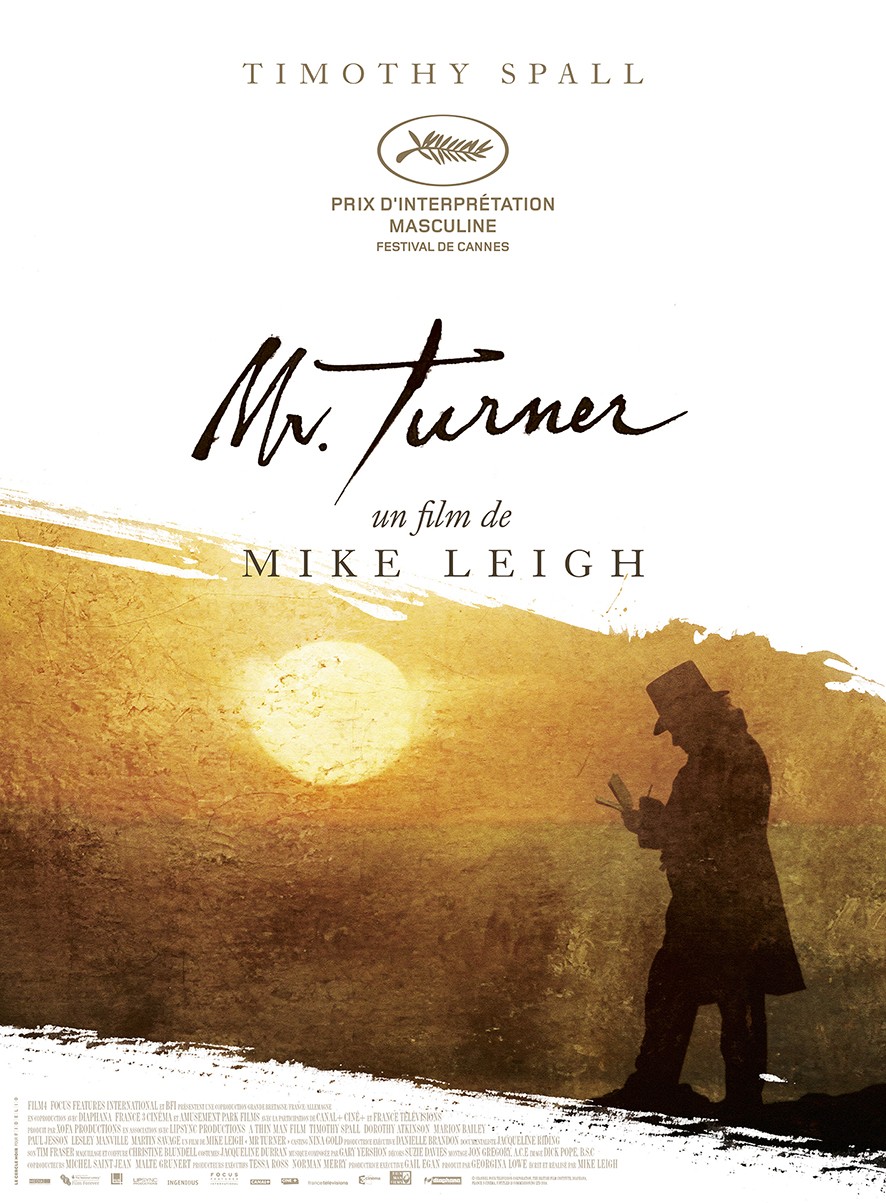Crítica | Com Amor, Van Gogh

Numa época onde a originalidade se esvai, e todo sucesso de bilheteria se apoia na nostalgia que carrega, a animação é o gênero cinematográfico ainda menos explorado sobre suas potencialidades, e suas peculiaridades vigentes. Há ótimos porém poucos marcos e triunfos convincentes em sua história, como Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro Toy Story, O Túmulo dos Vagalumes (esse último sendo talvez o mais belo e trágico desenho animado de todos) e O Velho e o Mar, adaptação de Hemingway construída por 29 mil frames pintados em vidro com aquarela – quem não viu, faça-se o favor então.
Nisso, após bem mais de uma década com belas animações, usando e abusando das possibilidades infinitas da evolução da computação gráfica, mas sem nada de realmente novo na abordagem com o gênero que se incluem, podemos falar aqui da última experimentação realmente original e bem sucedida no terreno muito fértil e um tanto quanto inóspito das animações mundiais: Com Amor, Van Gogh, que, se tivesse sido protegido pela máquina de marketing poderosa da Disney, com certeza teria tido todo o sucesso de público que merece, e que um dia certamente poderá vir a ter, assim espero.
Isso porque técnica, quando o assunto não é cinema live action, é tão importante quanto a própria história e quanto ao equilíbrio que deve existir entre o que é contado, e como a nós é narrado – algo cada vez mais raro nas produções contemporâneas, aliás. Lembro-me, já há dez anos, do encanto que a qualidade técnica atemporal de Wall-e arrebatou nas plateias, ao mesmo tempo que vislumbrou a todos nós pela forma sem diálogos e extremamente expressiva e autêntica que o drama romântico daqueles robôs na Terra, e no espaço carrega na alma e no corpo igualmente sublimes do filme, em si. Uma excelência que culminou no ápice da Pixar, e na sensação de uma obra tão naturalmente corajosa quanto as pinceladas de um certo alguém…
É esse o efeito para com as percepções mais sensíveis que Com Amor, Van Gogh consegue expressar, de fato, indo contra o que críticos mais sisudos e aborrecidos acusaram o filme de ser: Uma mera desculpa com efeitos criados parecidos com aqueles filtros dos aplicativos de celulares. Verdades sejam ditas, por favor: Ocorre sim um certo esvaziamento na semiose da obra original do gênio, em prol do alinhamento racional da narrativa do filme sobre a vida do pintor holandês. Contudo, o fascínio pela técnica trabalhada aqui (55 mil fotografias, pintadas à mão por 100 artistas) permanece intacto enquanto forma não seduz ou corrompe a história, mas a complementa generosamente bem, ao invés de duelarem só para ver quem pode mais.
Há, portanto, um certo balanço apaixonado e ultra romantizado buscado e alcançado, aqui, no casamento de uma dupla de fatores que nunca se afastam de um único princípio que a produção parece saber muito bem: Para uma história tão icônica, de uma figura tão icônica do mundo das artes, sem uma técnica realmente tão arrebatadora quanto, esta ode animada a tudo aquilo que seus quadros expressam ficaria redondamente incompleta, traindo o espectador afim de uma plenitude de sentidos a serem atestados. Não é o que acontece, em sequências de estupenda beleza total, do começo ao fim, a exclamarem o ponto de vista de um homem que sofria de uma (in)sanidade que o fazia observar o mundo da forma e na glória que finalmente conseguimos assemelhá-lo, também, até que Starry Night começa a tocar, na voz de Lianne La Havas, chegando para assolar os créditos derradeiros ao longo das lágrimas que nos brotam, por fim.
Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.