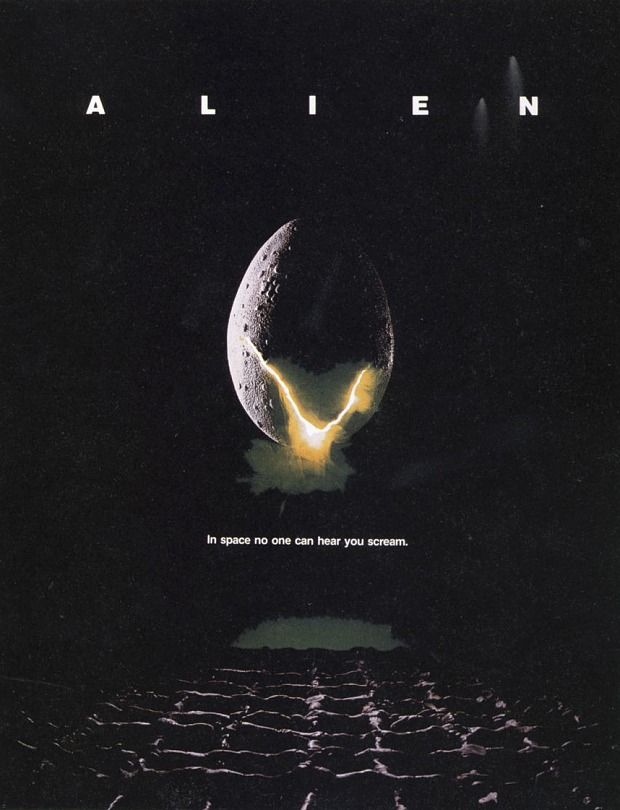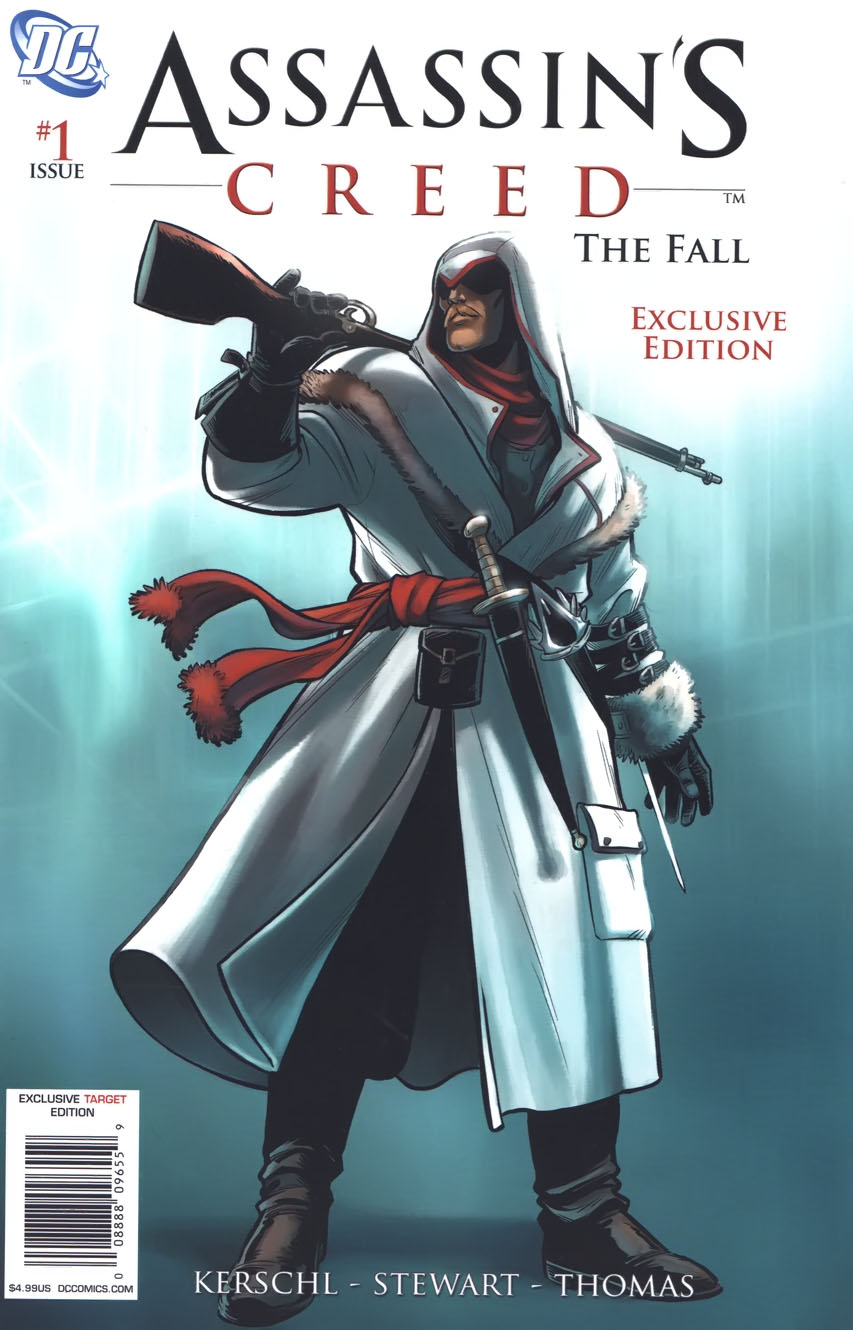A primeira coisa que deve ser dita sobre Um Filme Sérvio – Terror Sem Limites (A Serbian Film, 2010) é que todos os comentários que vocês já leram a respeito das atrocidades do longa não são exagerados. Fui assisti-lo por ser apaixonado por cinema – portanto gosto de ver filmes de todos os gêneros possíveis -, mas pela primeira vez em muito tempo fiquei surpreso.
Se O Albergue, A Centopeia Humana ou até Anticristo foram suficientes para te deixar mal por uma semana, com certeza Um Filme Sérvio não é para você. Como já diriam os antigos anciãos: “A ignorância é uma bênção”. Nesse caso, é mesmo!
O filme conta a história de Milos (Srđan Todorović, nem tente pronunciar o nome desse cara), um ator pornô aposentado que vive com mulher e filho de maneira aparentemente pacata. Milos está frustrado com sua situação, já que sente um pouco de saudades do seu antigo emprego, até que uma antiga colega lhe oferece uma oportunidade: a chance de fazer um trabalho único para um misterioso diretor de filmes pornôs. Sem saber o que poderia acontecer dali para frente, Milos aceita a proposta. Assim que as filmagens começam, o protagonista percebe que havia adentrado um universo de obscuridade de que não gostaria de estar participando, mas do qual já era tarde demais para sair.
Já vi filmes perturbadores na minha vida, e com certeza este ganha com mérito uma cadeira ao lado de Irreversível, Saló – 120 dias de Sodoma, Guinea Pig – O Experimento do Demônio, Holocausto Canibal e Eraserhead. Cada um deles mostra os recônditos da escuridão da alma humana – cada um à sua maneira, seja psicologicamente, com violência gráfica ou de ambas as formas. Temos a oportunidade de, mais uma vez, entrar num universo no qual a única sensação é a do vazio e desgosto em pensar nas atrocidades que existem por aí.
Pedofilia, necrofilia, violência elevada ao extremo, estupro e outras barbáries compõem o quadro. Uma atrás da outra, sem pausas. Até a metade do filme ficamos na dúvida sobre o que pode acontecer. A partir do momento em que somos surpreendidos pela primeira vez com um ato sexual violento, pensamos que não pode piorar; mas é só no final que podemos voltar a respirar normalmente. É um filme que segura a tensão para além dos créditos.
Em uma entrevista, o diretor Srdjan Spasojevic disse que Um Filme Sérvio nada mais é do que uma crítica política e uma metáfora para a situação da Sérvia: o país está em colapso, as estruturas públicas estão indo por água abaixo e a violência está atingindo níveis absurdos. Estas questões são representadas pelos problemas dos personagens, pela representação da indústria pornográfica no gênero snuff (filmes pornôs que envolvem fetichismo e crimes) como uma estrutura governamental desproporcional, e de toda a violência como uma alegoria à situação em que vivem.
A metáfora é um pouquinho exagerada, mas não deixa de ser uma crítica ao governo sérvio. Não sei se Spasojevic conseguiu o que queria, mas uma boa parte do mundo comentou o filme. O único problema é que essa crítica não é tão fácil de ser visualizada. A proposta do filme é atingir o extremo, e ele é bem sucedido nisso; as atuações, ambientações das filmagens e iluminação casam perfeitamente, criando uma forte angústia no espectador. A trilha sonora, composta essencialmente de batidas eletrônicas, é seca, fria e perturbadora. O filme inteiro é uma provocação aos nossos instintos.
Como se não bastasse ser controverso, o longa criou ainda mais polêmica em diversos países onde seria exibido. No Brasil, o Ministério da Justiça classificou-o como não recomendado a menores de 18 anos, mas a avaliação demorou a ser alcançada. Um pedido da Procuradoria da República em Minas Gerais queria proibir a exibição (como aconteceu na Espanha e Reino Unido, por exemplo).
É aqui que eu paro para fazer uma reflexão: tão repulsiva quanto as imagens do longa é a atitude de censura que vem tentando ser estabelecida para sua exibição no Brasil. Acredito veementemente que proibir nunca será a solução, principalmente porque estamos falando de um filme que certamente será baixado pela Internet pelos mais curiosos, sendo proibido ou não. Ser liberado e ter sua classificação etária reconhecida já é o suficiente para selecionar as pessoas que irão assisti-lo.
Quando assisti Brüno, vi dezenas de pessoas se levantando no meio da sessão e indo embora. Deveria este ter a exibição proibida? É claro que não, já que isso é uma questão de escolha individual. O filme de Sacha Baron Cohen tinha classificação indicativa de 18 anos, e as pessoas estavam cientes do que poderiam ver quando fizessem a escolha de assisti-lo. Tenho certeza de que, apesar de repulsivo, muitas pessoas já tiveram a oportunidade de assistir a Um Filme Sérvio e o fizeram, em sua maioria, já sabendo o que poderiam esperar.
Não acredito na censura – principalmente quando se trata de uma obra artística – pela simplória justificativa de que aquilo poderia afetar emocional e psicologicamente uma boa parte das pessoas que a ela teriam acesso. Isso vai contra a individualidade e a liberdade de cada pessoa.
O filme consegue ser perturbador, doentio e chocante. A arte de fato pode ser levada ao extremo. Ela tem limites? Talvez não, e Um Filme Sérvio está aí para provar.
–
Texto de autoria de Pedro Lobato.





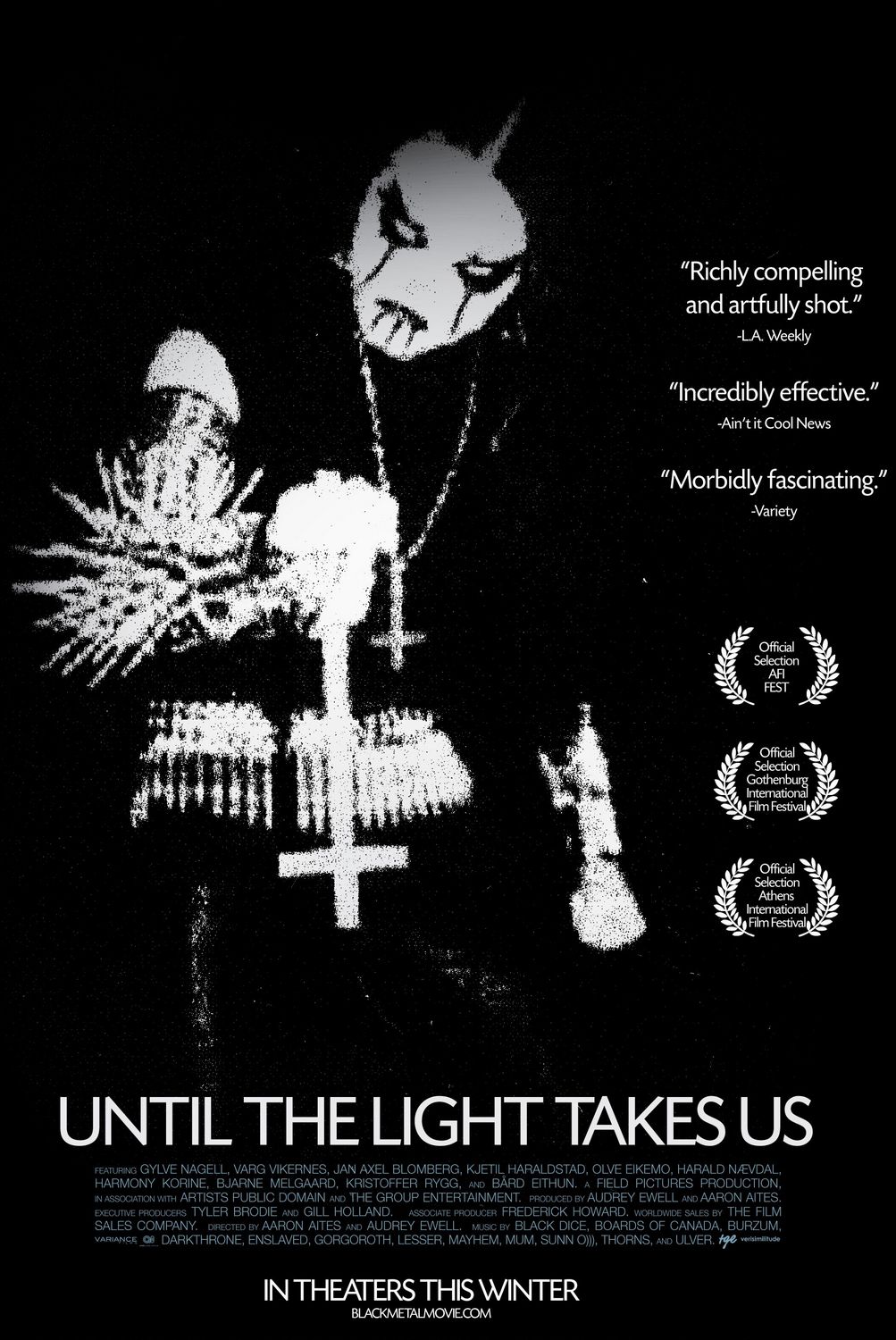




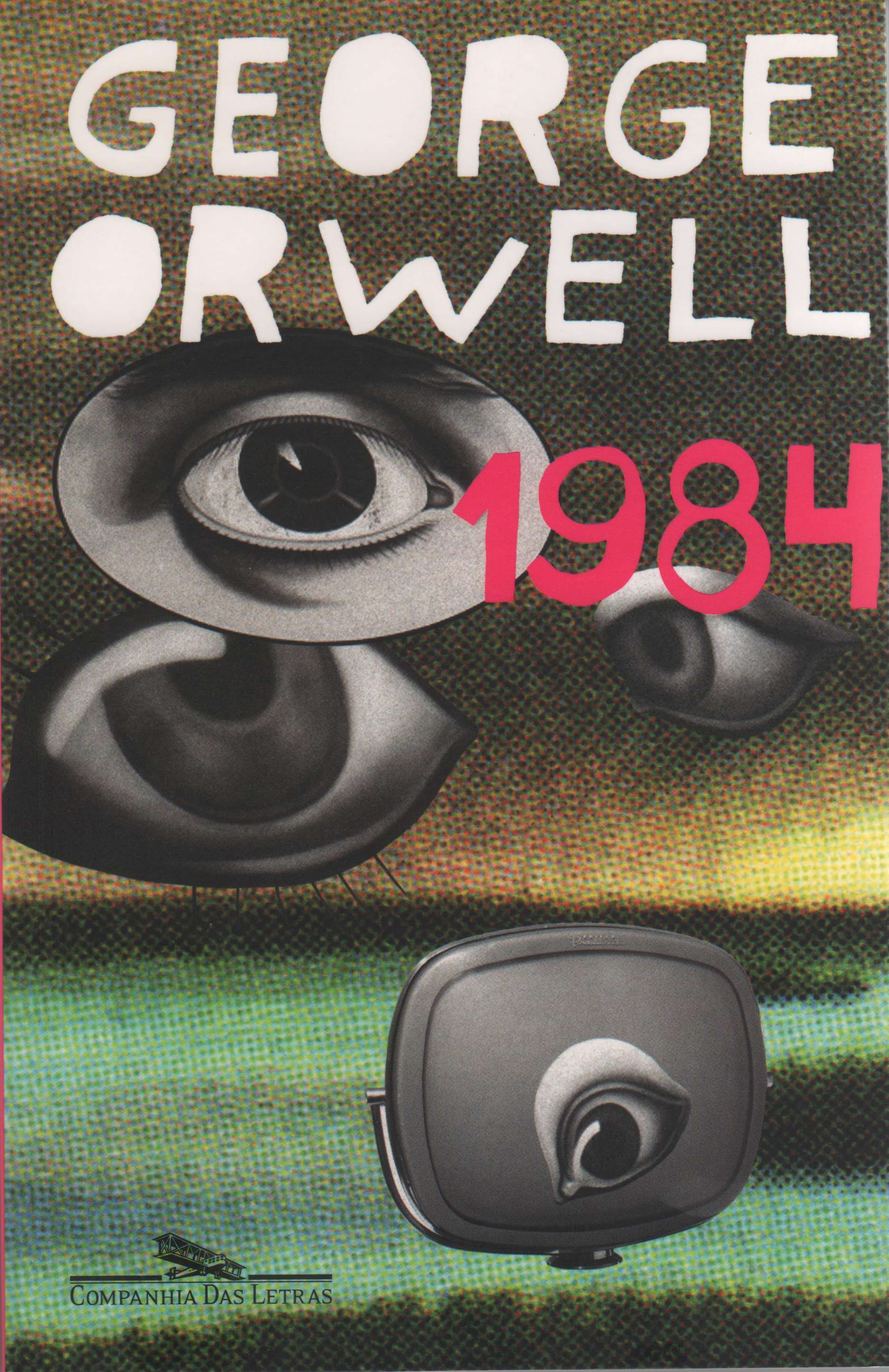
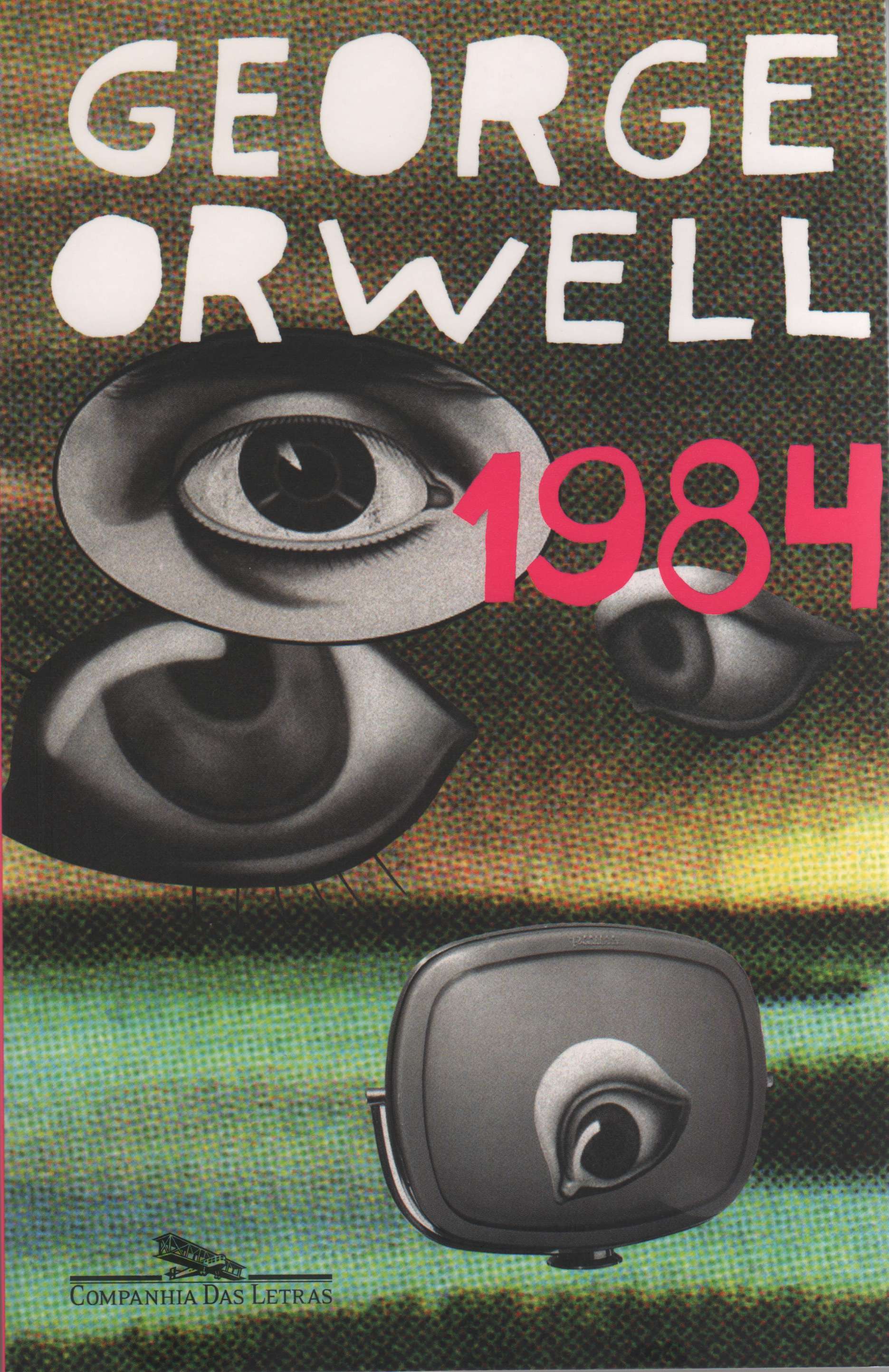









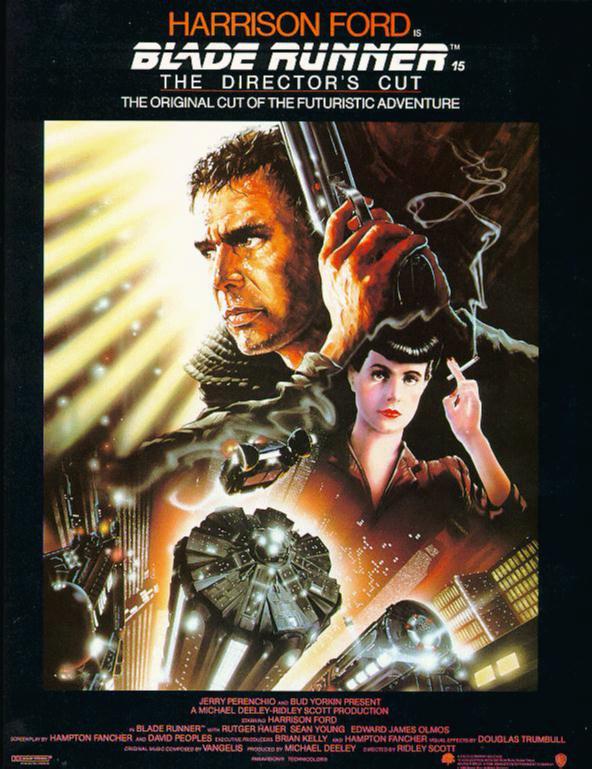







![[Ideias no Vórtice] “Abaixo a Dublagem” – Um contraponto a uma incoerência crítica](https://vortexcultural.com.br/images/437762-Os-maiores-dubladores-brasileiros.jpg)