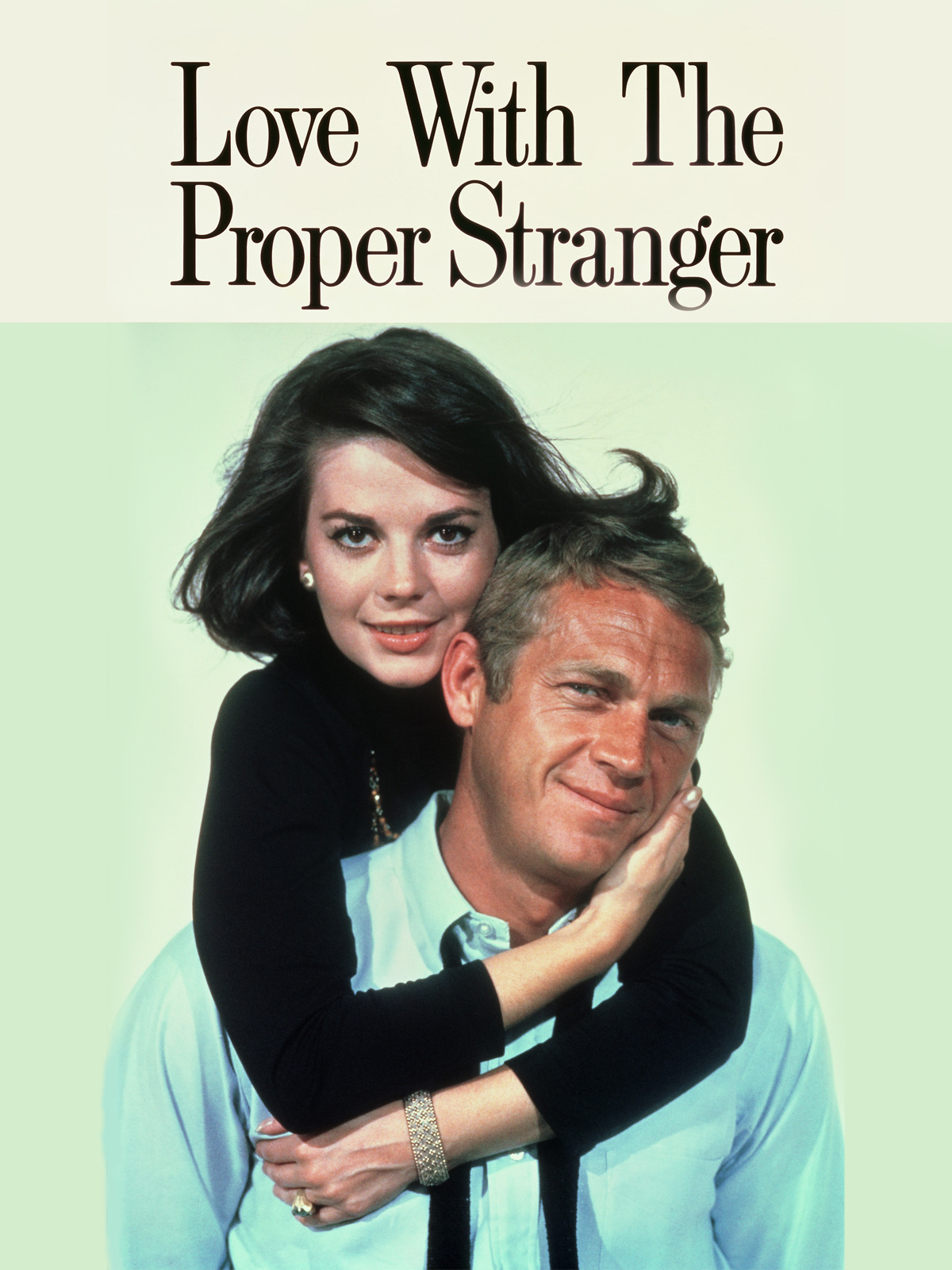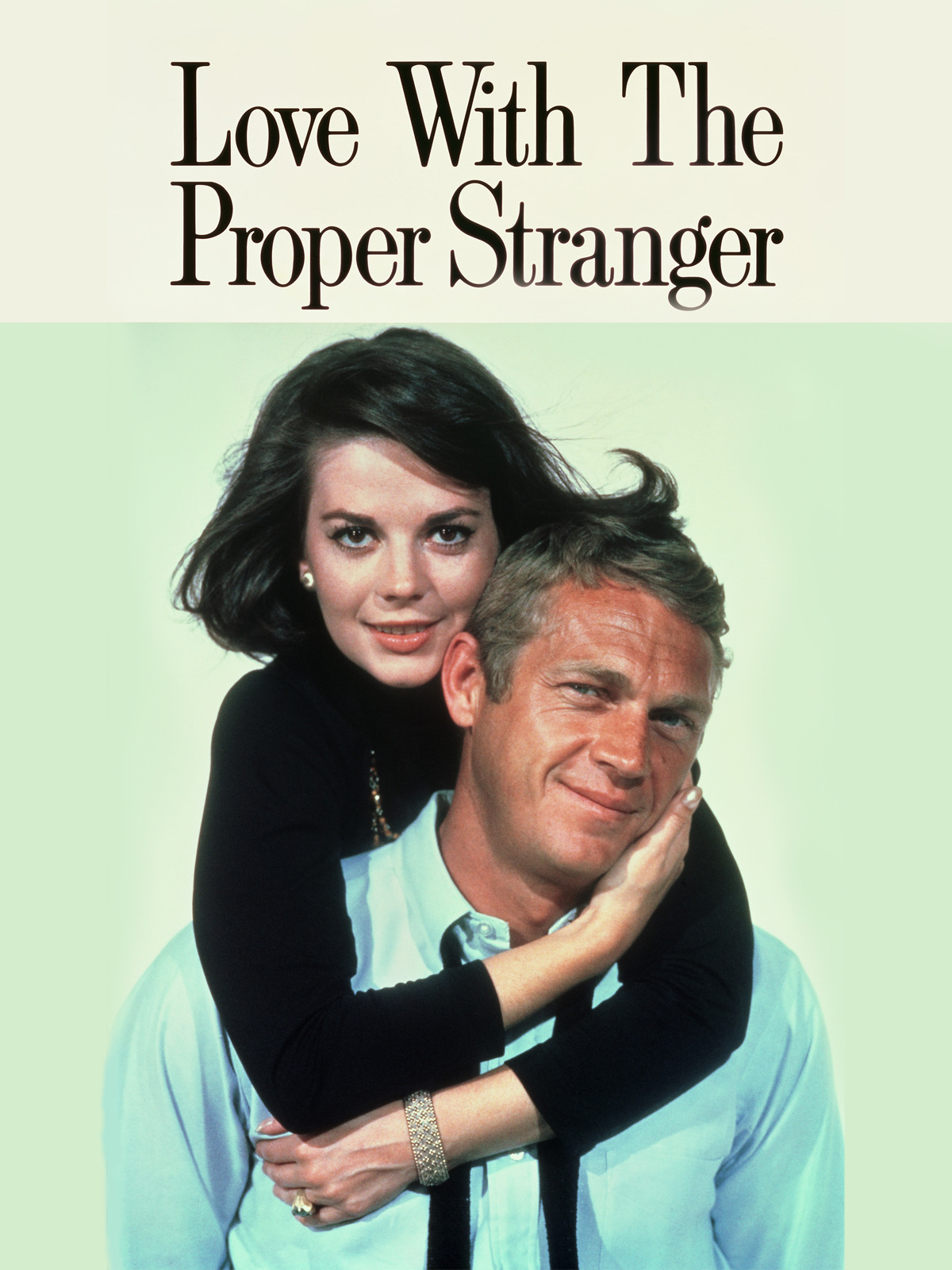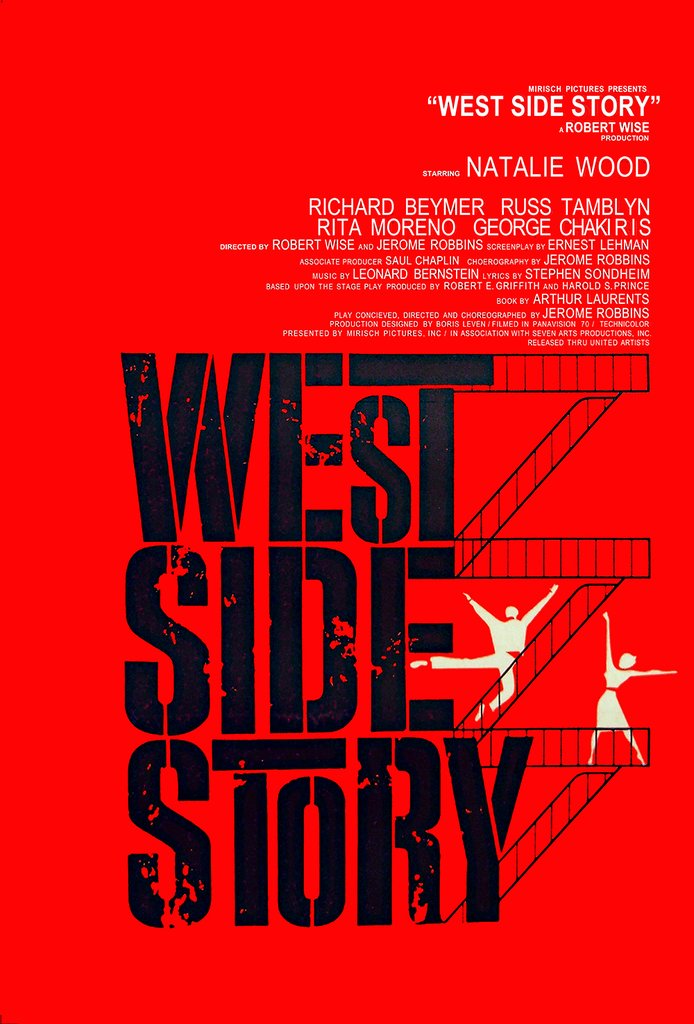
Crítica | Amor Sublime Amor (1961)
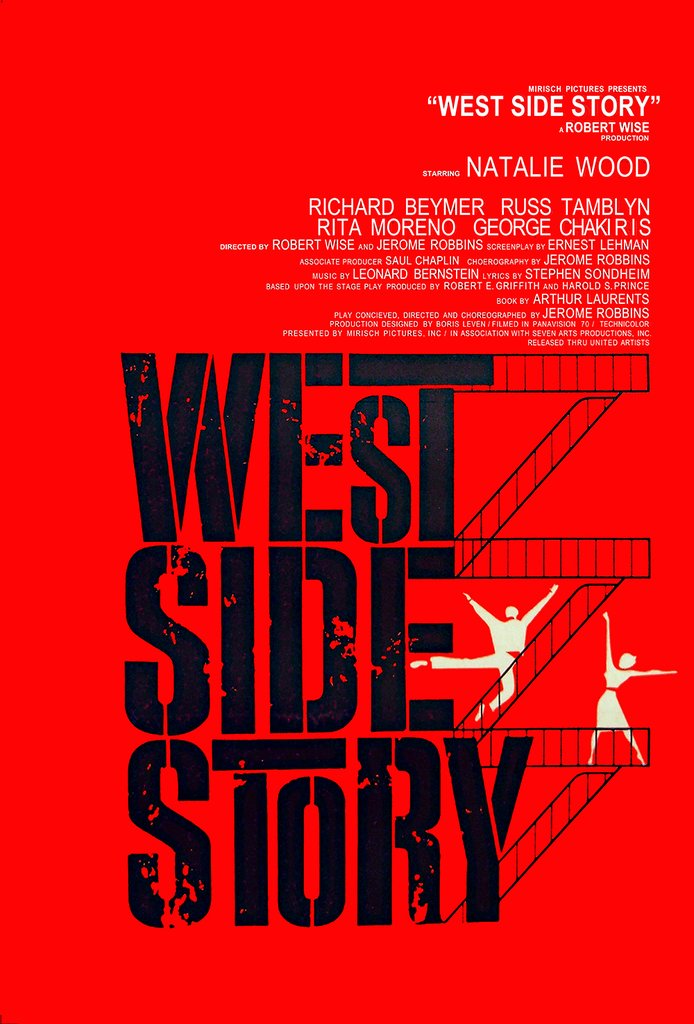
A história do cinema se confunde facilmente com suas obras, especialmente as clássicas e entre elas, certamente Amor, Sublime Amor é uma das mais notáveis. O musical vencedor de dez estatuetas do Oscar é uma adaptação de Robert Wise e Jerome Robbins sobre o musical da Broadway e narra a história de duas gangues rivais de Nova York: os Jets, garotos caucasianos que se consideram os nativos do país, contra os Sharks, formados por imigrantes e filhos de imigrantes latinos, a maioria sendo de Porto Rico.
O filme se inicia com uma tomada aérea de Nova York, mostrando-a como o palco das lutas, um coliseu urbano onde a “guerra” entre meninos ocorreria, mostrando um panorama pessimista sobre a juventude, que deveria ser ingênua e sonhadora, mas é agressiva e afeita a brigas.
Os Jets não demoram a aparecer, liderados por Riff (Russ Tamblyn), um garoto de boa aparência, mas de índole delinquente. Sua gangue é tão problemática e imoral quanto ele, e toda sua jornada envolve tentar convencer seu amigo Tony, feito por Richard Beymer, a regressar as práticas de violência e traquinagem.
Os cenários remetem a pobreza, os primeiros ataques se dão em áreas comuns, em quadras de basquete, esporte conhecido na época por abrigar marginais e drogados. A ação se desenrola progressiva e gradativamente, com belos passos de balé, jazz e dança contemporânea, e até demora um pouco para ter diálogos entre os personagens. A intenção era impactar pela dança.
Já os Sharks são mostrados como gente mais sofrida, que tem de lutar para viver e sobreviver. Liderados por Bernardo (George Shakiris), logo ocorre um baile onde moços e moças, ligados ou não aos dois grupos se reúnem, e é nele, que a jovem e inspiradora Maria (Natalie Wood) encontra os olhos de Tony, e os dois passam a se enamorar. Essa é uma releitura de Romeu e Julieta, clássico teatral de William Shakespeare, adaptado para a segunda metade do século XX, e o intento de tornar a história mais palatável é bastante acertada, já que o drama é mais próximo do comum ao público.
Tecnicamente o filme é impecável, seus cenários, mesmo quando são pequenos remetem a um cinemão, parecem amplos, em jogos de espelhos tirados direto do teatro. As coreografias de Robbins são boas, até Fred Astaire, mestre do sapateado elogiou o desempenho de Tamblyn, fato que fez o ator se preocupar menos com o seu modo de atuar e dançar. As atuações, apesar de histriônicos, combinam bem com a trama, ajudam a tornar esse melodrama em algo crível, um conto urbano verossímil, mesmo cheio de fantasias.
Se o primeiro ato, antes do intervalo soa cansativo, o ritmo da segunda parte compensa, especialmente por focar mais na personagem mais rica do roteiro, Maria. O círculo de mulheres porto-riquenhas tem mais questões problemáticas. Com situações realmente graves e mais fáceis de associar com a atualidade, mesmo que as canções girem em torno da mulher só ter sucesso quando consegue alguém para banca-la. Chega a ser engraçado como Maria trabalha e provém seu sustento sozinha no meio da cena onde sonha com seu Tony/Romeu, isso serve de comentário do quão tacanho era o pensamento da época.
Toda a sequência da música da versão de confronto em Tonight é sublime, as gangues indo em direção ao tão aguardado confronto, Tony e Maria sonhando juntos em pensamento, mas fisicamente distantes, só esse trecho é como uma opereta particular, que reúne desejos e anseios de fontes completamente diferentes, e resultam em tragédias particulares e comuns a todos.
A luta entre Riff e Bernardo é icônica, e serviu de inspiração para diversas obras artísticas, entre elas o hit Beat It, de Michael Jackson, além é claro dos clássicos “underground” de Walter Hill, tanto Warriors: Os Selvagens da Noite quanto Ruas de Fogo.
O final é dramático, triste e melancólico, e por mais que pareça conveniente demais o desfecho, não há como negar sua carga dramática. Amor, Sublime Amor é um clássico atemporal, e é fácil de se apreciar mesmo atualmente, exceto talvez por ter um ritmo um pouco arrastado, sobretudo para o espectador mais apressado, ainda assim, é uma história de pulso, sentimento, poesia e verve, como os clássicos shakesperianos eram.