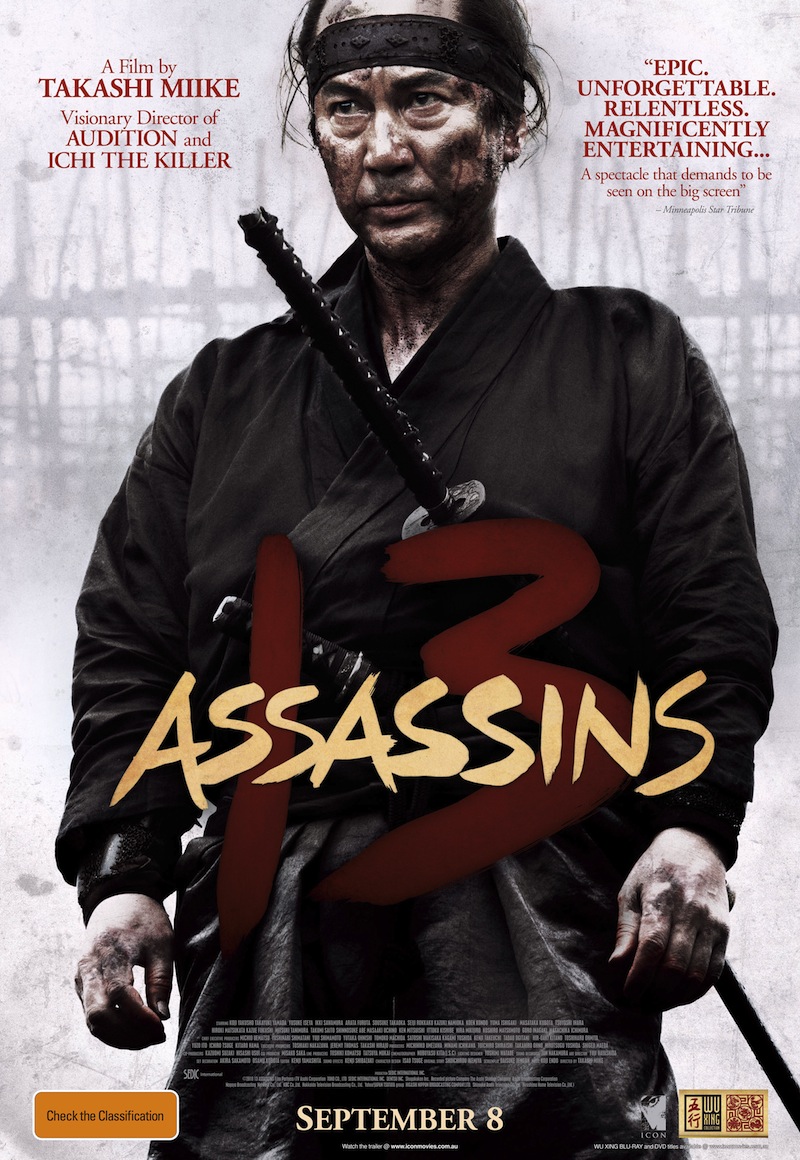Crítica | Vidas ao Vento
Vamos falar de amor? Pelo menos no que se difere da paixão, no limite das concepções deste mundo. Sim, l’amour, o componente imprescindível ao artista, homem de lata sem o dito, perturbado por natureza a quem, de fato, a paixão nunca engana por rimar sim com emoção, e não com a evolução para se tornar um sentimento mais que razoável: Invencível. A sede pelo fazer artístico e os desafios imediatos do mesmo. É uma questão de amor, nua e crua, pois quem não o carrega não suporta a produção de um filme por mais de duas horas; tempo suficiente à curiosidade (paixão) evaporar. Cinema não é sexo, é fazer amor sem preservativo, e das crias de Hayao Miyazaki, Vidas ao Vento não poderia faltar nos porta-retratos da estante do avô. “Eu esqueci como é o arco-íris”, desabafa um dos personagens, persona de Santos Dumont e Yasujiro Ozu (que o leitor interessado entenda o porquê da comparação), casado com sua ambição profissional pelo voo; fiel a enfrentar e interpretar as tempestades da vida, eterna criança com seus aviões de papel por aí. L’amour.
Ar é liberdade, elemento que forja e depois liberta a alma mais densa da expressão humana, contra a derrota face ao terrível solo. É astuto manter, além de um dos pés no chão, as asas bem abertas a tecer a aquarela de Toquinho feito simbolismo que é, aqui, pincelado em extrema graciosidade em grado 2D, minucioso e rico como o ponto de assimilação entre duas cores do mesmo prisma. Cada avião contém uma tonalidade num mundo paralelo ao século XX, numa das versões ficcionais e líricas mais bem sucedidas da brutal realidade bélica entre as décadas de 1940 e 1950 no gênero de animação, se assim deve ser apontado, justamente por não fugir da atmosfera imprevisível que tomou o planeta de assalto, e inserir neste cenário uma perspectiva não apologética, pro bem e pro mal, no contexto da guerra, em especial. A guerra é de um ser humano consigo mesmo, o que não deixa de ser corrente em qualquer confronto solitário.
As cores agitam a saliva – atiçam nossas digitais e o que habita a sagacidade do toque; dos matizes, os gostos – do peculiar, os signos e as digitais graças ao traço inconfundível das produções de um ilusionista pertencente à classe dos que servem à preservação do valor de velhos truques, mas também com a importância latente do fator visionário e o bem-estar do Cinema à frente de qualquer legado, exceto o que pode vir a ser construído nos avanços do presente e na honraria de um pretérito oxigenado; é preciso de uma história a se contar.
Vidas ao Vento é a assembleia pública e o manifesto social de um artista solitário em seu ponto de vista único, e que trabalha em grupo, para com um público global mais e mais deficiente de honestidade cinematográfica, e uma brisa, em meio à aridez da maioria das obras pós-modernas, é bom ressaltar: Miragens, inofensivas como um sopro. Não é este o caso de Miyazaki.
O relógio bate em duas horas ao passo do criador de Meu AmigoTotoro (1988) e A Viagem de Chihiro (2001) bater o martelo na concepção sensorial proposta, de leves furos de roteiros e digressões de consciência dramática, quase imperceptíveis quando o foco aponta no modo de narração da trama e levanta voos mais altos tanto na elaboração referencial a alguns expoentes de sua própria filmografia, desde o must-see obrigatório e três vezes decenário Nausicaä do Vale do Vento (1984), até na certeza irreversível, a partir de um ponto da carreira, de haver sim um sentido não mais oculto para que aviões de papel não sejam mais o bastante. Não mais.
Ao infinito e além, é claro, porém, ainda a respeito do passado e suas implicações estáveis, Miyazaki é o único diretor de animação vivo que, agora, com a desculpa de usar um viés leve, humanitário e poético nas invenções da 2° Guerra Mundial, junto das próprias em forma de personagens que não existem sem suas invenções, revive e mantém, de forma que nenhum estúdio de animação francês ou americano consegue, o conceito atemporal da “moral da história”, aquela dos idos de Walt Disney e outros contadores de arranjos, de outras mídias e olimpos, como se o cineasta e seu lendário estúdio Ghibli ordenassem uma reverência ao que já foi conjurado até aqui. Talvez porque a paixão do vovô pelos seus netos já tenha virado amor há muito. Não há mais volta, aliás.