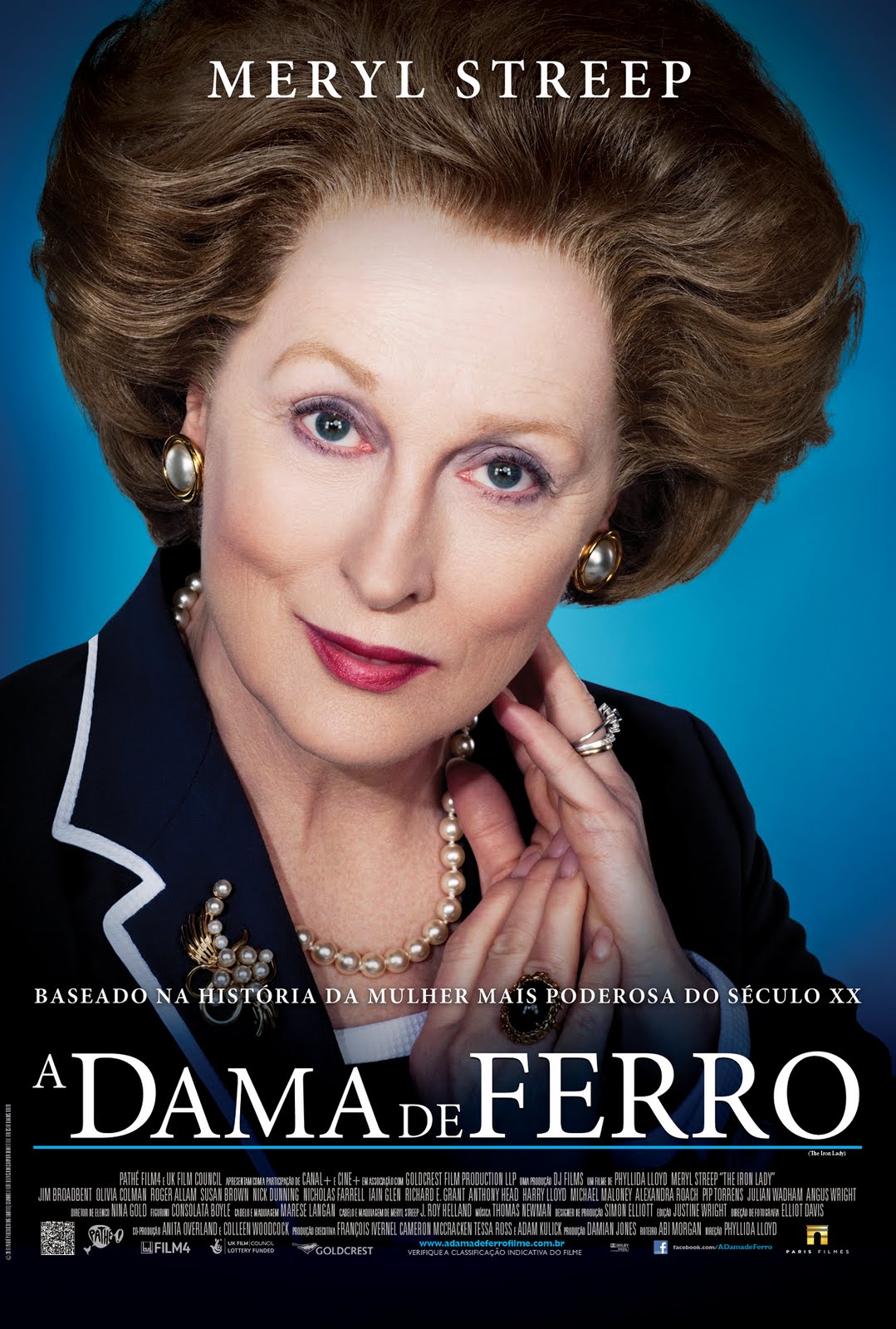Crítica | Poderia Me Perdoar?

Filme que entrou no circuito de premiações recentes, Poderia Me Perdoar? é uma cine biografia que mostra a vida e rotina triste de Lee Israel, uma escritora com claros problemas de relacionamento, que se vê em uma situação limite, sem dinheiro para sustentar a si e a sua gatinha já idosa, com a situação agravada quando logo no início ela perde seu emprego, sua atual e única fonte de renda.
O longa dirigido por Marielle Heller – a mesma que fez o divertido Diário de Uma Adolescente – tem Melissa McCarthy no papel principal, fazendo uma pessoa de gênio forte, deprimida, com praticamente nenhum amigo e que sofre de uma sensação agorafóbica enorme, com uma clara dificuldade da mesma de ter convívio social. Lee aparentemente escreve bem, mas sua inabilidade em lidar com qualquer pessoa a faz soar desinteressante não só para o convívio social, mas também para oportunidades profissionais, uma vez que sequer sua agente costuma recebe-la.
Essa rotina é quebrada quando o personagem de Jack Hock (Richard E. Grant), um homem que durante sua juventude frequentou as altas rodas e que na atualidade da historia vive de pequenos delitos. O roteiro baseado no livro auto biográfico de Israel não é muito sutil, mas essa introdução dos personagens podem ludibriar o espectador, fazendo ele acreditar que o texto trata mal essa relação de Jack e Lee, fato é que essa é uma das poucas coisas no filme que funciona quase a perfeição.
O inicio do drama de Israel é extremamente melodramático, para mostrar o quanto a personagem é mal compreendida McCarthy é obrigada a passar por muitos momentos constrangedores, onde uma porção de clichês aparecem para explicar o motivo dela ser mal vista por terceiros, construção essa típica de literatura em folhetins.
A música de Nate Heller ajuda a maximizar o incomodo, ainda mais no início. A trama começa a se tornar mais suportável quando Lee cede a tentação de cometer pequenos delitos para conseguir algum dinheiro para se sustentar. O começo dessa nova tentativa de lucrar é bem tímido, e ao menos nisso Heller acerta bastante, ao desenvolver de maneira gradual a escalada de coragem pela qual passa Israel, que vai ousando de acordo com o feedback que recebe. A questão é mesmo nos bons e emocionantes momentos se vê um moralismo exacerbado, com uma lição quase bíblica a ser entendida pela protagonista, de que um abismo chama outro abismo, e nada poderia ser mais avesso a vida e estilo de Lee Israel do que ensinamentos cristãos.
Ao menos em um quesito o filme acerta demais, na construção do suspense e da tensão. Mesmo com um script repleto de problemas e buracos, o desempenho de McCarthy e Grant faz o espectador se pegar torcendo pelo sucesso dos personagens, mesmo sabendo que o que fazem é moralmente errado. É a performance dos dois atores que faz com que Poderiam Me Perdoar? seja um pouco mais tolerável, visto que o drama apresentado é apelativo e medíocre em sua exploração emocional.