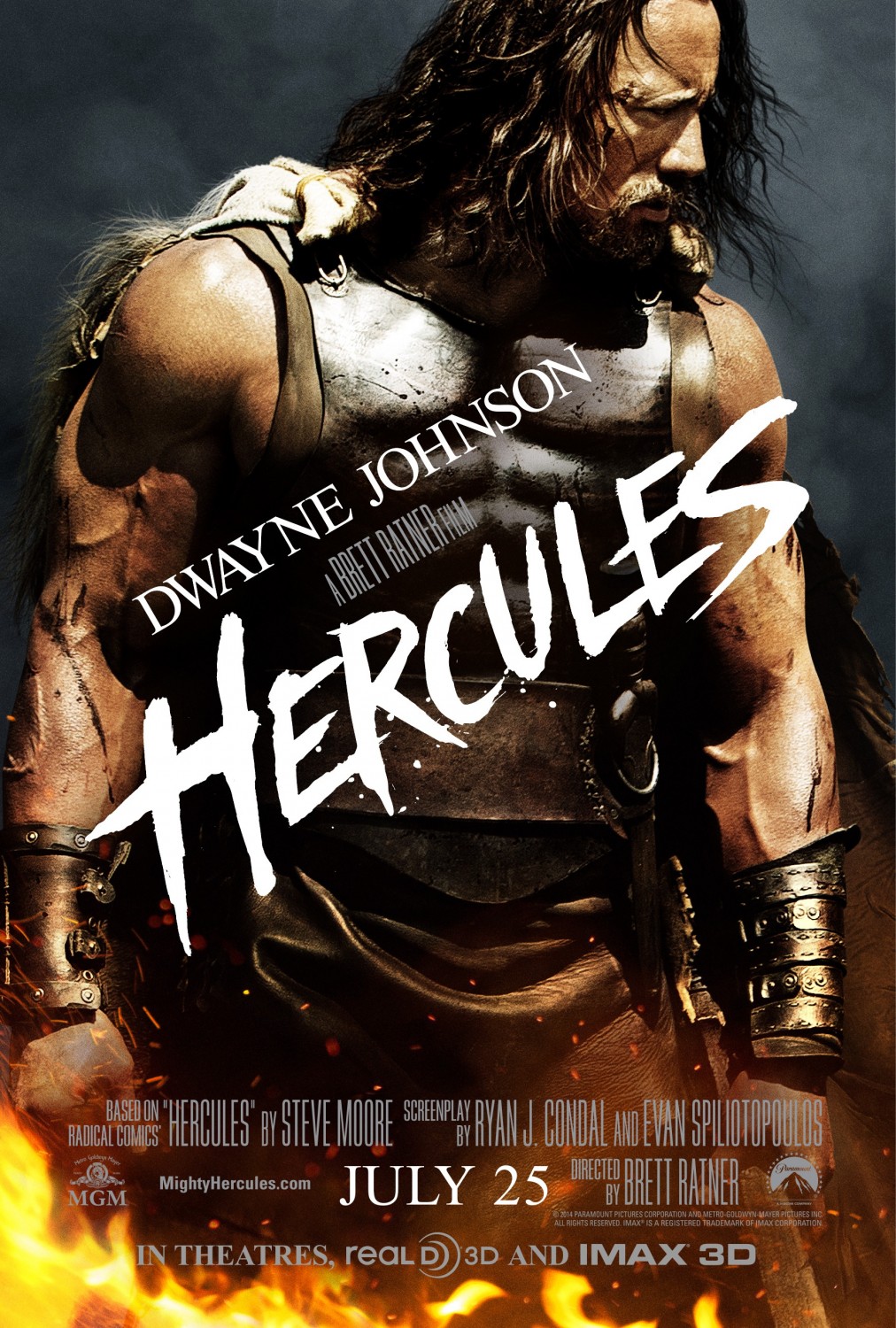Crítica | Meu Pai

Logo, logo, Anthony não vai mais lembrar quem é. Nem seu nome, nem seu endereço, muito menos sua família, ou a história da própria vida. Meu Pai é a adaptação da peça homônima que nos convida à verdade: a pior dor, vem a conta-gotas. Perder o pai, aos poucos, dia após dia, acaba com sua filha Anne, que precisa viver sua vida (mulher casada e prestes a viajar a trabalho) numa Londres ensolarada, que convida ao progresso, a ser feliz. Sem enxergar o pai como âncora, Anne faz o seu melhor, contrata cuidadoras, mas às vezes chora na cozinha, na cama com seu marido que não aguenta mais ser “vítima” dos problemas de demência do velho sogro. Todo dia, um absurdo diferente, “roubaram meu relógio”, grita o idoso. “Eu quero minha mãe.”, “Quem é essa mulher?”, e enquanto isso, Anthony definha a olho nu. Um bebê de oitenta anos.
Mas Anthony não quer ser um problema para ninguém, não admite ser vítima do próprio transtorno. Entre as várias possibilidades de interpretação, Meu Pai explora o caminho para o fim numa contagem regressiva hipnótica, graças também à sua ótima e discreta edição. A questão, portanto, é clara desde o início, e nosso subconsciente percebe isso desde os primeiros cinco minutos do filme: até que ponto vale a pena tornar menos doloridos os nossos dias, e achar caminhos para isso, já que o pesar não é uma escolha para uma situação familiar tão difícil, como essa? Se enganar é uma boa opção, ou seria melhor aceitar o desafio, e se preparar, ao invés de fugir, ou pior: fingir que tudo irá melhorar? Anthony só vai piorar, mas Anne mente a si mesma, chegando a ponto de imaginar a morte do patriarca, até que chega uma hora que a demência do pai não tem mais volta, e é preciso ser adulto em relação a vida. Seja lá o que isso signifique.
É de Florian Zeller a peça original, e o filme de 2020 também, sendo que grande parte do sucesso indiscutível de Meu Pai deve-se ao fato de Zeller não transformar seu filme, em teatro filmado – como é o caso de A Voz Suprema do Blues, infelizmente. Produto cinematográfico de altíssimo nível, Meu Pai torna-se graças a astúcia de Zeller um legítimo representante do cinema francês (europeu, mas especialmente francês) falado em inglês, aprofundando o drama humano sem exageros, orgulhosamente elegante em cada plano, mas repleto de pequenos grandes momentos pontuais, coerentes a trama como um todo. Mas o clímax do show são dois titãs em cena: um monstro sagrado de Hollywood, e uma rainha em ascensão. Anthony Hopkins faz, aqui, apenas a atuação da sua carreira, e Olivia Colman volta a interpretar uma mulher simples, bem longe do luxo monarca, com absoluto brilhantismo. De se rasgar elogios, e não apenas lágrimas e espanto, para suas atuações que contribuem, e muito, para tornar a obra uma experiência devastadora.