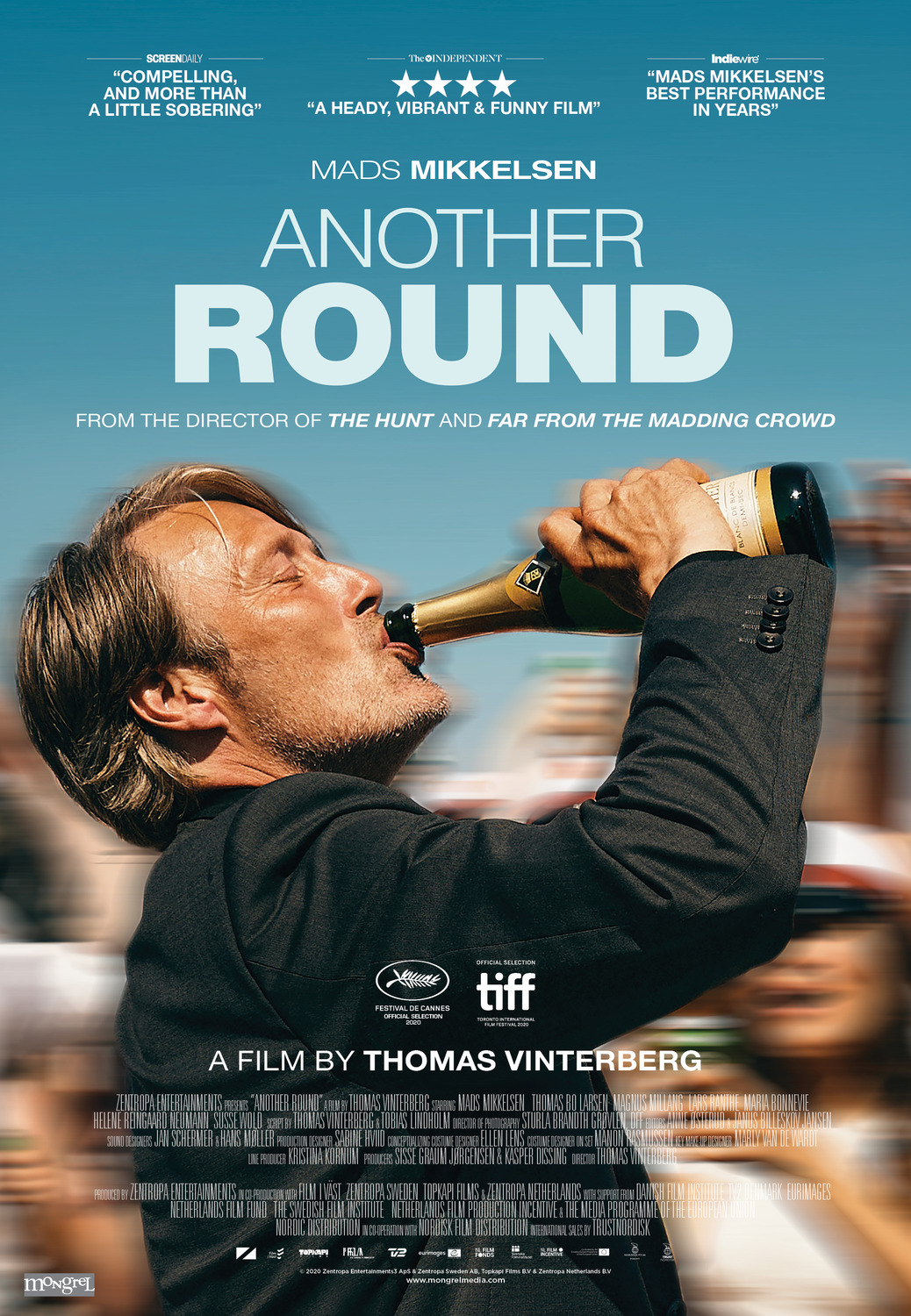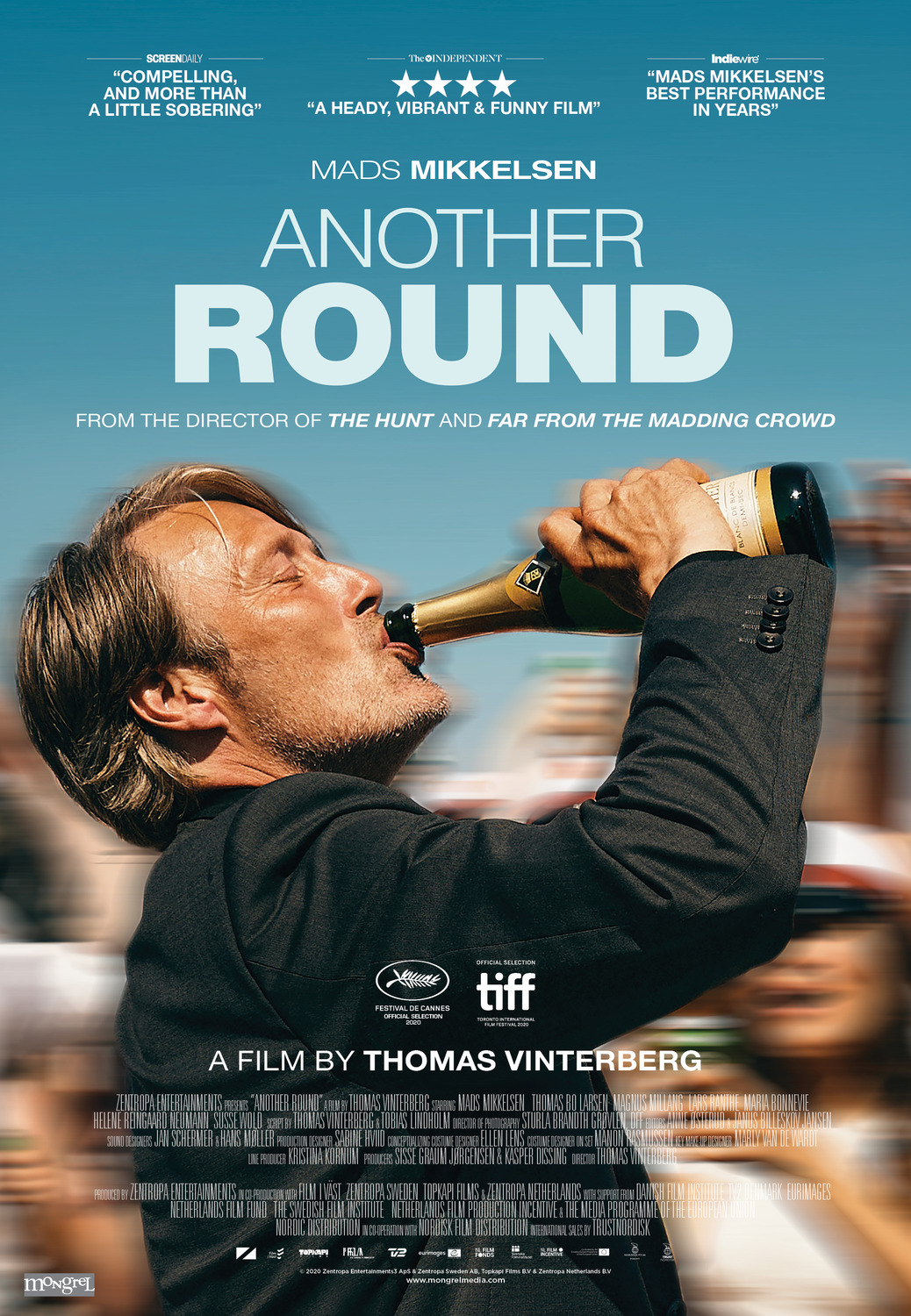Critica | Collective

Collective é um documentário sobre um incidente incendiário em Bucareste, na boate Colectiv, que matou 27 e feriu 180 pessoas. O longa-metragem de Alexander Nanau investiga as fraudes do sistema político da Romênia a partir do vazamento de informações que um médico fez a um grupo de jornalistas. Fraudes que assustaram a opinião pública local mas que são bastante comuns em outros cenários, como a política brasileira. O diretor teve acesso aos bastidores políticos e apresentou o seu panorama jornalístico e cinematográfico a respeito do incidente.
O filme indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro e Documentário trata primeiro da tragédia em si, do impacto que ela causou em quem estava no momento que o fogo tomou a casa e nas pessoas que cercam as vítimas. Depois, explora a historia periférica da politica romena e, em meio a isso, sem esquecer dos detalhes das historias dos sobreviventes. Aborda questões pesadas de quem teve a vida comprometida por conta do fogo, momentos que conseguem emocionar sem soar piegas.
Os personagens são meticulosamente escolhidos. Há sutileza ao se tratar dessas tramas, as personagens não são tratadas com comiseração. Nanau traz uma estética que foge do simples clichê e da estrutura quadrada de documentários com entrevistas e voz em off. Há inclusive cenas do dia em que ocorreu o incidente, imagens de câmeras internas cuja resolução é bastante aprimorada e que mostram detalhes do horror ali presente. A cena que mostra o show de metal com o fogo correndo o teto e caindo sobre o tecido improvisado, logo após o termino de uma música, é dantesca. Mesmo nessas gravações se nota que a performance musical poderia ter tornado aquele momento em algo ainda mais trágico.
O impacto do filme é amplificado por conta dos infelizes escândalos de corrupção ligados a pandemia que ocorreram no Brasil e no mundo, pois o caso da Colectiv também deveria causar nas autoridades certa solidariedade e não ganância desenfreada. A exemplo do que ocorreu em várias praças durante a pandemia do novo coronavírus, houve aproveitamento ilícito e inoportuno de autoridades desonesta. Mesmo que o longa tenha alguns problemas de ritmo, sendo bem arrastado em vários pontos, o seu apelo é real, trata de questões muito delicadas e importantes não só dentro do seu cenário nacional, mas também além fronteiras já que encontra eco em situações vistas no mundo inteiro.









 “Olha como eles veneram a natureza, quem faria isso em Nova York?”
“Olha como eles veneram a natureza, quem faria isso em Nova York?”