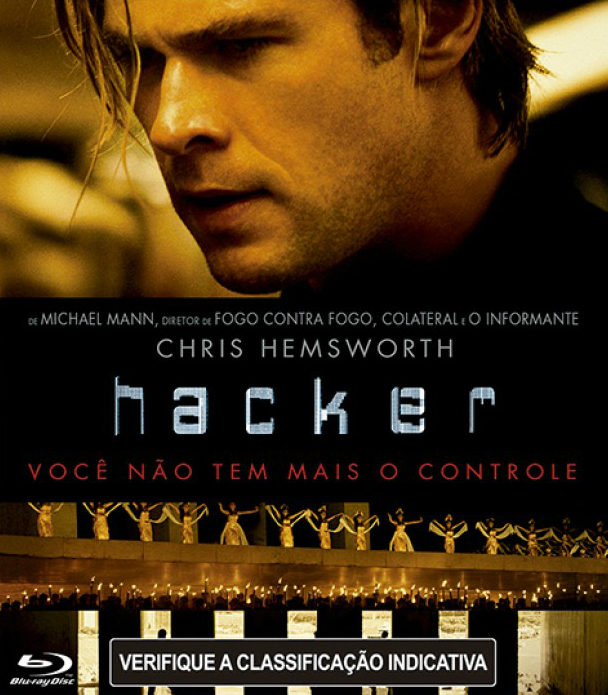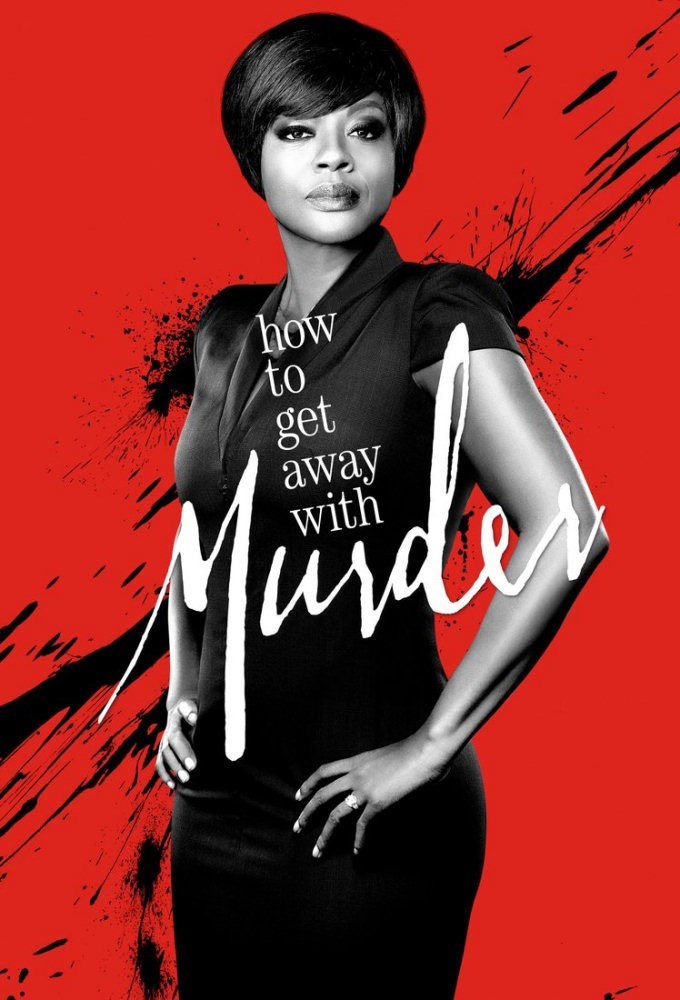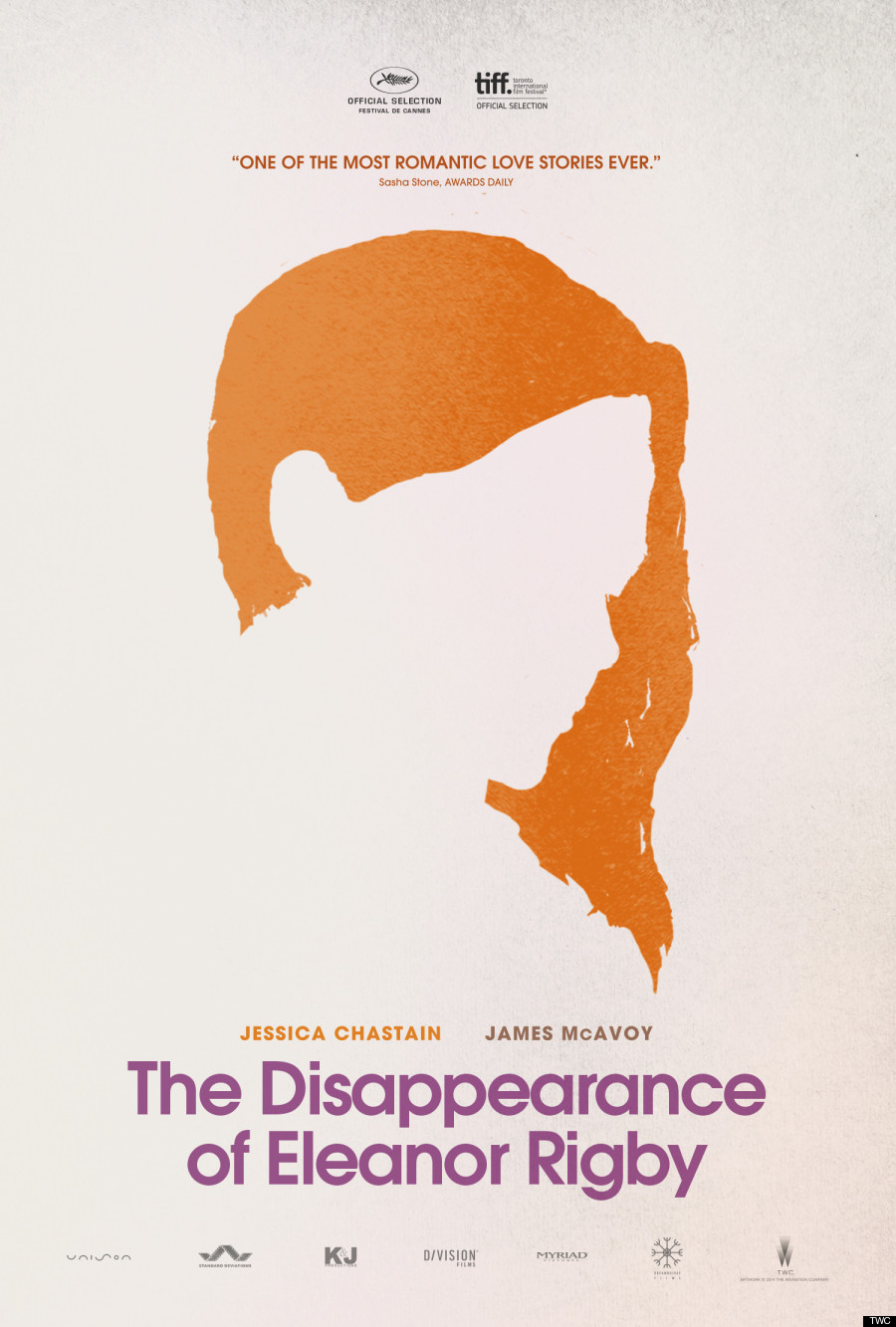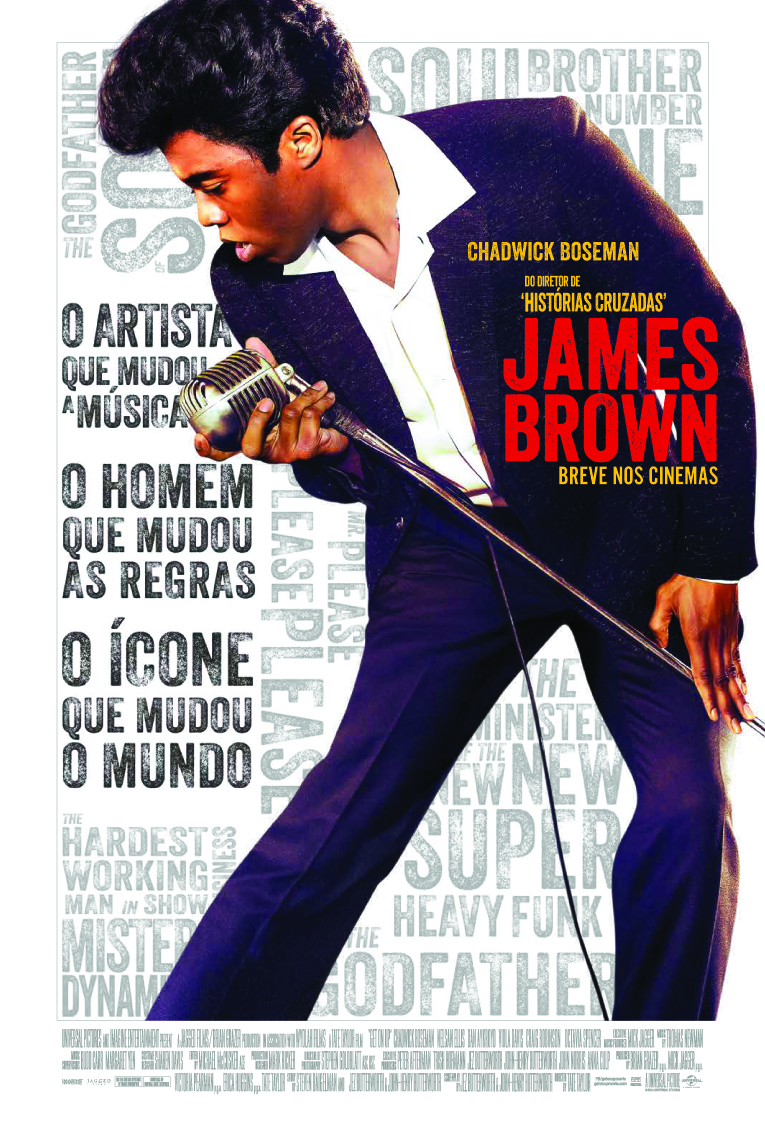O Esquadrão Suicida: Melhor filme da DC?

Vamos aos fatos: por mais que eu seja um grande fã dos quadrinhos da DC e tenha sempre torcido para que seu universo cinematográfico fosse tão bem-sucedido quanto o da Marvel, todos concordamos que a casa de grandes personagens como Batman, Superman e o Esquiador Escarlate vem patinando em suas adaptações live action. Fica muito claro que, para se afastar da concorrente, a DC apostou em retratar seu universo de forma mais realista, sombria, séria… O que se mostrou ser uma tremenda de uma bomba, já que seu universo capitaneado pelo “visionário diretor Zack Snyder” se mostrou muito aquém do esperado. O Homem de Aço, primeiro filme desse universo estendido, mostra um Superman confuso e sombrio, o oposto do que ele deveria ser e representar. Estaria tudo bem se isso fosse arrumado na continuação, mas Batman vs Superman: A Origem da Justiça consegue ser ainda mais confuso e fora de propósito. Os fãs, evidentemente, esperariam que tudo se encaixasse no Liga da Justiça, de 2017, e a lambança foi ainda maior! Para que esse universo faça algum sentido, foram precisas uma versão estendida de BvS e um novo corte de 4 horas de Liga da Justiça de Zack Snyder. Ainda assim, é muito mais fácil acompanhar vinte e tantos filmes da Marvel do que ter que fazer um curso de várias semanas para entender minimamente o tal Universo Estendido da DC.
Mas aí vieram uns pontos fora da curva. Aquaman deu uma banana marinha pra essa linha darkzêra e nos mostrou um filme extremamente colorido e divertido, com uma história aventureira que fez com que o herói mais zoado dos Superamigos se tornasse cool nos dias de hoje! Shazam! foi outra grata surpresa, trazendo um quê de Ben 10 pro personagem e imediatamente criando identificação tanto com o público infantil quanto adulto (que viu ali aquele clima nostálgico do Tom Hanks em Quero Ser Grande, só que com poderes). Arlequina e as Aves de Rapina também foi um filme muito divertido, tendo como principal qualidade o fato de irritar nerdolas que reclamam de “lacração” (hahahahahahahahahaha, eu não me aguento! Hihi!). E logo depois, no mesmo ano, a diretora Patty Jenkins provou que mulheres podem, sim, estar no mesmo patamar de diretores homens que fazem filmes ruins, lançando Mulher Maravilha 1984, que inovou em seu estilo sendo uma bomba de qualidade inversamente proporcional a do primeiro filme da Amazona, de 2017.
E aí temos O Esquadrão Suicida!

Voltemos no tempo um pouquinho antes de falar dessa novo filme. Esquadrão Suicida, filme de 2016 que nos apresentaria pela primeira vez nos cinemas a Força-Tarefa X, foi um fiasco! A história que chegou aos cinemas quase não fazia sentido, a equipe pequena deixava claro que quase ninguém morreria (exceto o injustiçado Amarra) e a ameaça que eles enfrentaram era risível (uma feiticeira rebolante). Fora o Coringa, que andava pelo entorno do filme sem propósito algum para a trama e que não faria falta alguma se fosse completamente limado do corte final. Aliás, dizem que existe um “snydercut” do filme do David Ayer que seria melhor do que aquilo que vimos. Bobagem, não tem conserto não! Mas por alguma razão que ninguém sabe qual (cof, cof, Arlequina, cof), o filme acabou caindo nas graças da galera do marketing e rendeu boas vendas de cadernos, camisetas e tatuagens de palhacinhas. Esquadrão Suicida, afinal, era uma excelente ideia, só que porcamente executada. Merecia uma segunda chance. E aí veio o filme de 2020.
Os primeiros 14 minutos de O Esquadrão Suicida é tudo que o filme inteiro de 2016 deveria ter sido! Uma missão secreta de infiltração com vilões altamente dispensáveis, ação, traição, mortes e execução por deserção, tudo está ali! Em CATORZE minutos! Não é preciso muito tempo de tela pra se explicar do que se trata a Força-tarefa X, nem por quê eles têm o apelido de Esquadrão Suicida, nem muito tempo explicando o background de cada personagem, porque eles são descartáveis. Um cara russo que é proficiente em arremesso de dardos, um que ninguém sabe quais são os poderes, outro que é, literalmente, uma doninha… Ótimo, vamos pra ação!

Uma coisa que vemos muito em filmes de heróis é a economia de personagens, principalmente vilões. Geralmente, não usam muitos para não desperdiçar o que poderia ser usado mais tarde, ou apenas mostram um vislumbre, como foi com o Darkseid no Snydercut, para que se plante a semente de um filme futuro que, na real, nunca acontece. James Gunn faz o oposto disso. Nunca usaram o Starro como vilão em nenhum filme da Liga? Bora botar ele aqui! Pacificador, Sanguinário, Bolinha…? AH, MANDA PRO PAI! Não tem nenhuma vergonha de se utilizar de personagens que, vamos ser sinceros, não teriam outra chance de aparecer no cinema mesmo! Diferente de Snyder, que parece ter vergonha de personagens galhofa como o Jimmy Olsen (que ele matou na versão estendida de BvS), Gunn abraça a estética dos comics em todos os elementos de seu filme, seja nos uniformes bregas como o de Dardo ou do Pacificador, seja na própria narrativa. O diretor não tem vergonha de colocar dois personagens em CGI totalmente irrealistas para os padrões Snyderescos, e nos brinda com Doninha e Tubarão-Rei, sendo esse segundo o mais carismático de todo o filme (com voz do Garanhão Italiano Sylvester Stallone).

O Esquadrão Suicida é um filme que não tem vergonha de suas origens nos gibizinhos. Ao contrário, abraça todo esse absurdo, conta com a suspensão de descrença do público e nos entrega diversão amalucada e violenta da mais alta qualidade! Claro que, passada algumas semanas de seu lançamento, já sabemos que o filme flopou nas bilheterias. Infelizmente, isso se dá mais por questões externas, como o marketing confuso (é uma sequência, um remake ou um reboot?), a classificação indicativa alta, o elenco com grande número de personagens desconhecidos e, obviamente, a pandemia que impossibilita a lotação das salas de cinema. Ainda assim, é possível que o filme tenha lançado algumas das sementes que germinarão nos próximos filmes da DC, tanto no tom quando na estética e, esperamos, com bons roteiros e direção ousada. Pode não ser o melhor filme da DC de todos os tempos, mas com certeza é o mais importante dessa década!