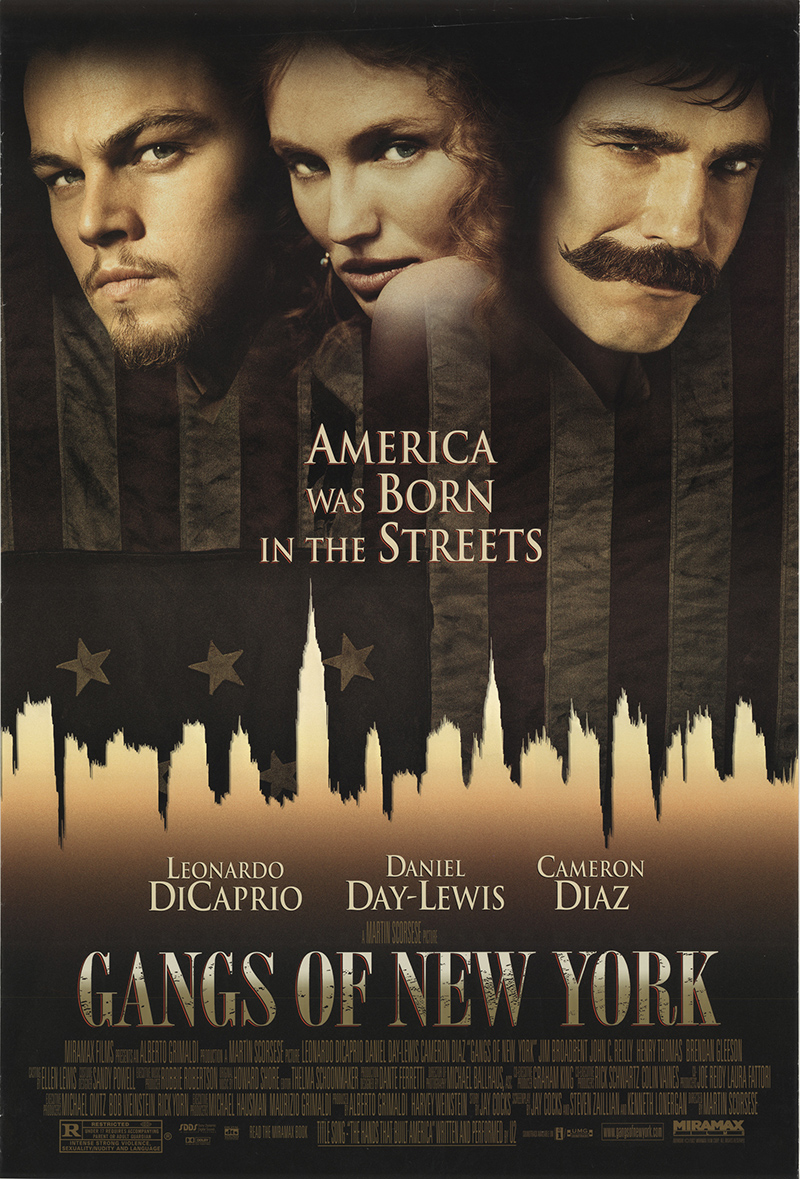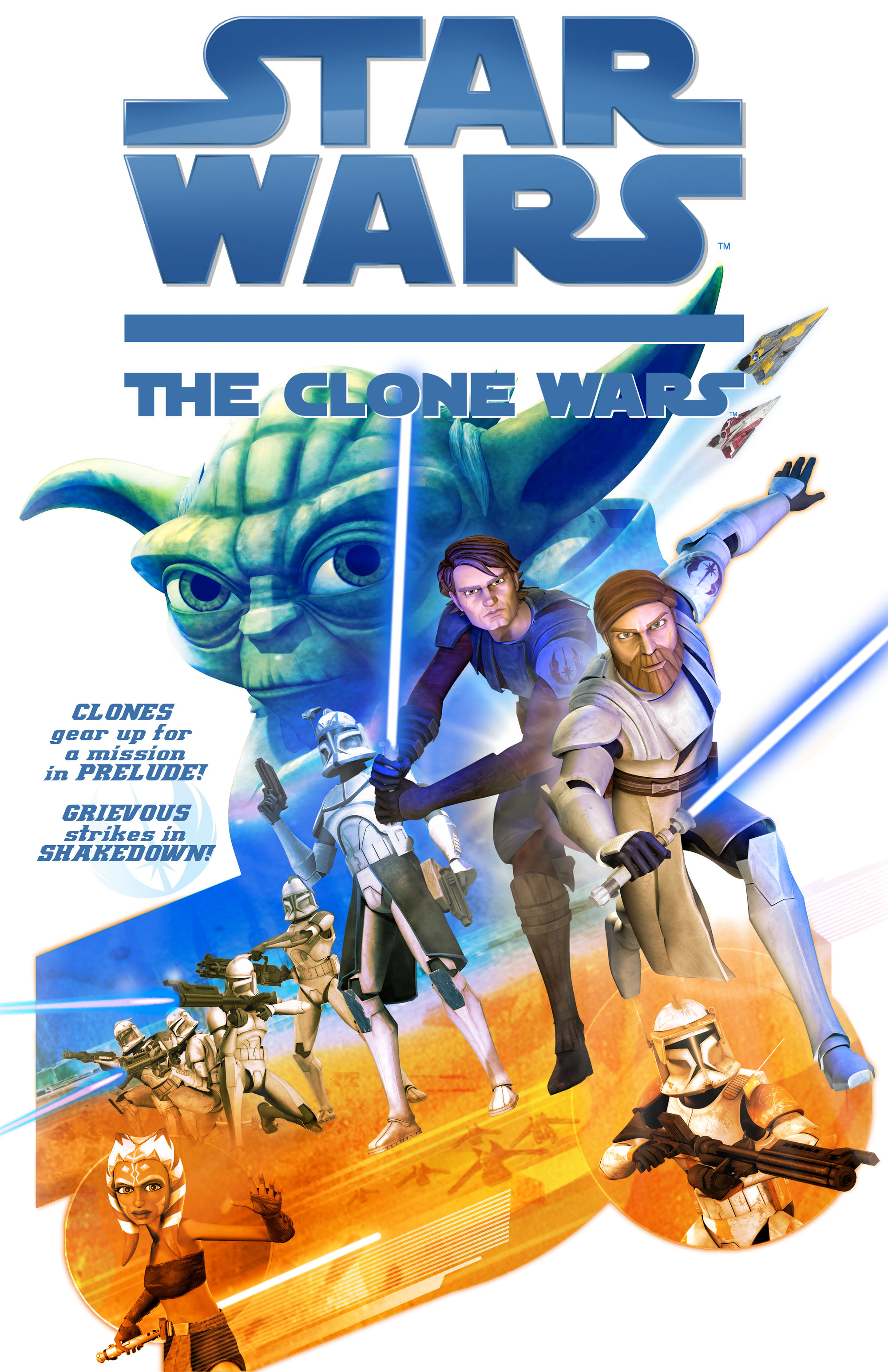Crítica | Vingança a Sangue Frio

Vingança A Sangue Frio começa nas planícies frias de uma montanha, em um cenário que já dá mostras da rotina de Nels Coxman, personagem de Liam Neeson que ganha a vida removendo a neve com um carrinho especializado em Kehoe, Colorado. Nesse ínterim, o roteiro de Frank Baldwin (baseado no livro de Kim Fupz Aakeson) mostra a família do personagem, sua esposa Grace (Laura Dern) e seu filho Kyle (Micheál Richardson). Não demora a uma tragédia acontecer, o filho dos Coxman perece, por conta de um traficante que o mata, sem que ele tenha qualquer culpa no caso.
O texto se dá ao trabalho de mostrar os processos de luto de maneira bem teatral e até lúdica. Neeson tem feito muitos papeis parecidos e o modo como se aborda esse tema (que aliás é recorrente, uma vez que vingança é quase uma especialidade na carreira recente dele) aqui é bem pensado, com novos elementos, de culpabilização do protagonista, envolvendo até pensamentos suicidas.
O diretor Hans Petter Moland escolhe ângulos diferenciados para mostrar a violência nos atos do pai vingador, variando entre cenas em que um gore moderado e estilizado ocorre, e os golpes que ele dá nos algozes de seu clã. Há uma crueza nessas cenas que faz o filme beirar o poético, a violência não tem glamour, mas possui charme demais ao contrastar com os belos cenários e com toda a direção de arte mega esmerada do filme.
As tiradas cômicas, envolvendo o procedimento de esconder os cadáveres dos assassinos de Kyle faz lembrar a abordagem que os irmãos Coen dão aos seus filmes com Máfia, principalmente Fargo , Ajuste Final e Gosto de Sangue. Outro ponto em comum com os filmes de Joel e Ethan mora na sensação de não ter mais nada a perder do personagem que leva para frente a jornada do herói. Seu caráter que muda, sua postura inconsequente e vontade de não existir passa por cima de seu bom senso e até da preocupação com os que ficaram, ou seja, a trama não é inconsequente, mas ele, é.
As mortes do filme são acompanhadas de um letreiro preto, que mostra o nome do assassinado, e um símbolo junto a isso. Em alguns pontos, a utilização desse artifício soa pedante e repetitiva, mas tanto a trama de vingança, que une personagens diferentes em torno do mesmo objetivo, quanto as mortes supre criativas dando ao filme um ar satírico diferenciado, ainda que o riso causado no espectador seja mais uma mecanismo de defesa contra a violência exacerbada da historia do que algo genuinamente engraçado.
Vingança a Sangue Frio soa um pouco exagerado, em especial quando precisa parecer algo estilizado e diferenciado, mas tem muito mais acertos que equívocos, e aborda a amargura humana e dificuldade do enlutecer de maneira bem certeira e até onírica.
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.