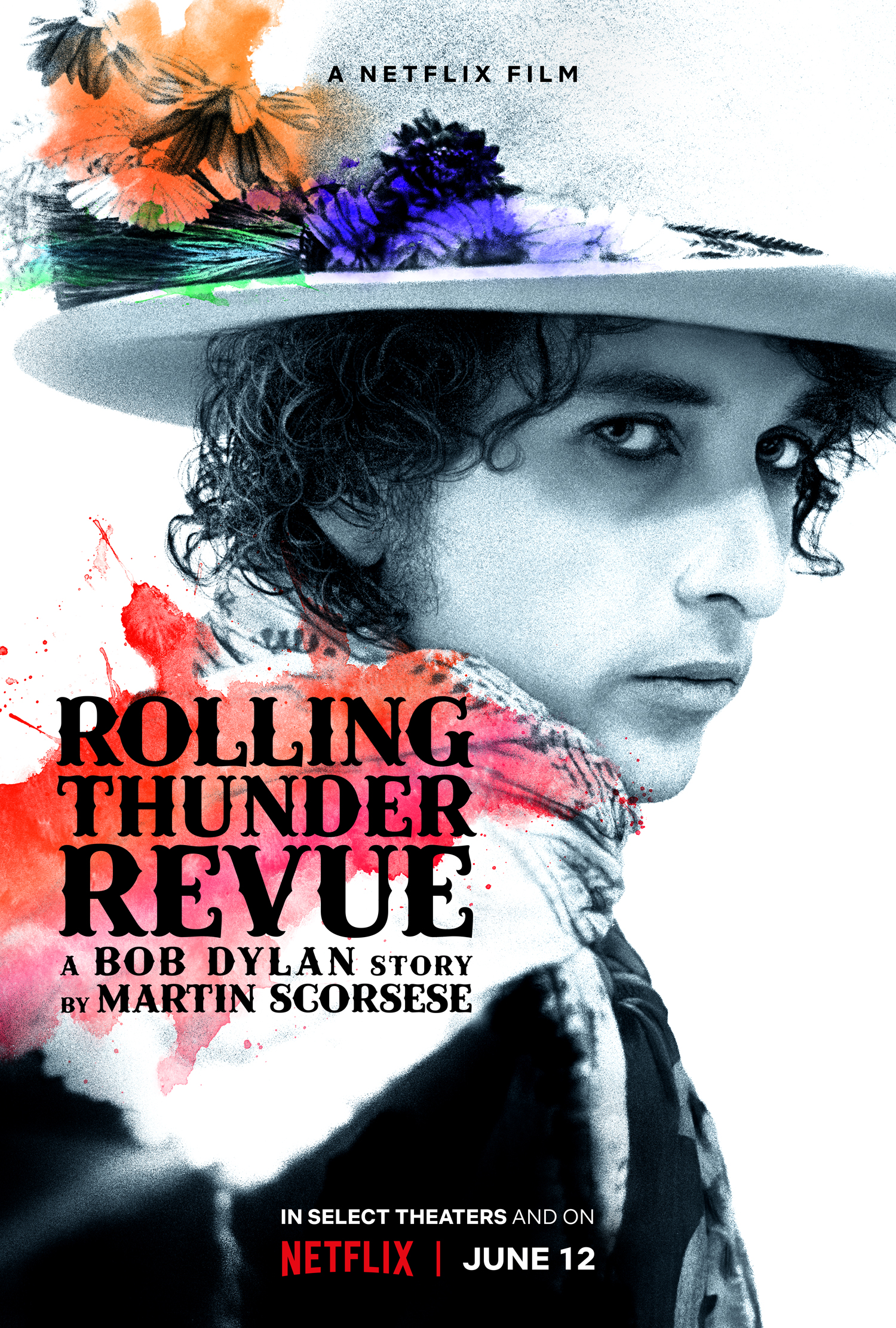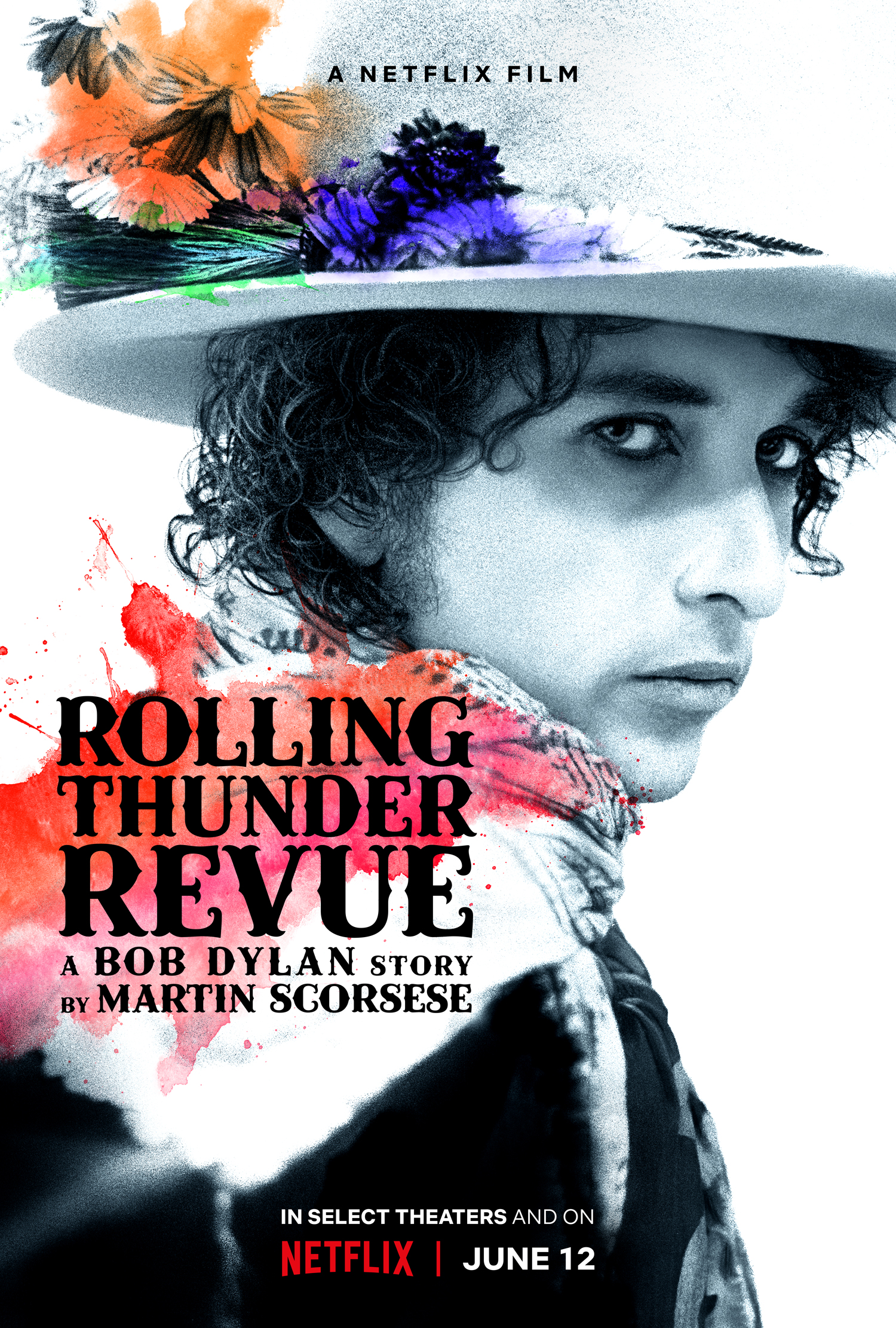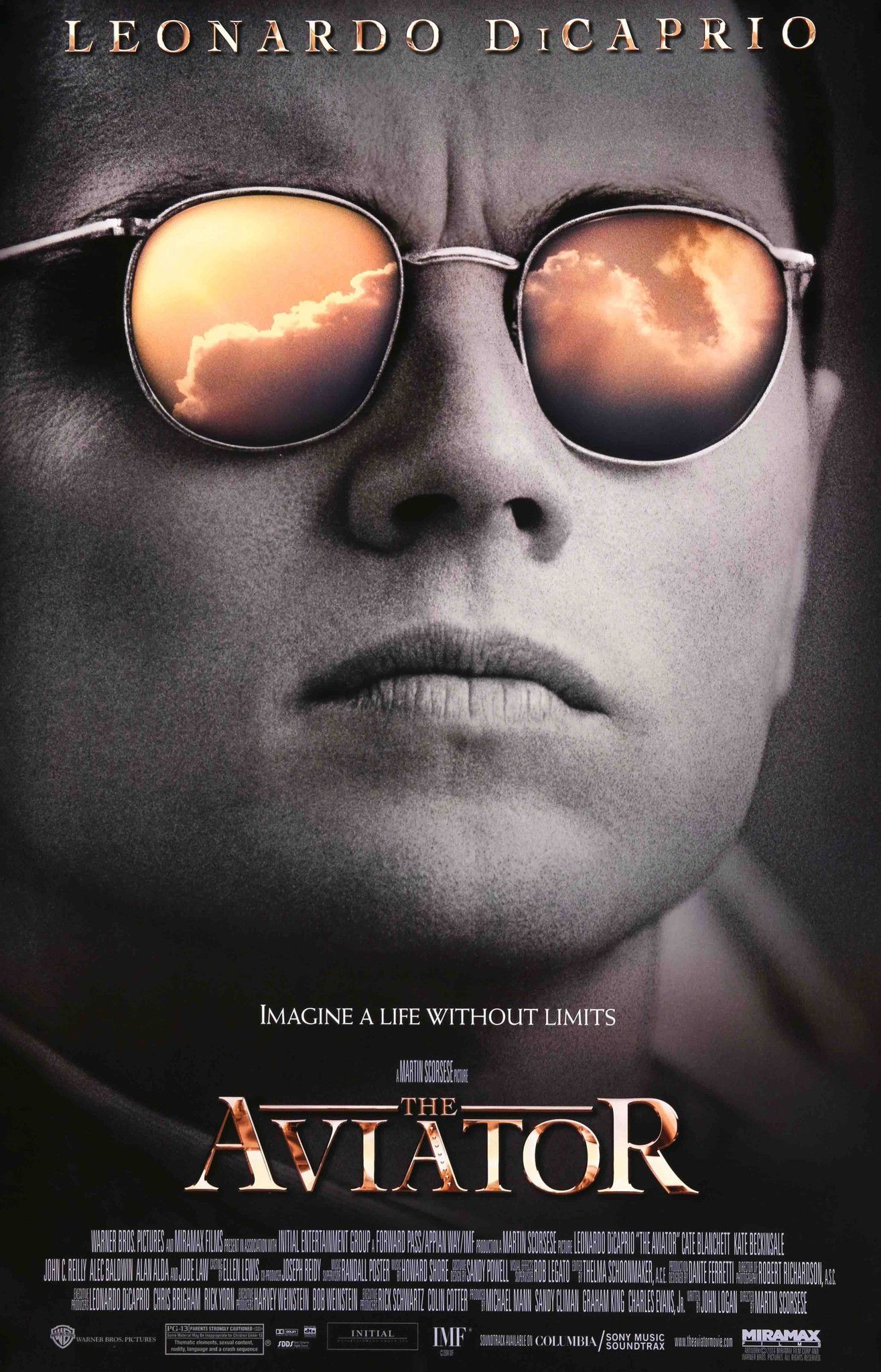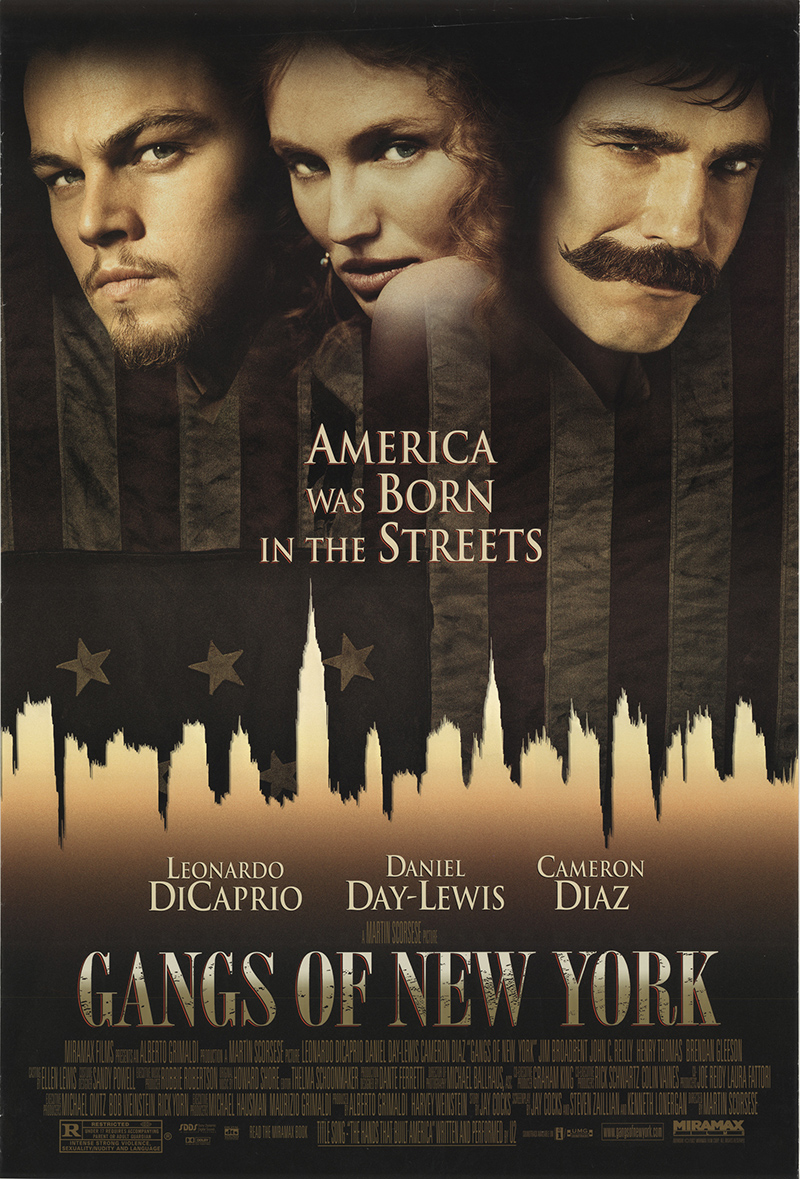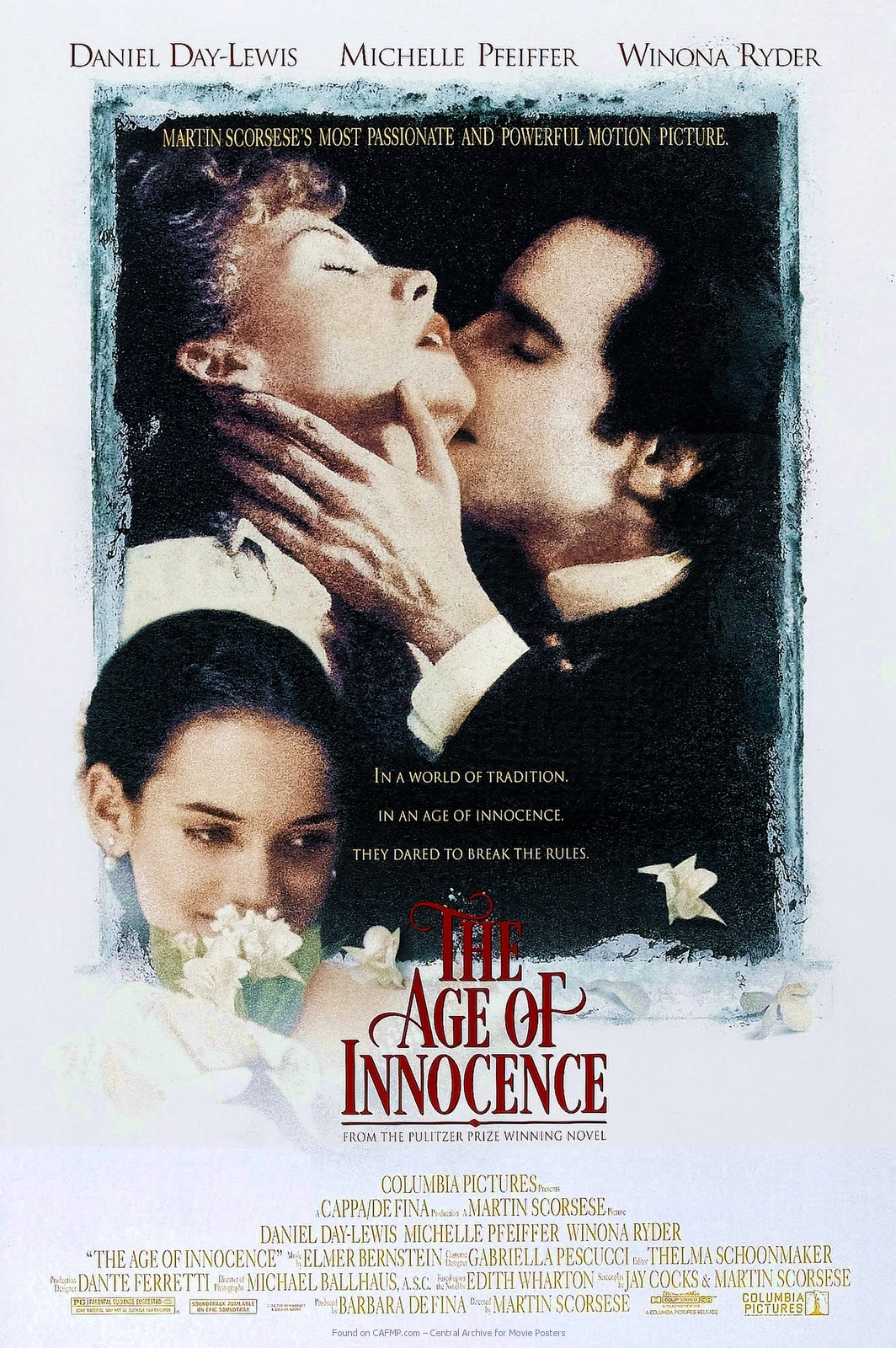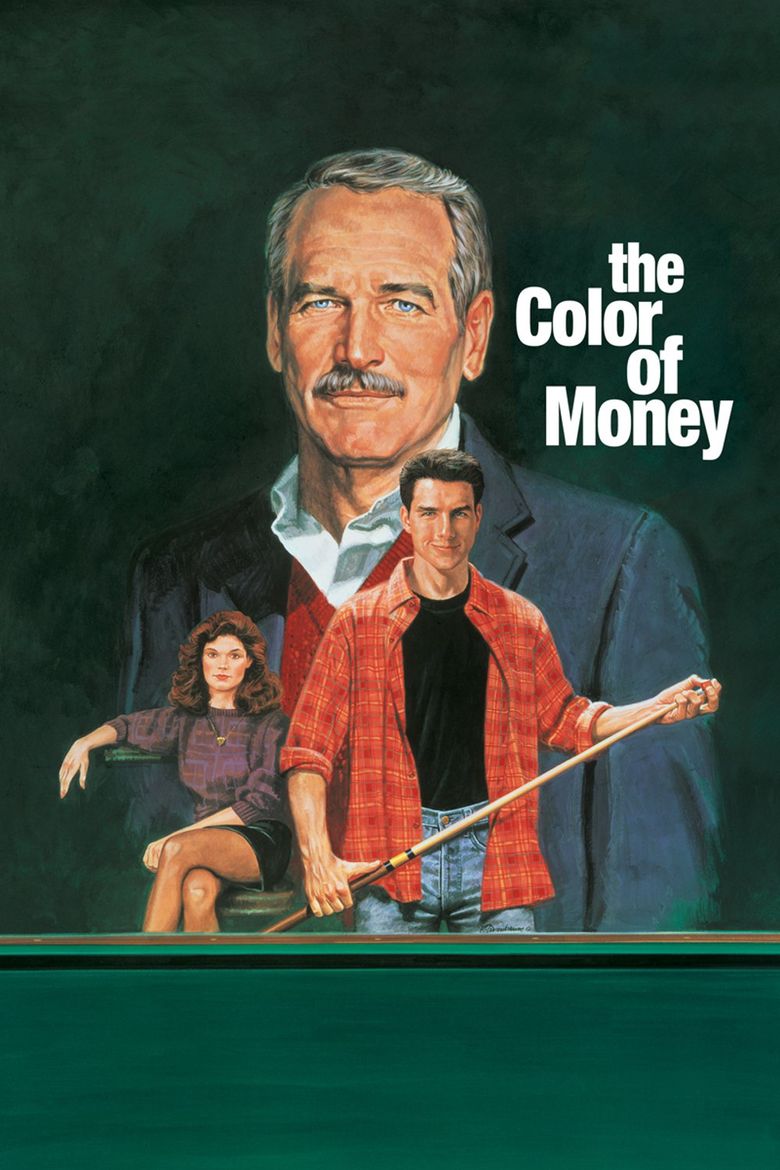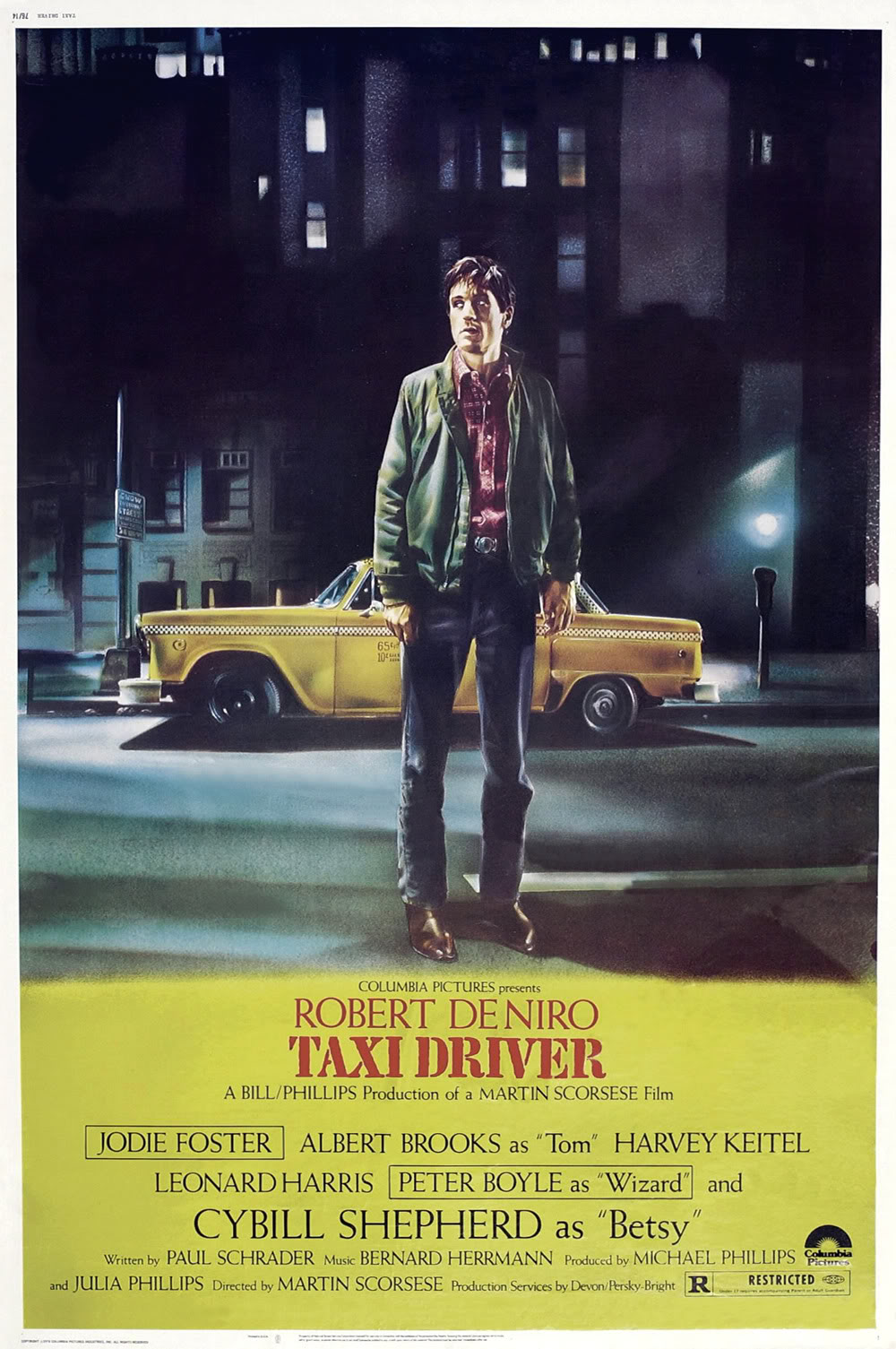VortCast 71 | Diários de Quarentena I

Bem-vindos a bordo. Flávio Vieira (@flaviopvieira), Filipe Pereira, Jackson Good (@jacksgood) e Rafael Moreira (@_rmc) se reúnem para comentar sobre os seus dias na quarentena em um bate-papo descompromissado sobre reality shows, lives e muito mais.
Duração: 110 min.
Edição: Julio Assano Júnior
Trilha Sonora: Julio Assano Júnior
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram
Acessem
Brisa de Cultura
Cine Alerta
PQPCast
Conheça nossos outros Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Podcasts Relacionados
VortCast 70 | Todo Mundo Gosta… Menos Eu!
VortCast 65 | Game of Thrones
–
Avalie-nos na iTunes Store | Ouça-nos no Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:50:34 — 75.9MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS