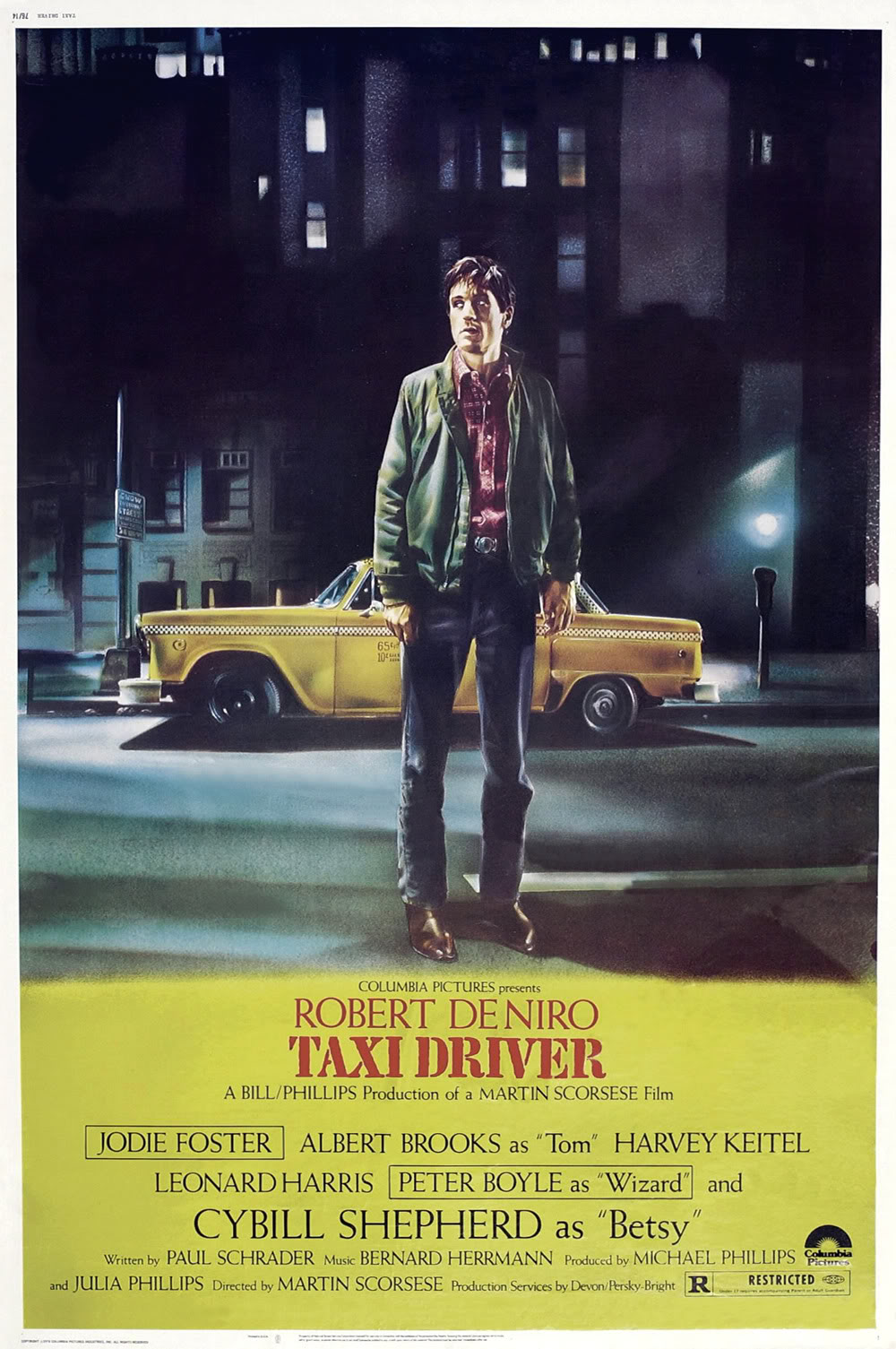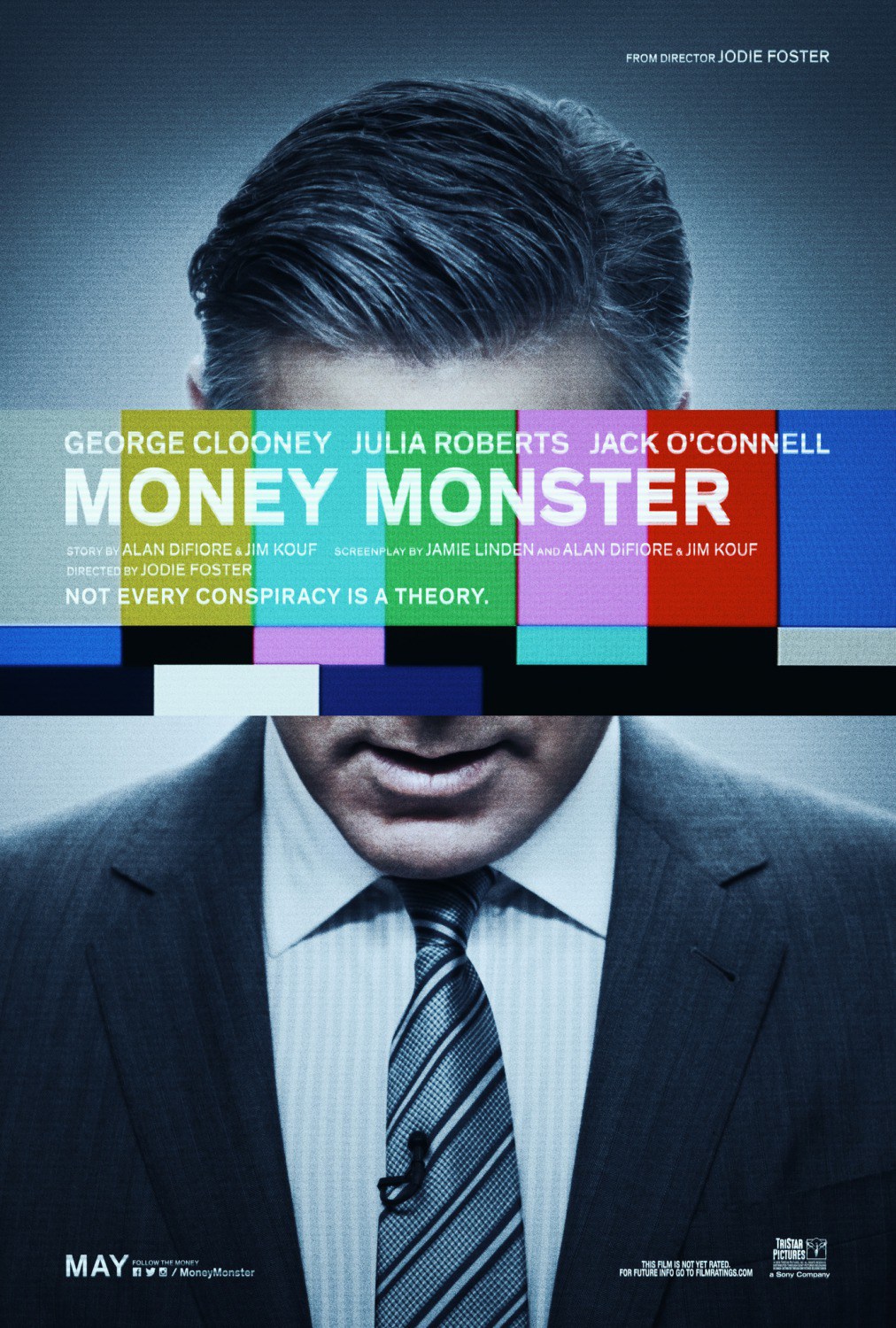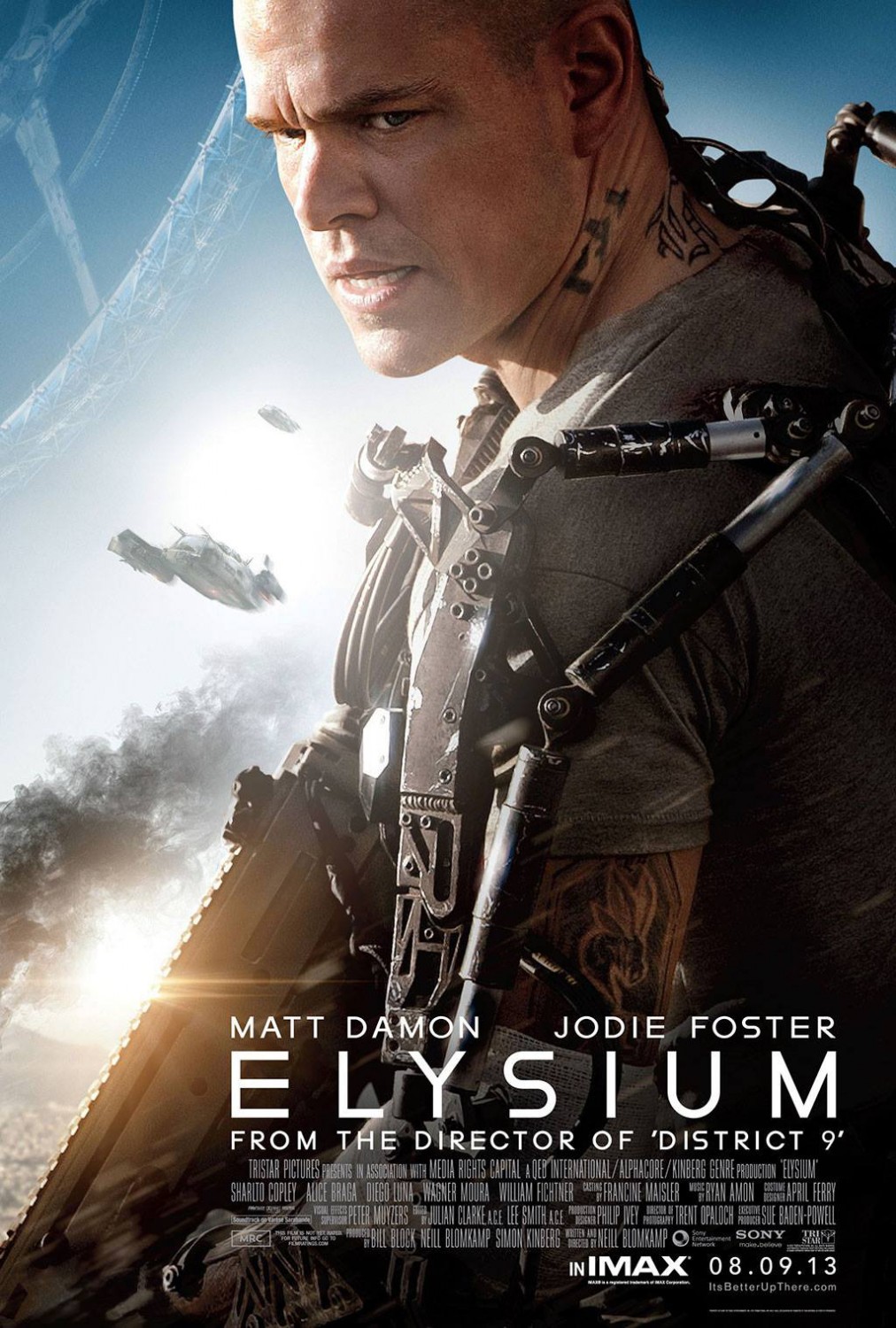Crítica | O Silêncio dos Inocentes

O Silêncio dos Inocentes começa enigmático, mostrando a Clarice de Jodie Foster percorrendo uma cinzenta floresta em Quantico, na Virgínia. Pouco tempo depois a expectativa de perigo é substituída pela percepção de que ela está se preparando, como agente em treinamento. A personagem é uma mulher vista como alguém pequena, ainda mais em comparação com os homens altos que habitam aqueles cenários cinzas da academia do FBI. Essa questão dos tamanhos seria usada por Jonathan Demme como um prenúncio da historia, ainda que não estabeleça a gravidade e a tragédia de assassinatos de inocentes, sobretudo mulheres, que concentram os momentos mais emocionantes do roteiro.
A atmosfera de suspense e thriller é pontuada pela música de Howard Shore que, em sua discrição, consegue sutilmente injetar ainda mais mistério nas cenas pensadas. Cenas desenvolvidas de maneira lenta, mesmo o passado de Clarice Starling é discutido de maneira paciente. Mas desde a gênese, é tratada como uma mulher forte e bem resolvida, como aliás é bem comum nas obras de Thomas Harris, o autor do livro homônimo que Ted Daily usou como base para seu roteiro. Mirando entrar para um departamento novo que estuda a Ciência de Comportamento, ela é designada para dialogar e pedir ajuda a um serial killer, o doutor psiquiatra Hannibal Lecter.
Nas conversas iniciais que a protagonista tem com o personagem de Anthony Hopkins é estabelecido com clareza o fascínio e curiosidade da protagonista que, aliás, reflete a curiosidade do espectador que se questiona como um renomado médico perdeu sua carreira e conseguiu ser pego por crimes tão bizarros quanto os que cometeu. Ainda que no início fique a sensação de que talvez o que se fala seu a respeito seja boato.
Demme usa muito bem o misancene, tanto com Clarice, que tenta se manter durona mas demonstra momentos de fragilidade, como uma criança prester a entrar em um mundo adulto e feio, como também na insanidade e sujeira que leva até o psicoterapeuta forçadamente aposentado por seus crimes. Na cela de Hannibal os tons de marrom predominam (essa aliás, é uma cor muito utilizada dentro do filme). Mais parece uma gruta, uma caverna, onde um bárbaro ou animal predatório vive. Então, por mais que ele pareça educado e cordato, é fácil perceber sua frieza.
A personificação de Hopkins, aliás, é outro fator diferenciado. Lecter é carismático, quase dócil ao expressar seus desejos e exigências para o grupo de investigadores. Seu sotaque característico e o cabelo ralo e bem penteado mostram o quão meticuloso é com a própria aparência, sendo esse mais uma amostra dos seus métodos bem executados como assassino serial. Mas é no olhar vazio, acompanhado da íris azul, que se percebe sua personalidade pouco dócil, ainda que não seja nem de longe um anúncio do quão destrutivo é o homem encarcerado. Por mais que ele esteja preso como outros criminosos, faz questão de se diferenciar pela elegância.
Hannibal e Clarice estabelecem uma relação de interdependência grande, tão tangível que quase justifica alguns momentos bem irreais, como a cela meticulosamente pensada para comportar o psicopata enquanto ele está ajudando a encontrar a filha de uma senadora. A influência dele sobre a agente em treinamento é natural pela inexperiência de Clarice. Mesmo que seu caráter e índole sejam bastante fortes, ela ainda é uma agente em estado probatório, portanto, não está completa. Seu passado como órfã, por conta de uma ação policial, compromete sua mente e o compromisso em ser fria.
Por mais que o antagonista procurado pelos agentes da lei seja Bufalo Bill/Jame Gumb (Ted Levine) que faz um papel bastante inspirado, o brilho de vilão recai sobre o conselheiro de Clarice. Demme trabalha bem o desenrolar das duas tramas, do matador baseado no real caso de Ed Gein, e no médico que serve de conselheiro para a protagonista. Ao menos, há mais em comum entre Hannibal e Bill, eles tem uma ligação que faz o espectador entender que há certa intenção de seguir um legado.
Ao longo dos anos, filmes de assassinos em série entraram e saíram da moda devido a essa produção. Se7en é bem visto, mas A Cela, Rios Sangrentos e até Jogos Mortais foram sub produtos de qualidade questionável. Silêncio dos Inocentes é a fonte de inspiração para todos eles e para as sequencias e prequels baseadas no mesmo personagem. Mas as sutilezas desta versão não foram replicadas tão bem em outras histórias.
Demme conduziu um filme simples, que não faz rodeios e que mostra o pior da alma do homem. Apesar de toda a qualidade do filme, há um conjunto de caracterizações delicadas em sua composição, ainda mais na associações fálicas da condição transexual com psicopatia, fruto dos preconceitos de sua época. Mas a produção é mais que uma peça presa ao seu tempo. É o exemplo maior dos filmes de psicopatas, que ditou tendência e moda e que se vale de dois personagens ricos, que compõem uma dupla complementar de pessoas desajustadas e incompreendidas, mas que ainda assim são geniais.