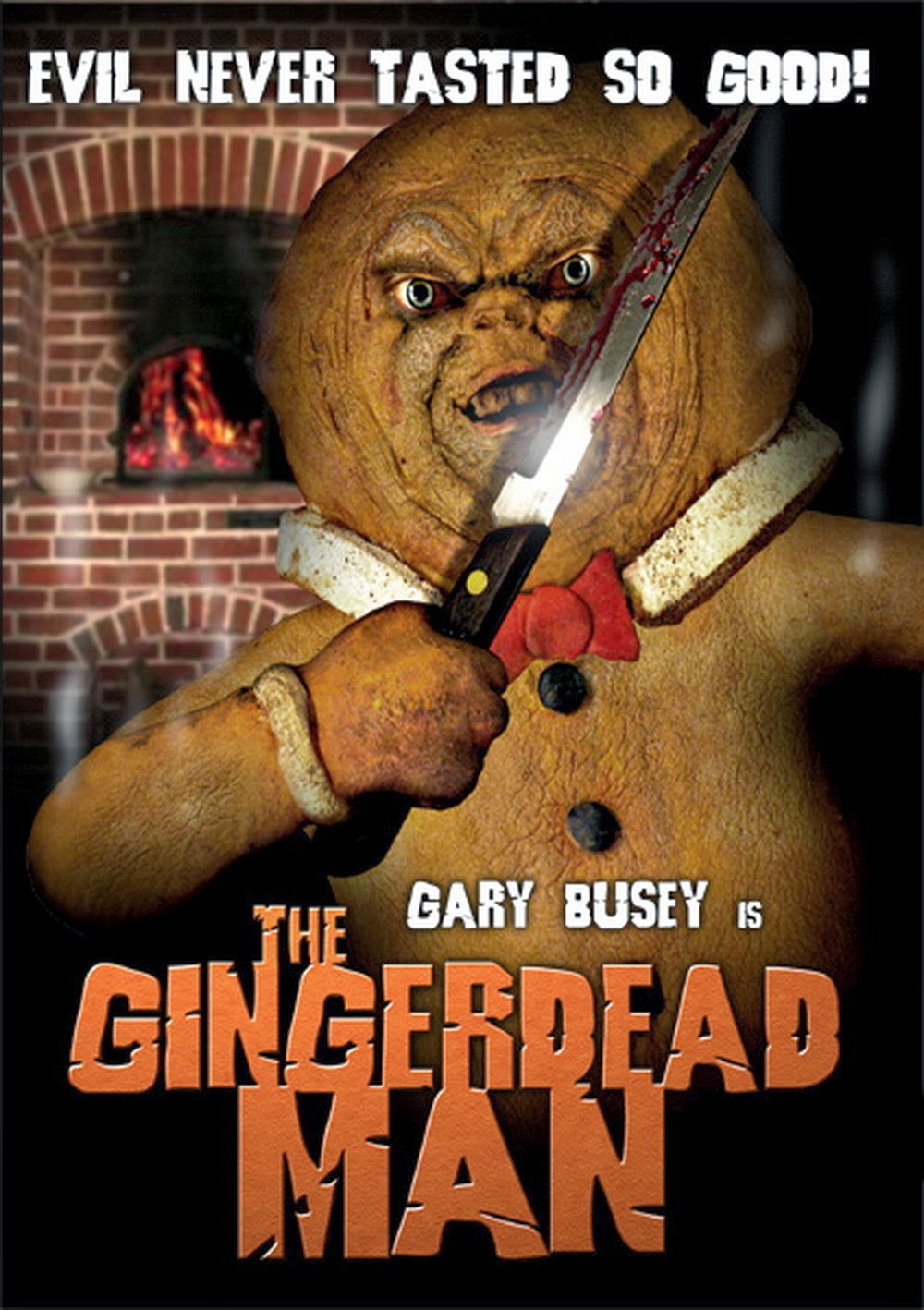Review | Chucky – 1ª Temporada

Desde 1988 Don Mancini vive à custa de seu principal e mais famoso personagem, Charles Lee Ray, o boneco popularmente conhecido como Chucky. Depois de um hiato de quatro anos, finalmente chegou às telas pelo canal SyFy, a primeira temporada de Chucky, que remonta as origens do assassino em Hackensack, onde um boneco Good Guy que carrega a alma do assassino é encontrado por um menino confuso e a partir daí uma estranha saga se inicia.
Com expectativas baixas graças ao resultado do último filme, O Culto de Chucky, o piloto da série surpreende por conta das ideias que aborda, especialmente no que toca a personalidade do seu protagonista Jake (Zackary Arthur). O personagem tem questões bem complicadas a lidar, como ser LGBTI+ e viver em uma família conservadora, sofre bullying no colégio.
Essa última condição é um ponto bem positivo da série, pois dá espaço para mostrar uma escola que parece uma instituição real do ensino médio, e não as caricaturas de seriados e filmes que colocam pessoas de meia-idade interpretando estudantes. Chucky conversa bem com produções atuais que tem esse cuidado, como os recentes Cobra Kai e Ghostbusters: Mais Além.
Quando se pensa em histórias do boneco serial killer se espera obviamente uma série de assassinatos e nisso o seriado não decepciona. Já em seu início há mortes criativas e tão bizarras que causam risos. Mais uma vez o boneco dublado por Brad Dourif parece à vontade ao cometer seus atos maléficos.
Da parte da mitologia, há alguns acréscimos bem esdrúxulos, mostrando que Mancini finalmente desapegou de transformar a série em algo mais sério e já aceitou que este é um besteirol com elementos de terror — o que certamente irritará o fã mais ranzinza, mas o tom de autoparódia e o gore exagerado compensa isso.
Da parte do elenco “novo”, é frustrante que Jake tenha um intérprete tão incapaz de variar expressões. Arthur é bem limitado, fato que ajuda de certa forma no choque inicial de ver Chucky agindo como alguém compreensivo e distante de preconceitos. Algo mudou de O Filho de Chucky até aqui. O restante do elenco juvenil compensa a dificuldade do personagem central, Lexy (Alyvia Alyn Lind), Devon (Bjorgvin Arnarson) e Júnior (Teo Briones) são bons personagens, tem camadas apesar de pouco tempo de tela.
A série também se dedica a mostrar o passado do assassino, as primeiras mortes e até a relação que ele teve com Tiffany. As aparições do elenco dos filmes também é bem pontuado, Jennifer Tilly está hilária e Fiona Dourif também faz bem seus múltiplos papéis. Ainda assim, os flashbacks acrescentam conteúdo, ratificando a ideia de que não se ignora nada nesta cronologia, embora as participações de Alex Vincent e Christine Elise não sejam tão extensas quanto poderiam.
Chucky acrescenta elementos bem bizarros a lógica do ritual vudu, e ainda apresenta a localidade de Hackensack como o lar da imoralidade, associando o lugar ao conto macabro Tempestade do Século. Esse lugar ter produzido o estrangulador de Lakeshore faz sentido, assim como a busca dele por um sucessor. Mancini consegue finalmente trazer um roteiro pleno em exageros e diversão.









 Um dos temas mais recorrentes na história do cinema, sem dúvidas, são as neuroses humanas e suas derivações. De
Um dos temas mais recorrentes na história do cinema, sem dúvidas, são as neuroses humanas e suas derivações. De