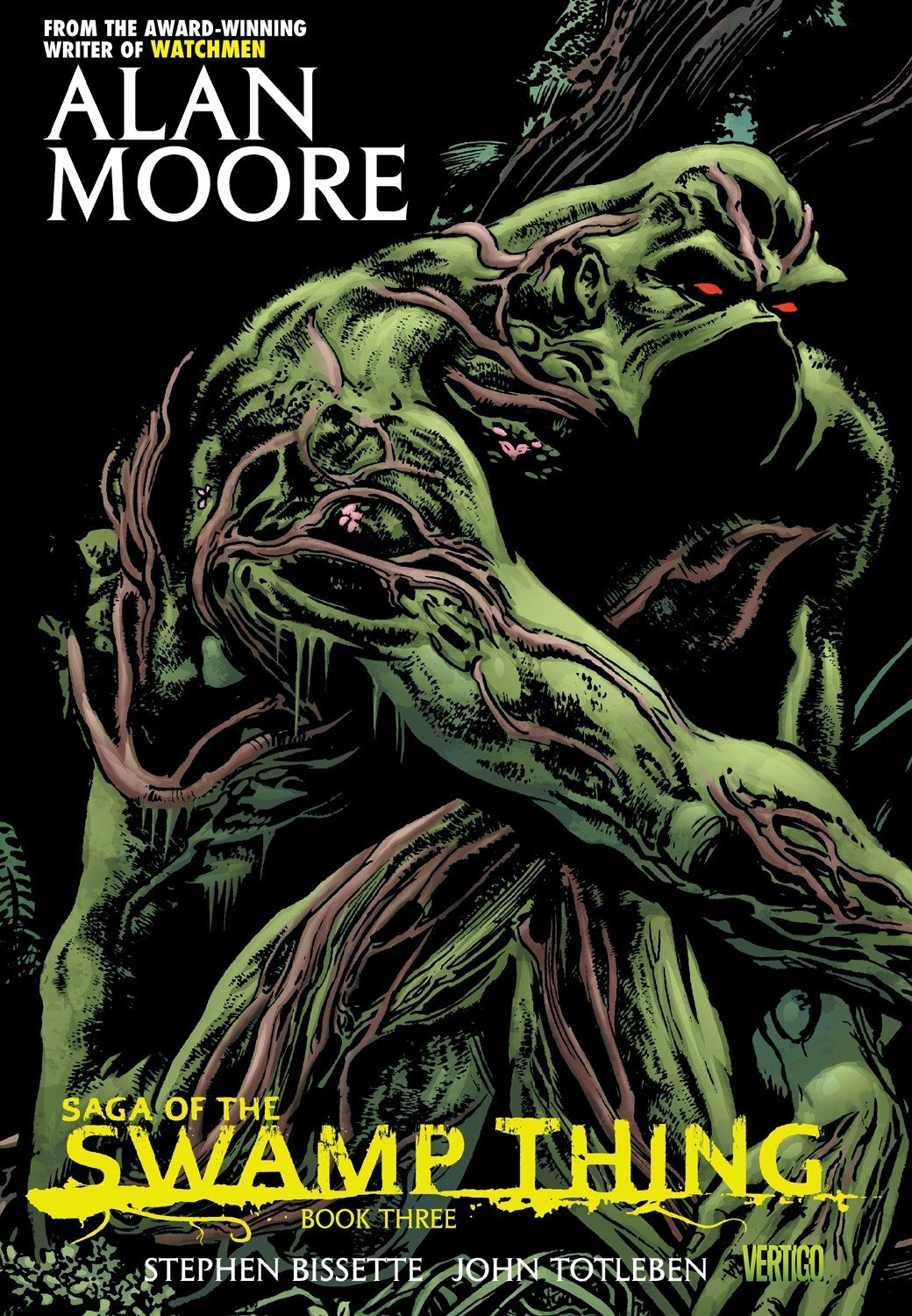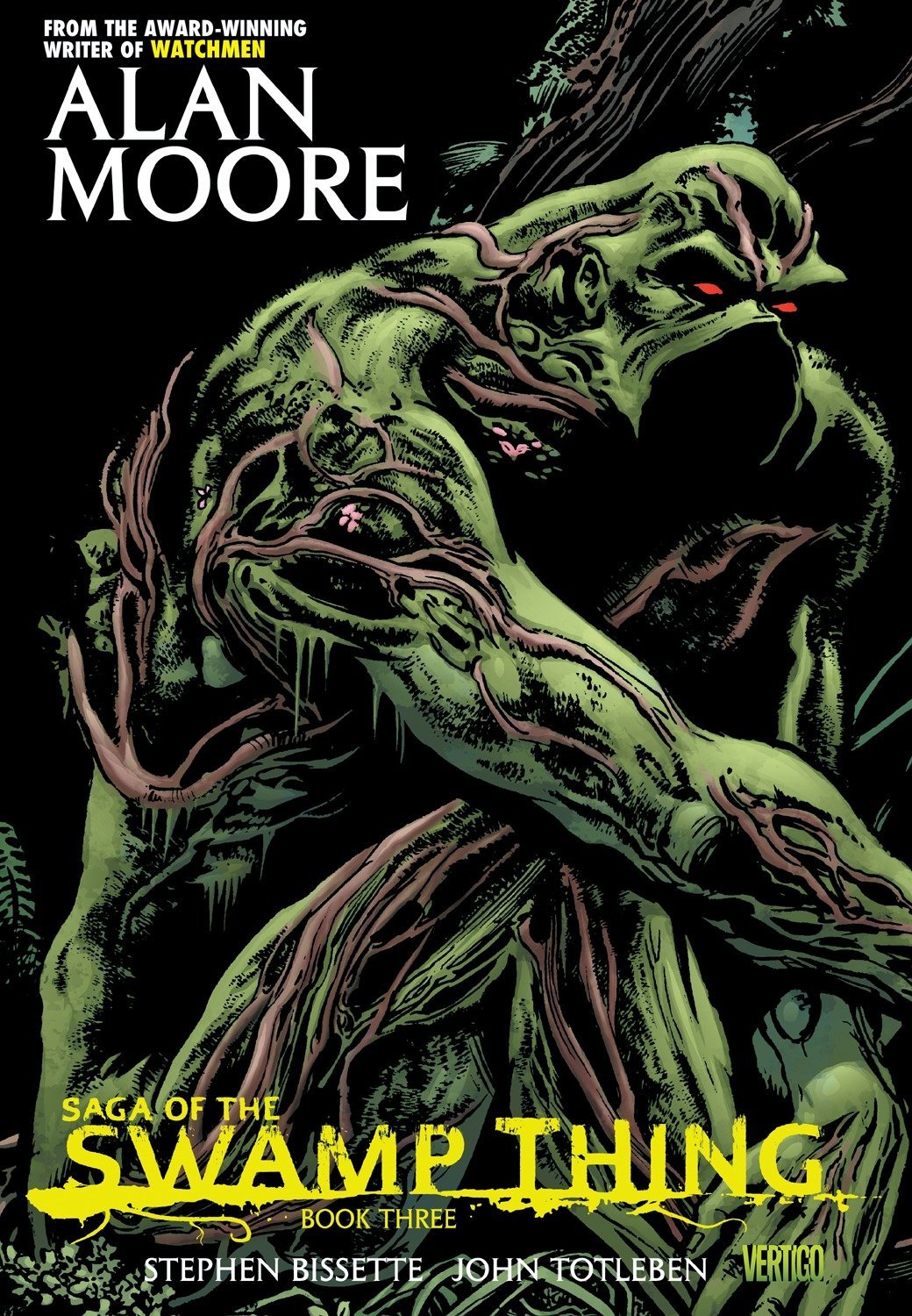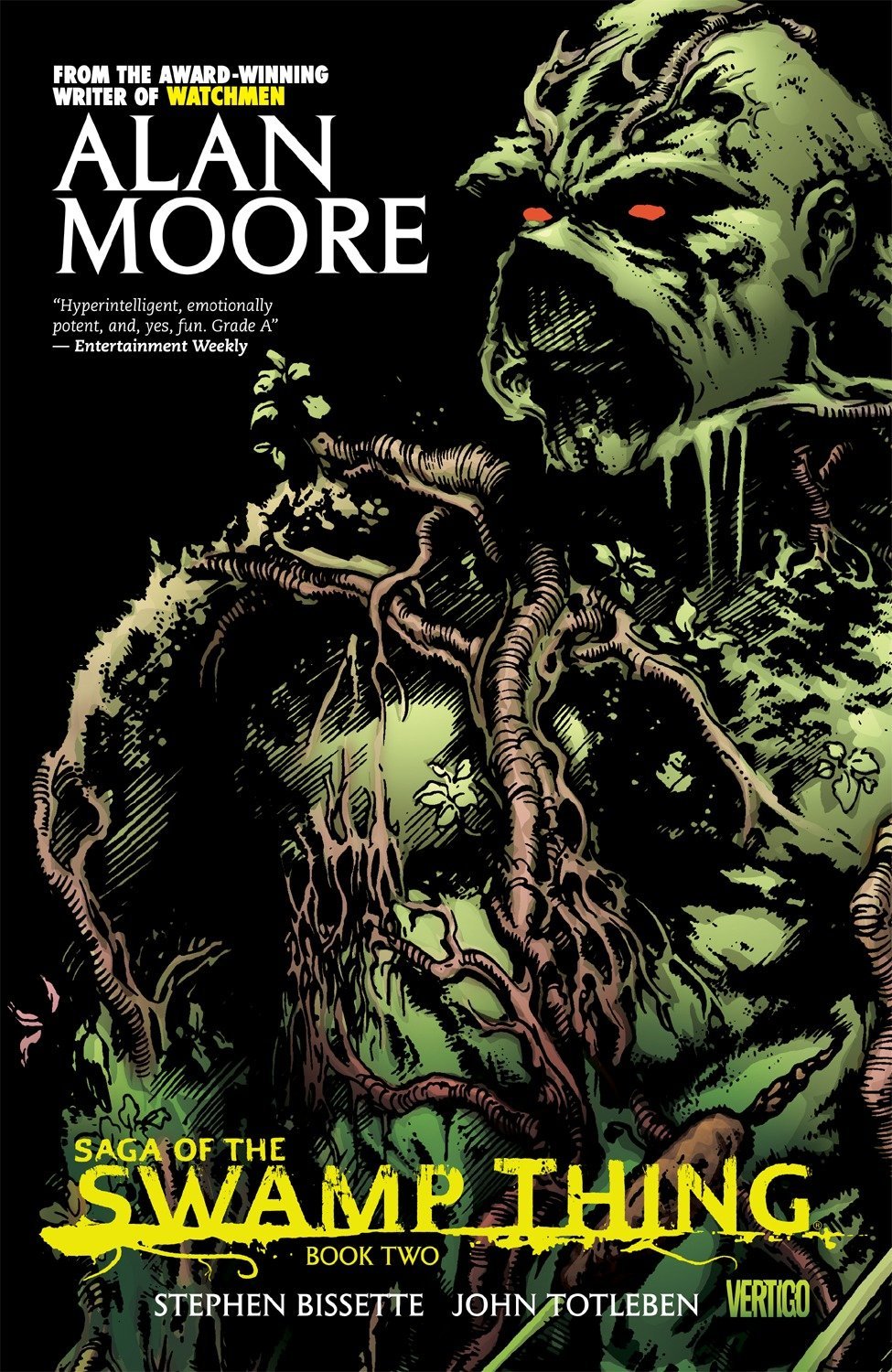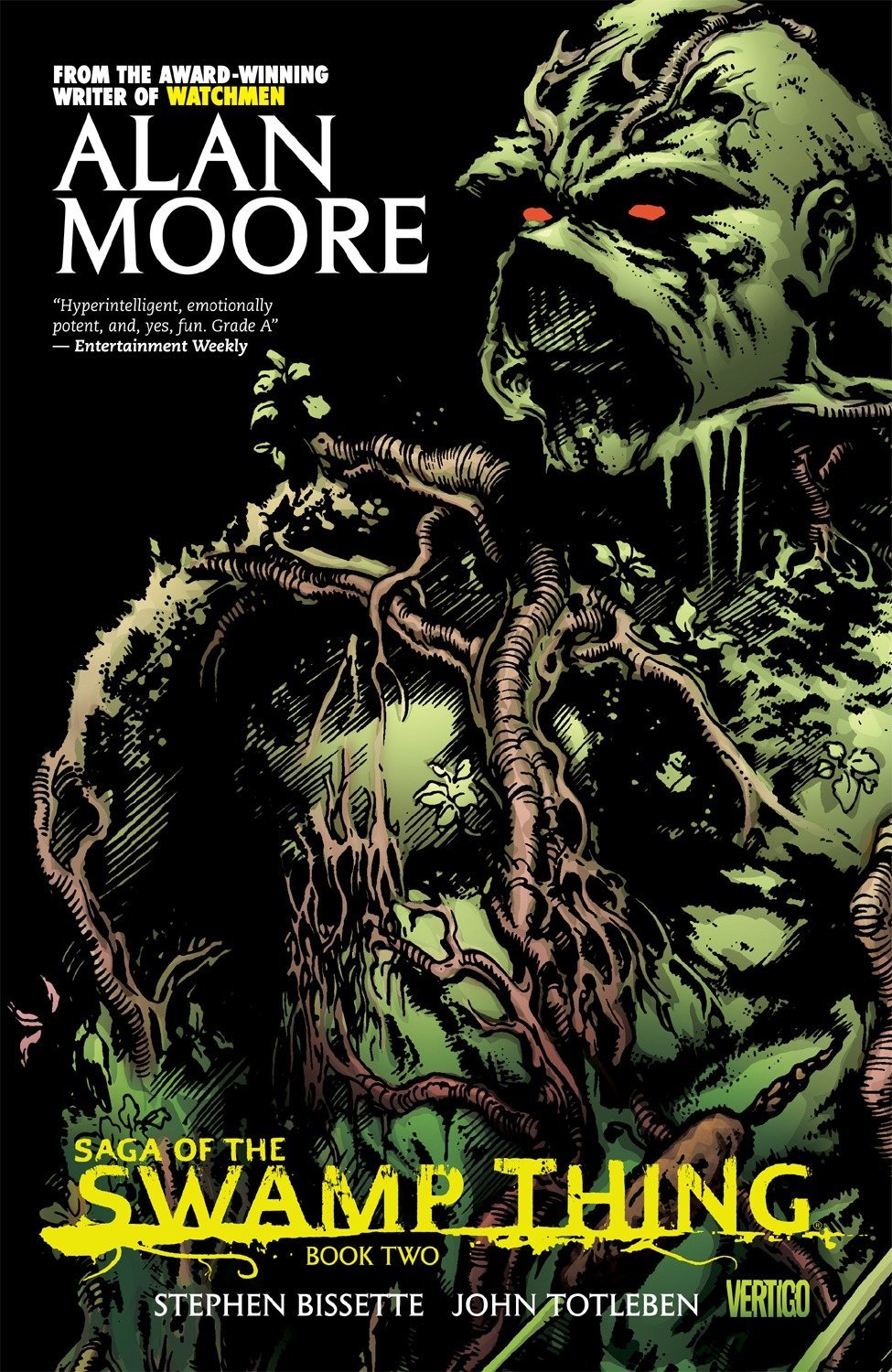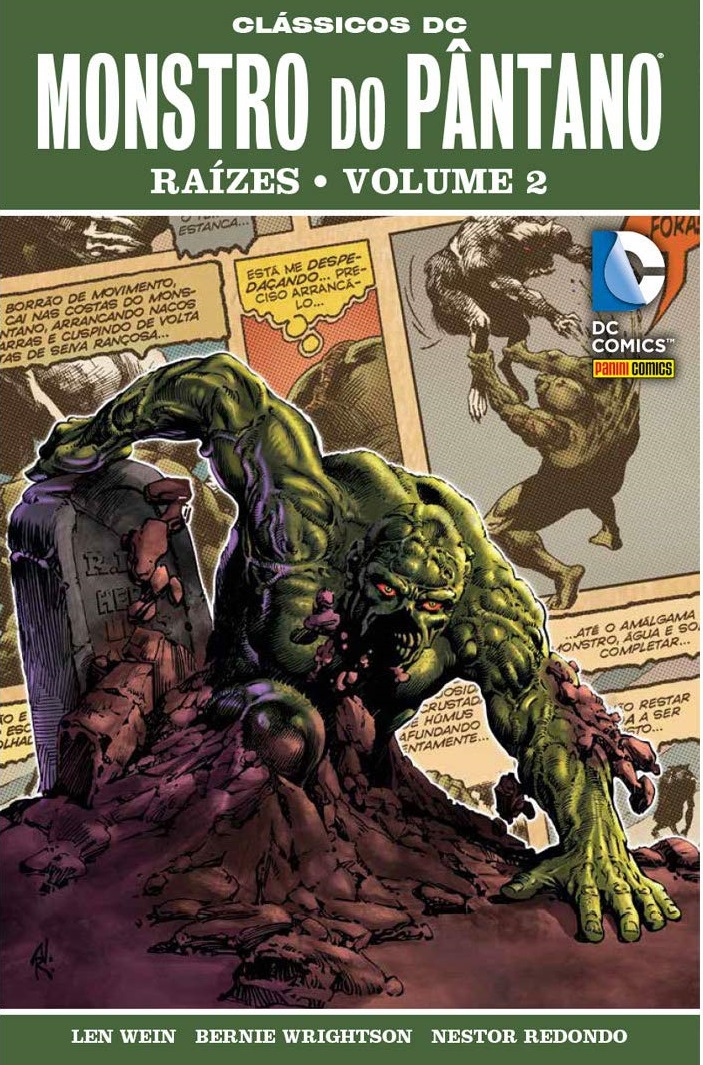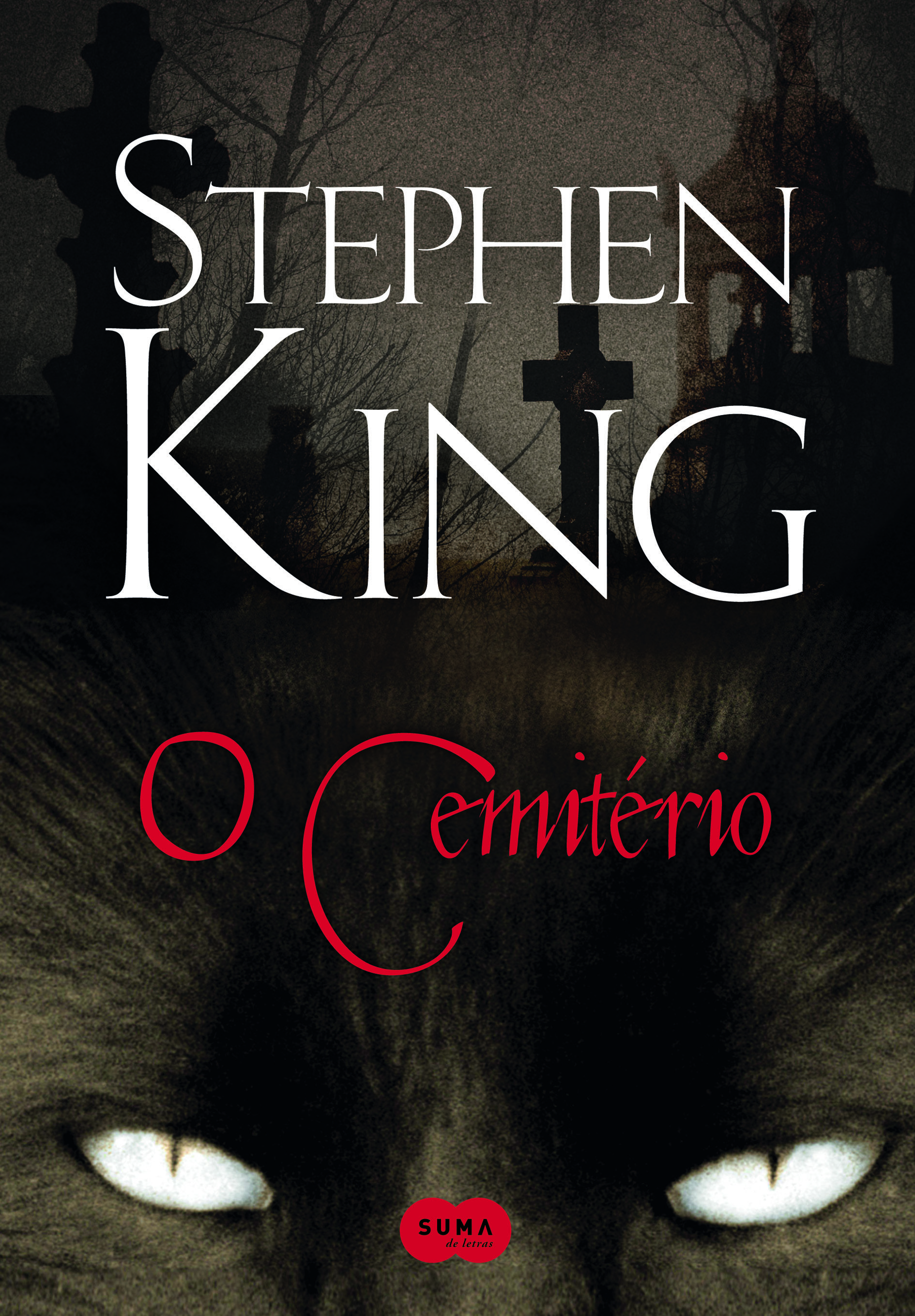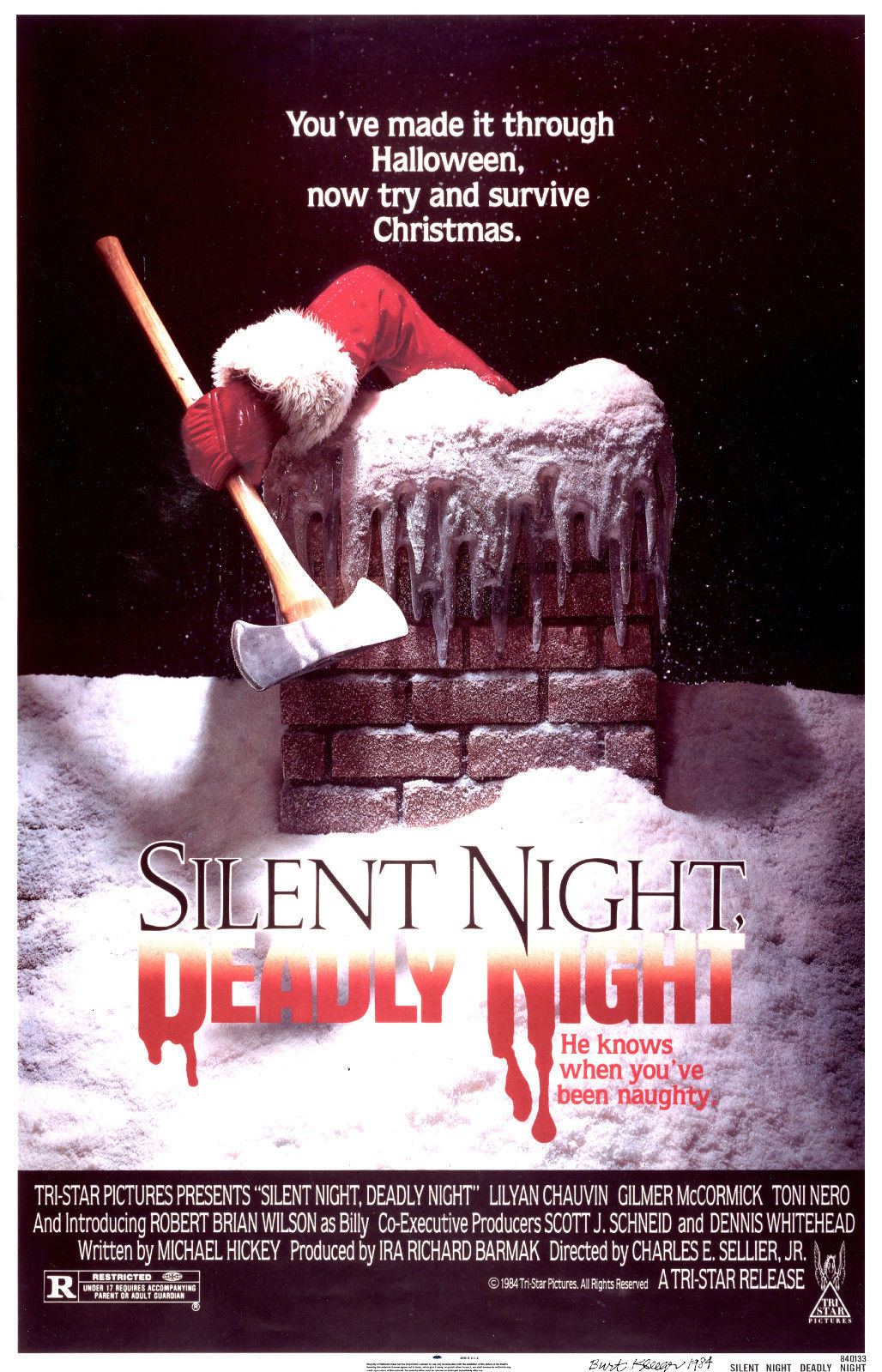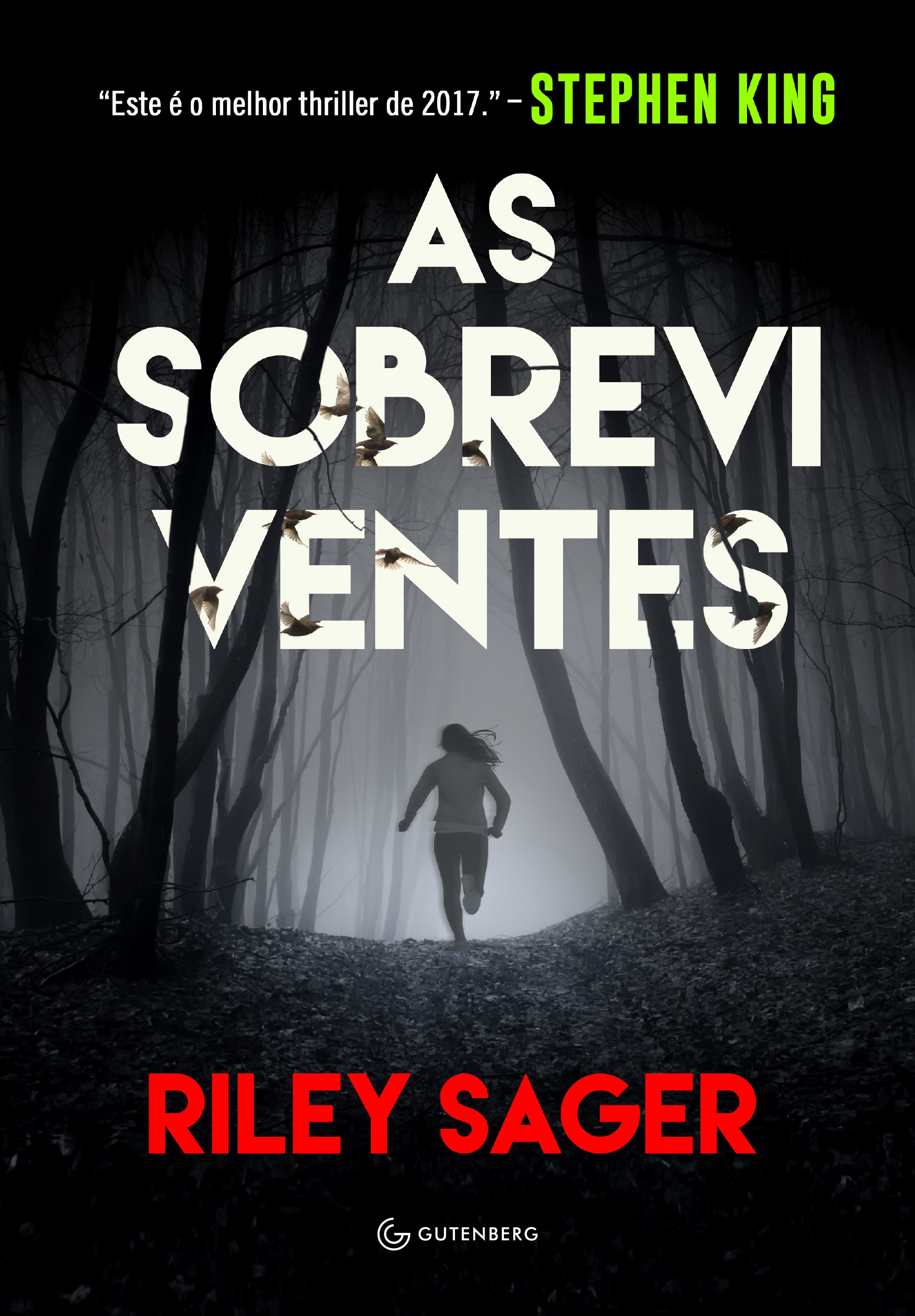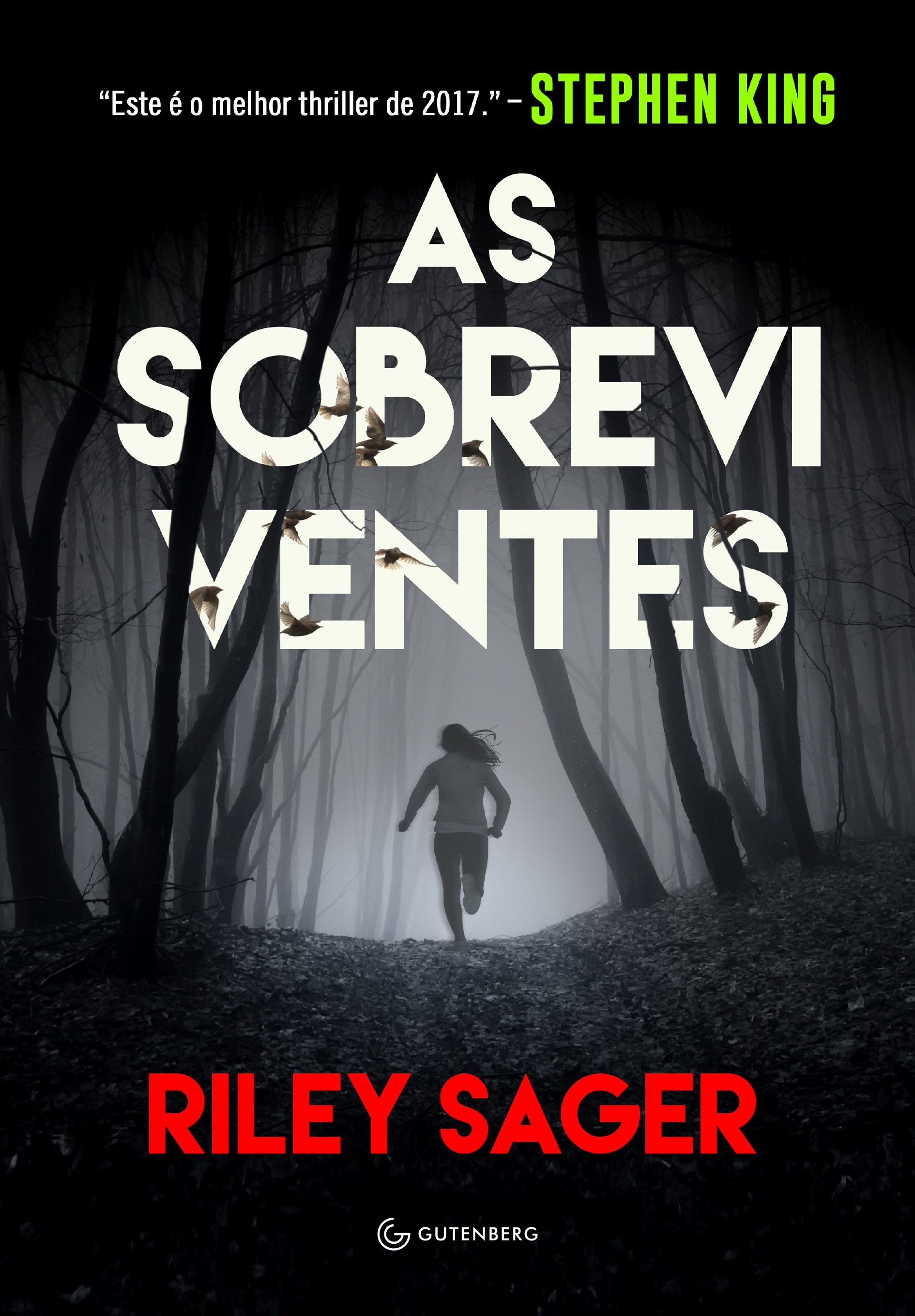Crítica | Brinquedo Assassino 3

Brinquedo Assassino 3 foi apressadamente lançado em 1991, um ano após Brinquedo Assassino 2. Na trama, após um período, a Play Pals Toys resolve reativar sua fábrica, e acaba restaurando o boneco que comporta a alma de Charles Lee Ray. Dessa vez, Andy Barclay (Justin Whalin) — oito anos mais velho que no filme anterior — vive em uma instituição militar, já que o garoto foi tão traumatizado que resolveu treinar e se armar para eventualmente enfrentar o boneco novamente.
Essa parte três carece de originalidade, se parecendo demais com o início dos outros filmes, incluindo Brinquedo Assassino. O comentário mais inteligente se dá fora da trama entre a ganância da companhia de brinquedos, e claro, o desespero do estúdio por espremer cada vez mais a fórmula da franquia.
Outro bom ponto é a reconstrução do boneco ocorrendo com os créditos iniciais. Jack Bender, de Hora do Terror dirige a produção. Ele ficaria mais famoso pela participação em séries como Sr. Mercedes e Família Soprano, mas pouco se percebe seus talentos nessa produção, exceção feita as mortes no quartel, que destacam o sadismo do personagem dublado por Brad Dourif.
Outro destaque é Whalin, famoso após o filme por interpretar Jimmy Olsen nas primeiras temporadas de Lois & Clark: As Novas Aventuras de Superman, além de Mamãe é de Morte, de John Waters, e pelo esquecível Dungeons & Dragons: A Aventura Começa Agora. O protagonista claramente não capturou a essência de Andy Barclay, mas isso não é condenável completamente, até porque a última vez que ele foi visto, ainda era uma criança. O grave problema é não haver personagens secundários minimamente carismáticos para dar suporte ao protagonista, são todos genéricos. O filme ainda possui boas sacadas, como o início da criatura atacando seu “criador”, com Chucky assassinando o dono da Play Pals Toys, além das cenas com outros bonecos Good Guys.
Ao menos a obra tem boas cenas do boneco que David Kirschner criou, a movimentação dele está cada vez melhor, embora siga não fazendo sentido um assassino de menos de um metro ser tão eficiente. Brinquedo Assassino 3 fica no limiar entre a abordagem mais séria e as versões mais humorísticas que Don Mancini empregaria anos depois, mas certamente seria melhor construído caso tivesse mais tempo para amadurecer as boas ideias e podar as ruins.