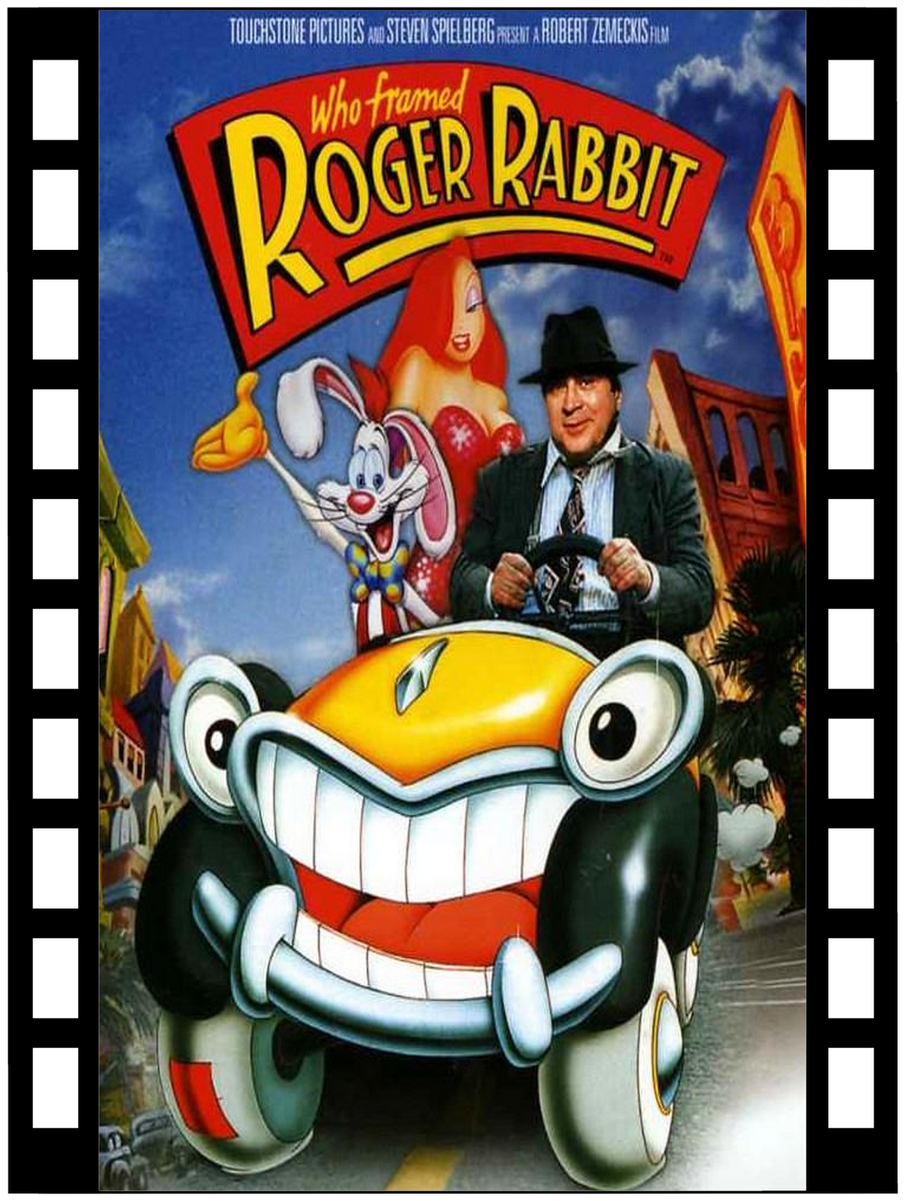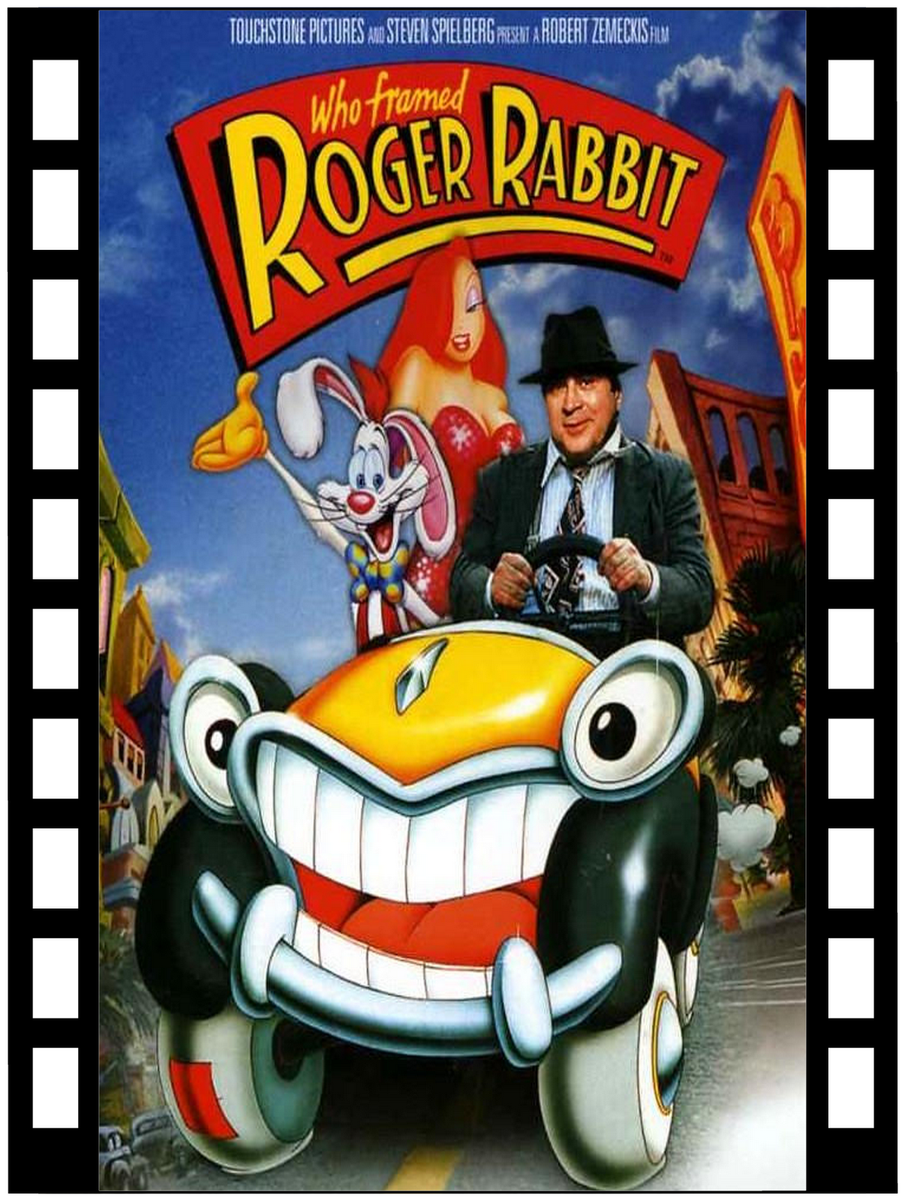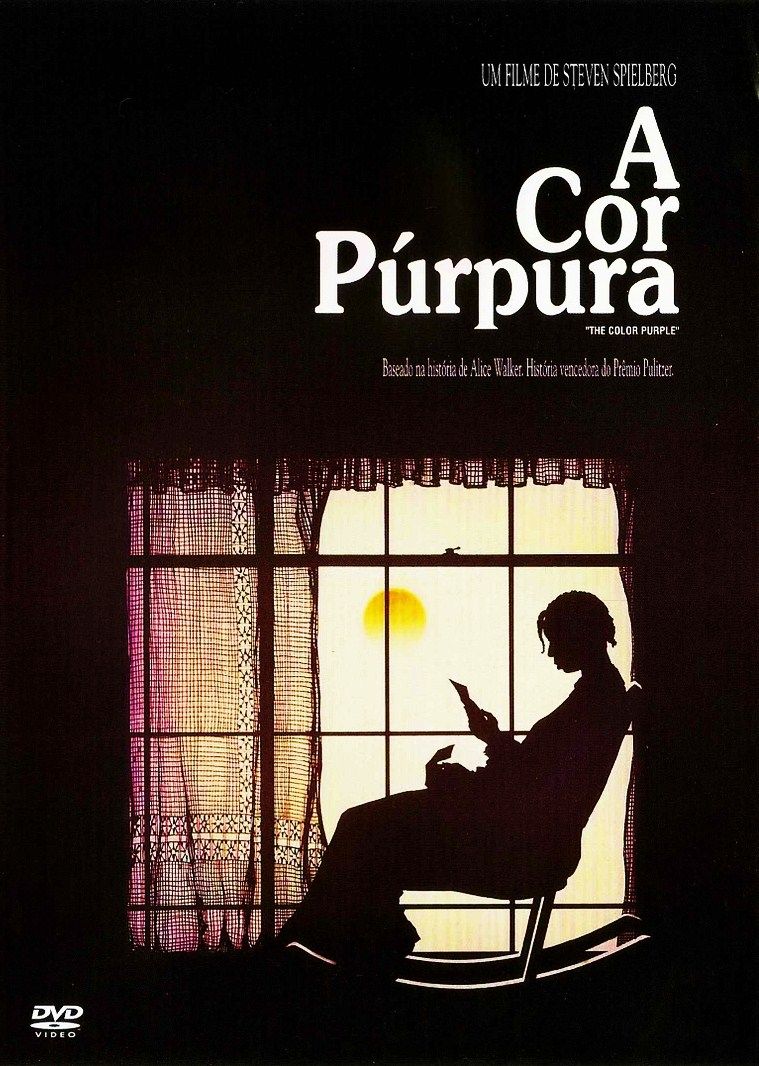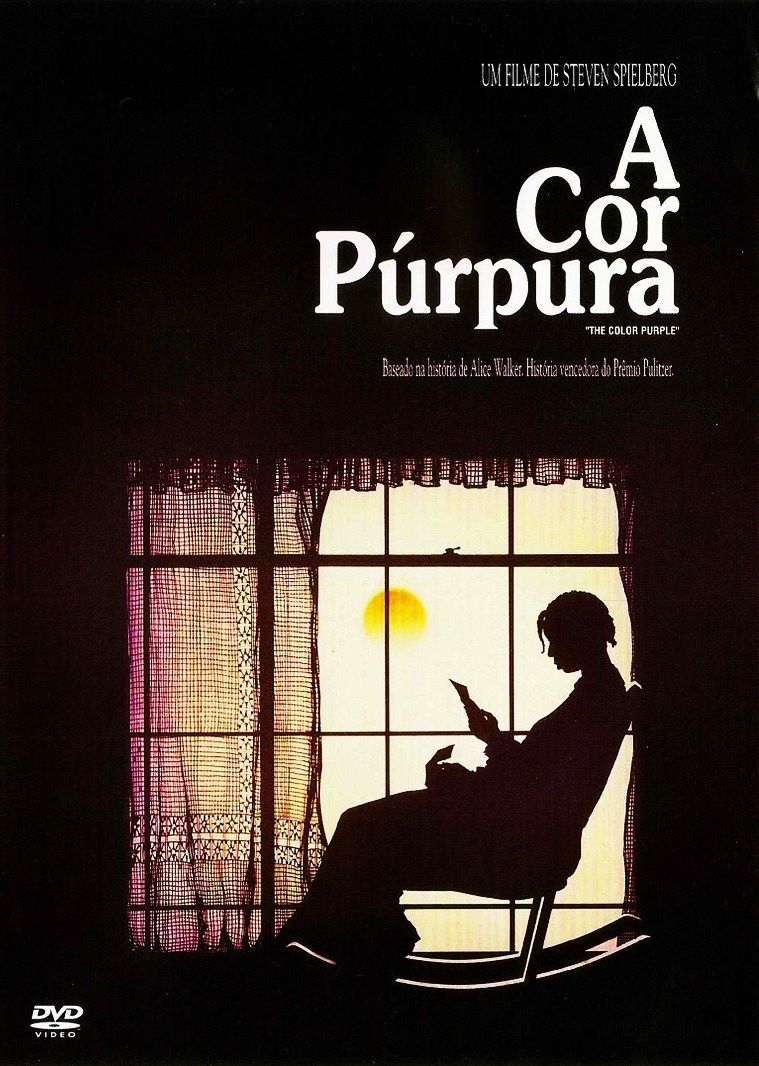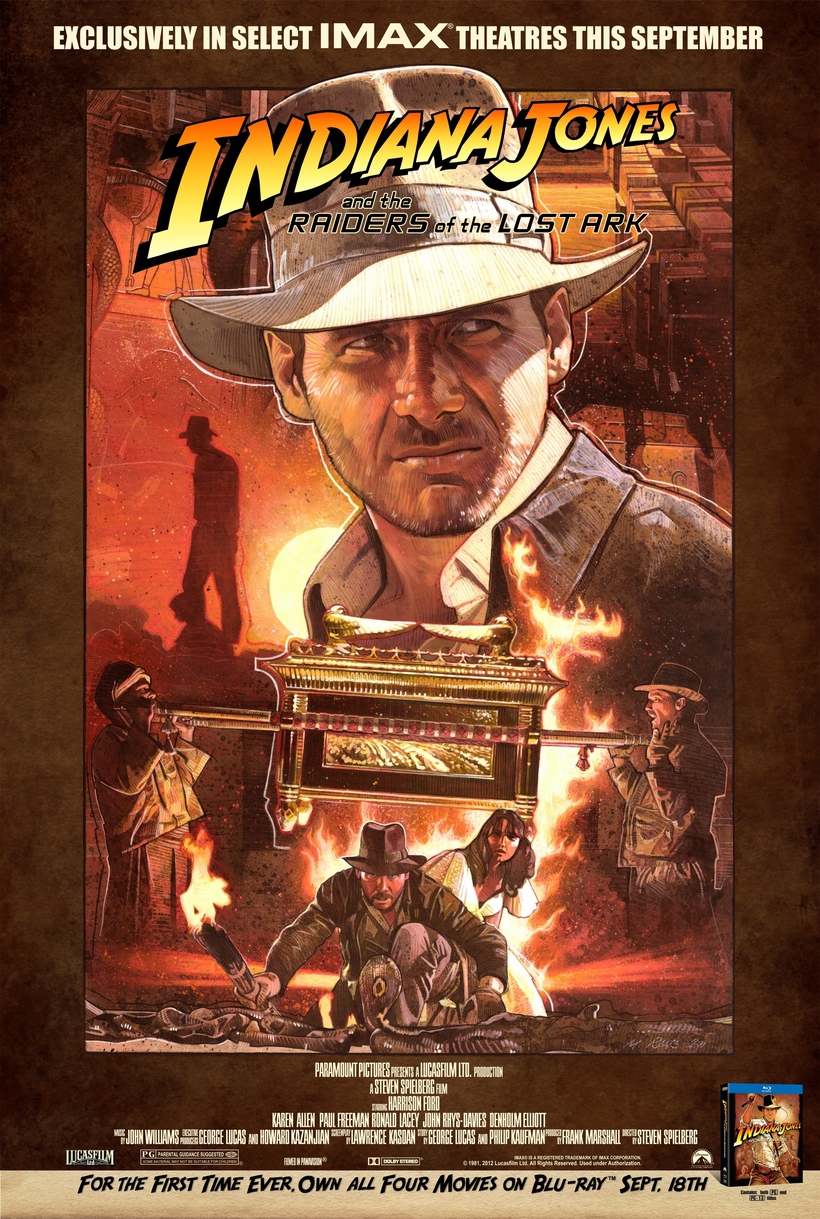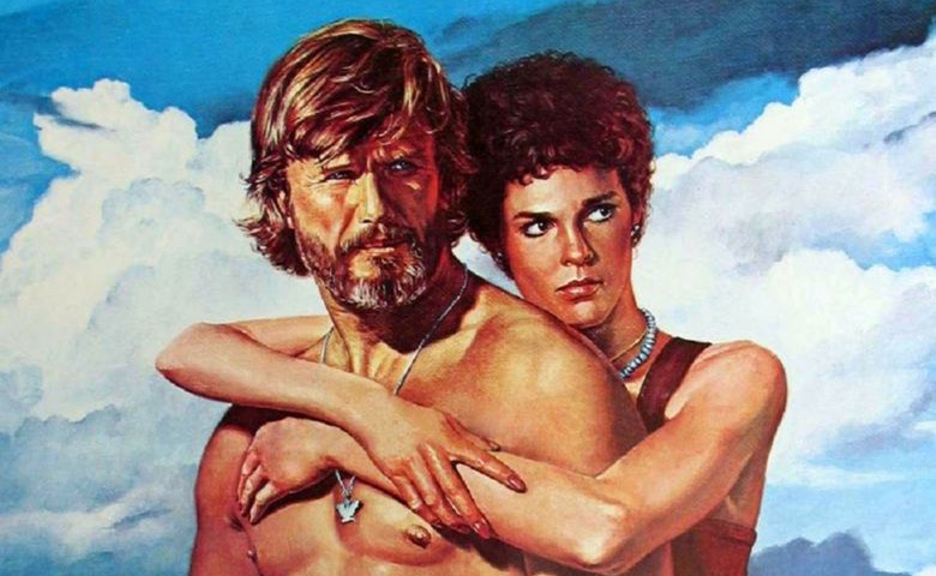Crítica | Amor, Sublime Amor (2021)

West Side Story é um musical da Broadway, conhecido por suas várias versões, sendo a mais famosa vista no filme de Robert Wise e Jerome Robbins lançado em 1961. Sua história atualiza o conto shakesperiano de Romeu e Julieta, ambientando na cidade de Nova York do século XX. A expectativa em relação à nova versão de Amor, Sublime Amor não eram pequenas, ainda mais por ser conduzida por Steven Spielberg, que vem de uma fase de adaptações bastante elogiadas.
As escolhas visuais e temáticas do cineasta foram bem diferentes da versão dos anos sessenta. O figurino das gangues Jets e Sharks, assim como a direção de arte é bem mais realista nesta abordagem. Como na primeira montagem cinematográfica, o longa também se inicia com uma tomada aérea sobre a cidade de Nova York, dessa vez, bem mais cinza e suja, combinando com o visual maltrapilho dos grupos de foras-da-lei.
O roteiro fica a cargo de Tony Kushner, que já trabalhou antes com o realizador em Munique e Lincoln. Aqui há um subtexto diferente da versão de Wise: o território disputado estava em fase de realocação urbana, ou seja, estavam todos se despedindo e em vias de sofrer despejo, o pedaço de terra era utilizado apenas pelos miseráveis que não tinham condições de se mudar. Os personagens possuem problemas reais, faltam-lhe condições básicas de conforto e de sobrevivência. No entanto, esses trechos poderiam ser menos didáticos.
O elenco é comandado por Ansel Elgort (Em Ritmo de Fuga), que faz o papel do recém-reabilitado Tony, fundador dos Jets, e que se submete a um trabalho simples para tentar se regenerar nesse momento de liberdade condicional, distante dos seus antigos colegas de vadiagem. Ainda assim, ele causa em Riff (Mike Faist) a esperança de poder, enfim, sobrepujar os seus rivais, de maneira “definitiva”, mas sem os eufemismos ou artifícios retóricos que tentam esconder a vontade de matar, e até mesmo de morrer, comum a tragédia de tantos jovens.
Tony é a exceção dentro dos Jets. Ao contrário dos outros rapazes ele tem uma ocupação. Ele é como um dos Sharks, dado que do grupo, todos trabalham, mesmo os que estudam. De maneira simples o roteiro demonstra como funciona a realidade diferenciada deles, pois mesmo sendo pobres, os brancos podem se dar ao luxo de não trabalhar, enquanto os hispânicos precisam lutar para viver.
Tanto Riff quanto Bernardo (David Alvarez) são inspiradores se comparados aos seus capangas, mas os melhores diálogos e canções caem sobre a protagonista, Maria (Rachel Zegler), uma menina inocente e disposta a amar infinitamente. Já Anita (Ariana DeBose), é uma moça que não se permite domar nem pelo namorado violento, e nem pelas pressões comuns a um jovem latino na América. Dos arcos dramáticos, este é o mais profundo e plausível, seu intento de ser uma desenhista de moda é um bom resumo do desejo de vencer na vida.
Os amores são mostrados quase sempre de maneira trágica e melancólica, em especial os que envolvem os personagens latinos. Tony e Maria tem química, se sentem unidos mesmo em meio ao mar de gente no momento de seu encontro. A atração pelo olhar e pela alma é pontuado de forma intensa, fato que faz essa versão contemplar bem o mito de William Shakespeare. Pode-se dizer o mesmo de Anita e Bernardo.
Os coadjuvantes têm seu espaço, protagonizam cenas de dança grandiosas, além de números de sapateado igualmente bons. A maior parte das cenas são maiores aqui do que em comparação com a versão de Wise, além de não se depender tanto de Tony ou Riff para acontecerem os momentos musicais dos Jets. A música de Gustavo Dudamel está muito bem encaixada, e a melodia, letra e coreografia fluem muitíssimo bem. A atmosfera de musical moderno faz invejar obras recentes como La La Land: Cantandos Estações e Os Miseráveis, no sentido de popular e épico.
Amor, Sublime Amor é divertido, consegue variar bem entre o escapismo e a violência. Spielberg captura bem a atmosfera da delinquência juvenil que residia nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra. Sua forma de contar história certamente agradará o público afeito a musicais, e consegue saciar até quem não costuma consumir esse gênero, mas sua maior qualidade é a de atualizar bem os temas do clássico, com alma, emoção e energia. O único senão fica com as legendas que poderiam ter um maior cuidado com o que é dito nas músicas. Não é preciso ser especialista em língua inglesa para perceber que os textos não casam com o que é cantado e tudo é completamente modificado em sentido e espírito.