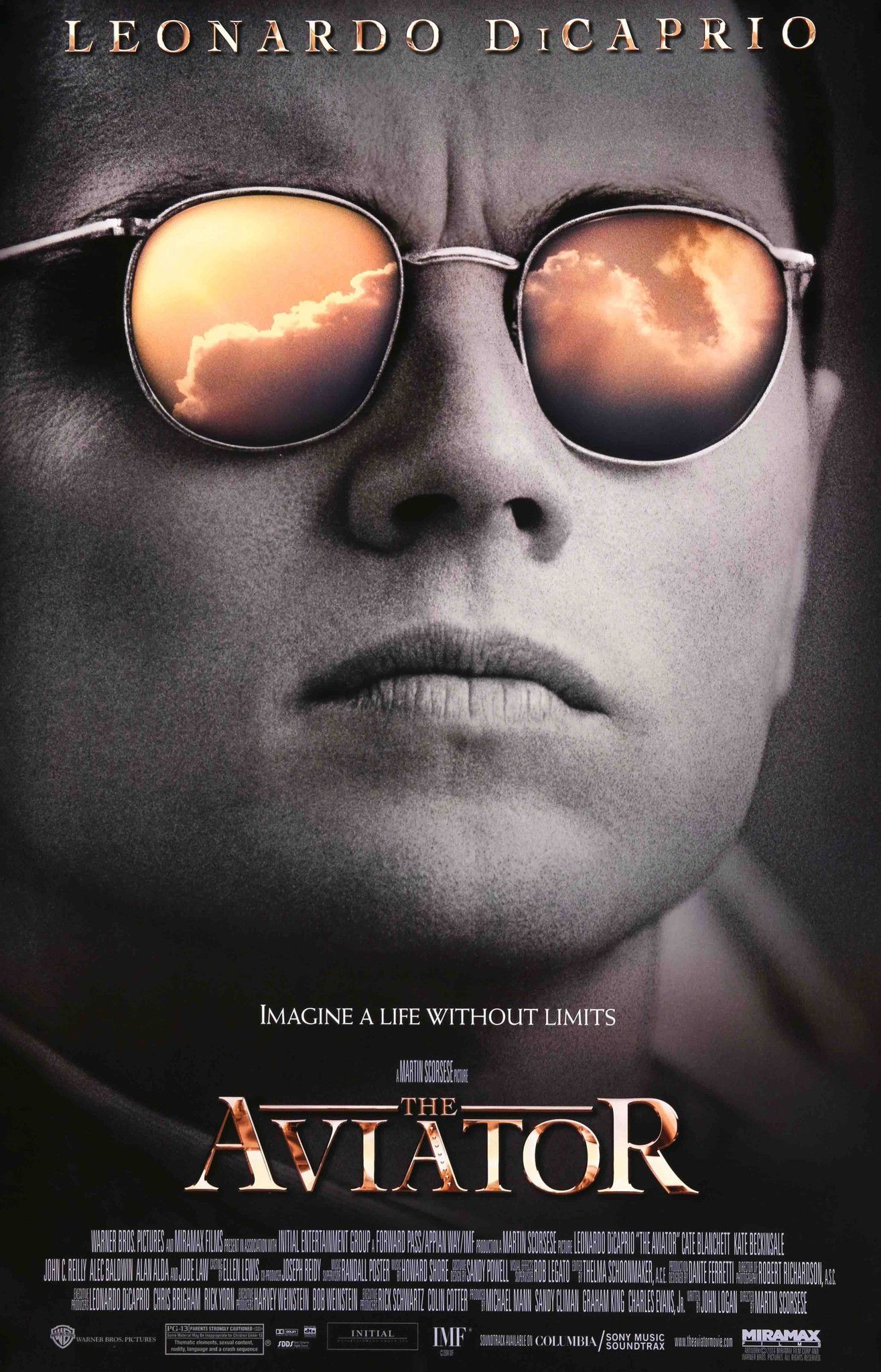Crítica | O Custo da Coragem

O Custo da Coragem é uma obra de ficção supostamente baseada em fatos, dirigida por Joel Schumacher e protagonizado por Cate Blanchett, que faz Veronica Guerin, uma repórter investigativa que descobre um forte esquema de narcotráfico em Dublin, na Irlanda. O começo do filme produzido por Jerry Bruckheimer em parceria com a Touchstone Pictures dá conta de cenários típicos da cidade, que podem ser vistos em tantas outras áreas urbanas, como igrejas católicas, tribunais de justiça etc.
Nesse prólogo, a personagem-titulo é mostrada sendo julgada, também se estabelece que ela tem problemas com leis de transito, e em confrontar as forças criminais locais. Os saltos temporais fazem a violência mostrada em tela piorar ainda mais quando Veronica adentra o antro os os jovens se drogam. A prostração do povo que faz uso contínuo das drogas assusta um bocado, mas há um cuidado enorme da parte da direção de Schumacher e da direção de arte de Patrick Lumb e Julie Ochipinti em não glamourizar aquilo, tampouco julgar essas pessoas como inferiores ou algo que o valha. A marginalização delas se dá por conta de desejos das próprias, e o modo como isso é demonstrado em tela é seco e pesado demais, um grande acerto do cineasta.
Após muitas críticas aos seus filmes, seja nas suas versões do morcego em Batman Eternamente ou Batman e Robin, ou nas adaptações de John Grisham, O Cliente e Tempo de Matar, o diretor decidiu fazer seu filme todo baseado na sobriedade. O filme é econômico, e até marcas registradas do diretor são deixadas de lado, a cidade não tem tons alaranjados em sua iluminação, ou pichações com detalhes em neon, possivelmente por essa ser uma historia na Europa e não nos Estados Unidos como foram as outras. Mesmo na abordagem de sua personagem central, ele não registra Blanchett como o auge da beleza (por mais que ela seja muito bonita), não é como foi com Julia Roberts, Sandra Bullock ou Nicole Kidman aqui o que fala mais alto é o trabalho da repórter do Sunday Independent e não o seu corpo, e mesmo quando tentam objetifica-la, a câmera condena o ato.
O diretor também rejeita qualquer tipo de estilização do estilo de vida junkie ou de filmes de gangsters ditos cools, não se vê referencias a utilização de drogas como em Transpotting ou Kids, tampouco os vilões parecem os de Na Mira do Chefe ou Snatch – Porcos e Diamantes. Há no filme um charme inconfundível, que mistura elementos de séries policiais antigas como Nova York Contra o Crime e um bocado do cinismo dos filmes noir antigos. A ideia de mostrar uma historia real parecia bem viva na cabeça do realizador, e para isso, ele usa de pragmatismo visual e de um modo bem austero de filmar, sem que para isso, a violência seja aplacada, afinal a realidade é por vezes pior que a ficção e fantasia.
A personagem de Guerin é muito profunda e realista, além de seu faro investigativo, elementos são incorporados ao seu comportamento, de maneira bem natural, como a admiração a Eric Cantona, jogador avançado de seu time, o Manchester United, que ficou conhecido para além do futebol, por ter dado uma voadora num torcedor que gritava palavras de ordem fascistas. Esse aspecto por menor que seja denota uma característica de humanidade bem básica, e isso é bem importante, já que é preciso que o público se identifique com a personagem.
Após o final do filme, pesado para quem não conhece a historia real de Veronica Guerin, é de se lamentar o nome nacional para o filme, ainda que O Custo da Coragem tenha algum significado, deixa nele implícito um grau de culpa em cima de uma personagem fantástica, que não tinha receio em bater de frente com a opressão da cidade grande, tampouco se dobrava aos homens poderosos, mesmo que fossem eles super mal encarados. A ideia de resistir vive no legado da personagem real, e Schumacher utiliza seu filme para denunciar as centenas de casos de assassinatos a jornalistas e a covardia do femininístico. Nesse intuito, ele poderiam facilmente cair em uma abordagem piegas e demasiado sentimental, mas isso não ocorre, ao contrário, o que se percebe é uma obra certeira, contundente e crítica.