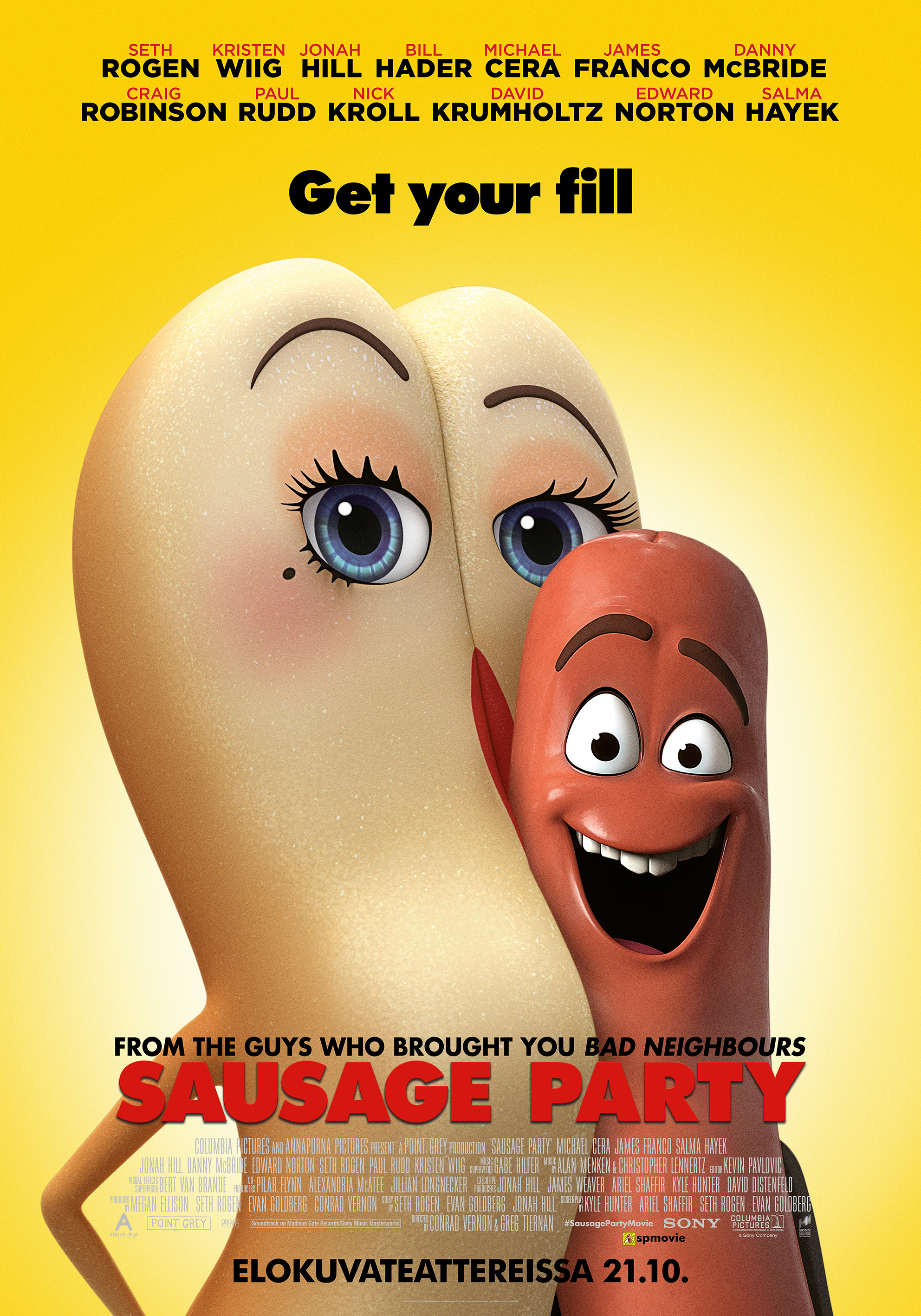Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

VortCast 103 | Ghostbusters: Mais Além

Bem-vindos a bordo. Flávio Vieira (@flaviopvieira | @flaviopvieira) e Filipe Pereira (@filipepereiral | @filipepereirareal) se reúnem para um bate-papo sobre a série de filmes Os Caças-Fantasmas, ou melhor, Ghostbusters, em especial sobre o filme mais recente. Curiosidades dos bastidores da franquia, as polêmicas do filme de 2016 e os principais acertos do novo longa.
Duração: 64 min.
Edição: Flávio Vieira
Trilha Sonora: Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook — Página e Grupo | Twitter | Instagram
Links dos Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Deviantart | Bruno Gaspar
Cine Alerta
Materiais Relacionados
A Misoginia de Caça-Fantasmas
Resenha | Os Caça-Fantasmas — Mangá
Filmografia comentada
Crítica | Os Caça-Fantasmas (1984)
Os Caça-Fantasmas 2 (1989)
Crítica | Caça-Fantasmas (2016)
Crítica | Ghostbusters: Mais Além
—
Avalie-nos na iTunes Store | Ouça-nos no Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:04:04 — 84.1MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS