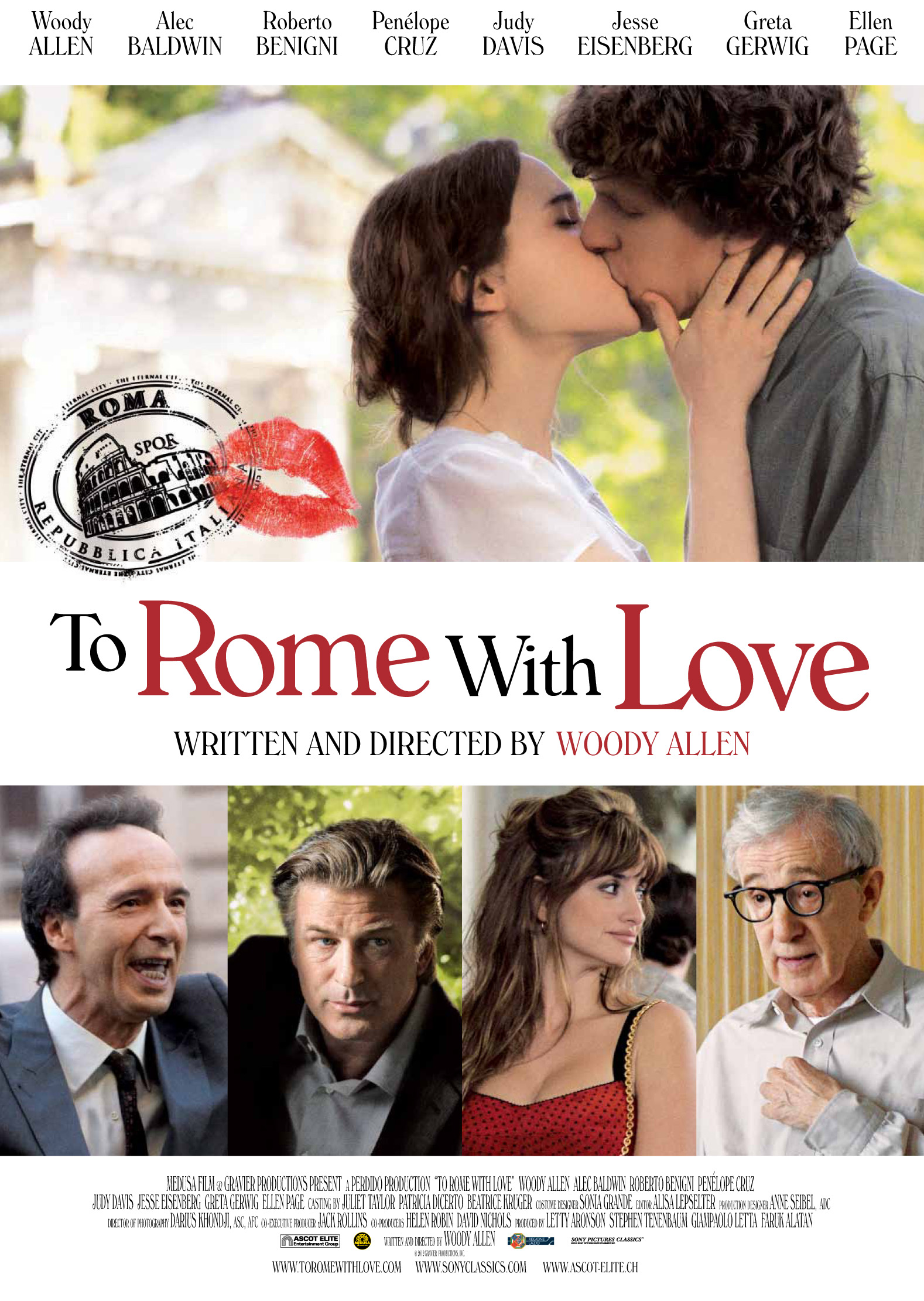Crítica | Todos Já Sabem

De uma certa maneira, Todos Já Sabem (Todos Lo Saben/Everybody Knows) é a culminação nem tão saudável dos interesses de Asghar Farhadi (À Procura de Elly, A Separação, O Apartamento) como contador de histórias. Se por um lado as tensões e a própria narrativa são bem costuradas ao longo do filme, também é verdade que nada parece muito sincero e natural além da química entre os estrelados componentes de seu elenco. Talvez exista um filme recôndito menos bombástico e mais genuíno em Todos Já Sabem, mas Farhadi não o apresenta e permite, até compreensivelmente, que tal franqueza seja posta de lado em favor das atuações de Penélope Cruz, Javier Bardem, Bárbara Lennie e Ricardo Darín.
Girando em torno do desaparecimento súbito de Irene (Carla Campra), filha adolescente de Laura (Cruz) e Alejandro (Darín), durante a visita de quase todo o núcleo familiar, residente na Argentina, à pequena cidade nos arredores de Madrid onde Laura viveu durante boa parte de sua vida e na qual suas irmãs e seu pai ainda moram e o casamento de uma delas, a mais nova, ocorrerá, o longa introduz de maneira relativamente expositiva e direta os temas que conduzem sua narrativa: dilemas e imperfeições familiares escondidos ou negligenciados em nome da harmonia e da felicidade alheia. A família de Laura não passa por dificuldades que vão além de questões cotidianas, e é justamente esta a razão para o ocaso causado pelo evento extraordinário que leva o filme adiante e move as peças pelo tabuleiro – pessoas consternadas e razoavelmente perdidas diante de algo além de seu controle e aparentemente distante de uma resolução.
A reunião familiar devido ao matrimônio de Ana estabelece rapidamente a dinâmica entre as personagens: Laura é uma filha distante apenas geograficamente, aparentemente bem casada com o ausente Alejandro e com um casal de filhos, Mariana (e sua família, Fernando e Rocío, respectivamente marido e filha passando por problemas no casamento e com uma filha pequena), mais velha que Laura, e Ana suas irmãs, todas filhas de Antonio (Ramón Barea), um idoso temperamental e de saúde em declínio. Completam o cenário Paco, amigo de infância e juventude de Laura e pessoa ainda muito próxima à sua família, seu sobrinho Felipe (Sergio Castellanos) e sua esposa/namorada Bea, cuja personalidade prática contrasta com a proximidade quase pueril das demais personagens.
Farhadi sempre demonstra interesse em situações não resolvidas ou mal acabadas e acomodações realizadas por indivíduos desprovidos de certezas a respeito dos rumos das próprias existências, bem como nas consequências inevitáveis destas virem à tona, e Todos Já Sabem, sua obra mais abrangente em termos de número de personagens e detalhes sobre suas vidas (até mesmo em função do suave exercício de gênero do cineasta, aqui flertando mais uma vez com um thriller) é um prato cheio para que o iraniano possa flexionar os músculos de sua curiosidade acerca da vida dos outros, do que os motiva e do que os impulsiona. Se a família de Laura e Alejandro parece carinhosa e harmônica, é porque seus problemas (bem ancorados na realidade) ficam afastados o suficiente para manter esta realidade; se o clima entre Paco, o pai de Laura e outros parentes e habitantes do vilarejo é um de intensa familiaridade, é porque a trégua para assuntos mundanos e picuinhas ainda funcionais é conveniente, apesar de tênue, e conserva a possibilidade de tantas pessoas diferentes não se entregarem à impessoalidade de tempos mais atuais e lugares mais metropolitanos. O roteiro de Farhadi preza por personagens autênticas, e na maior parte do tempo é exitoso ao demonstrar esta autenticidade em doses homeopáticas, evitando transformar cada cena em algo intenso e pautando eventuais revelações e interações mais drásticas por uma lógica interna de necessidade e oportunidade. Quando falha, não chega a comprometer tudo que ergueu, mas a aparente obrigatoriedade de momentos mais intensos por vezes se assemelha mais a uma tentativa de fermentar os dramas do que com o desenvolvimento natural e proporcional de revezes e embates iminentes.
Contudo, é difícil não esperar sequências dramáticas mais chamativas quando se tem atrizes e atores do calibre dos presentes em Todos Sabem, e embora Penélope Cruz exerça um potente magnetismo como Laura, são as personagens de Bardem, Darín e Bennie (na figura de Bea, companheira de Paco), todas pessoas tentando agarrar-se às próprias dignidades diante de complicações financeiras e morais, que acabam conferindo a seus intérpretes a chance de encarnar emoções mais contidas, mais sutis e que melhor conversam com a atmosfera do filme (nem sempre racional, e bastante afetada por algumas reviravoltas e soluções que soam mais oportunas e espertas do que a trama realmente precisava – as aparições de um policial aposentado que auxilia a família quando do sumiço de Irene, em especial, são fortuitas demais pra que possamos considerá-las orgânicas e não meras ferramentas pra incrementar a exposição de elementos acerca da família de Laura e do entorno do ocorrido).
Através de uma eficaz colaboração com José Luis Alcaine, habitual colaborador de Pedro Almodóvar, Farhadi faz um filme cálido e menos mergulhado em melancolia e angústia do que sugere sua premissa, e embora nem tudo seja concluído de maneira satisfatória (de um ponto de vista emocional E narrativo) e algumas pontas soltas pareçam importantes demais pra que não recebam a devida importância, é possível apreciar o resultado final, ainda que com moderação. Algo digno, se considerarmos a eficácia da realização a despeito de várias emoções e informações bastante telegrafadas — e é perfeitamente possível que os fãs do diretor/roteirista não se importem com isto, desde que continuem recebendo obras nas quais forma e conteúdo ainda se completam de forma exemplar, mesmo que sem o frescor e a vitalidade que fizeram do diretor um artista celebrado. Um Farhadi menos inspirado ainda é um Farhadi, e faz bem estar escorado em nomes que emprestam gravitas às suas ideias. Em especial quando estas comecem a exibir alguma fadiga.
–
Texto de autoria de Henrique Rodrigues.
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.