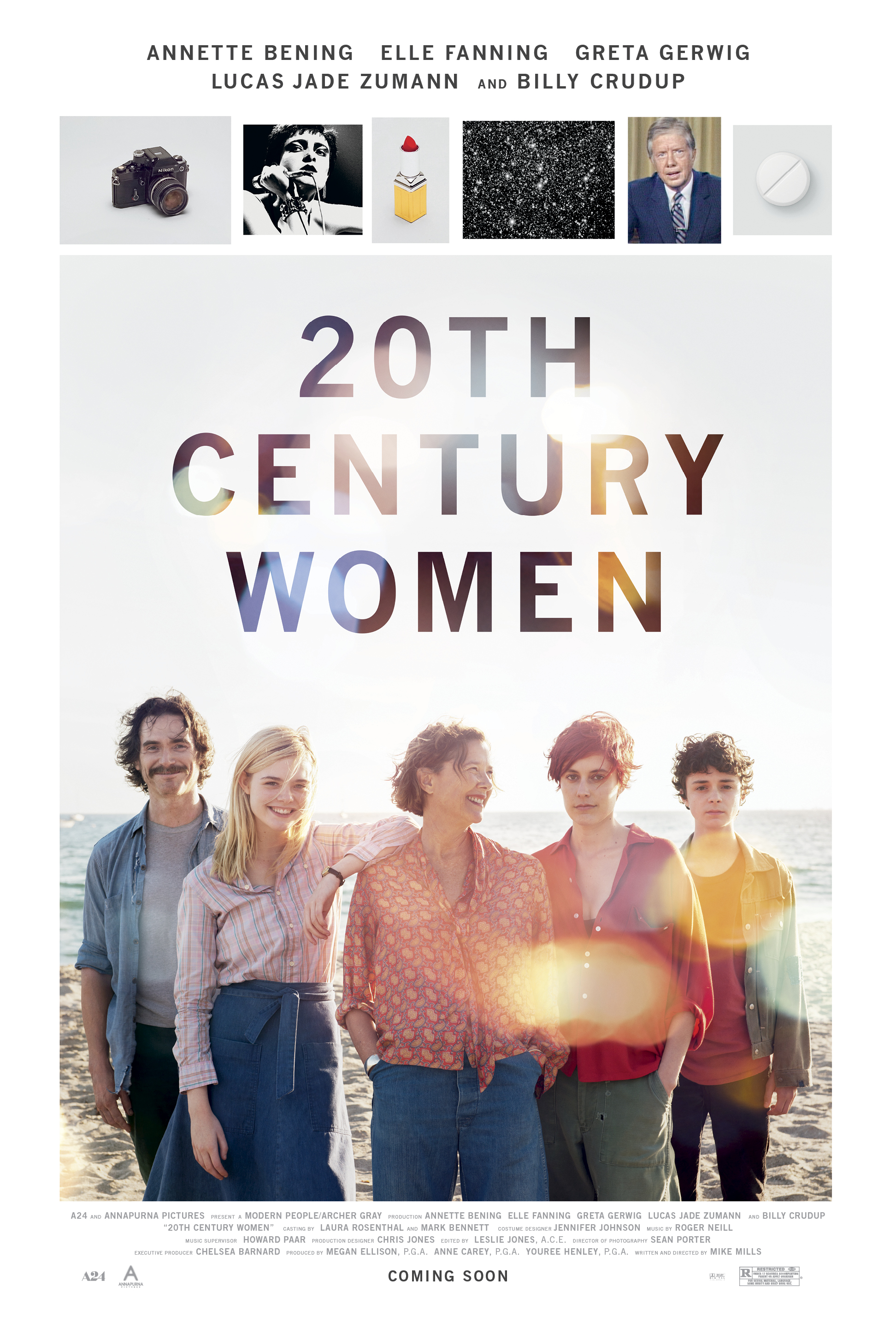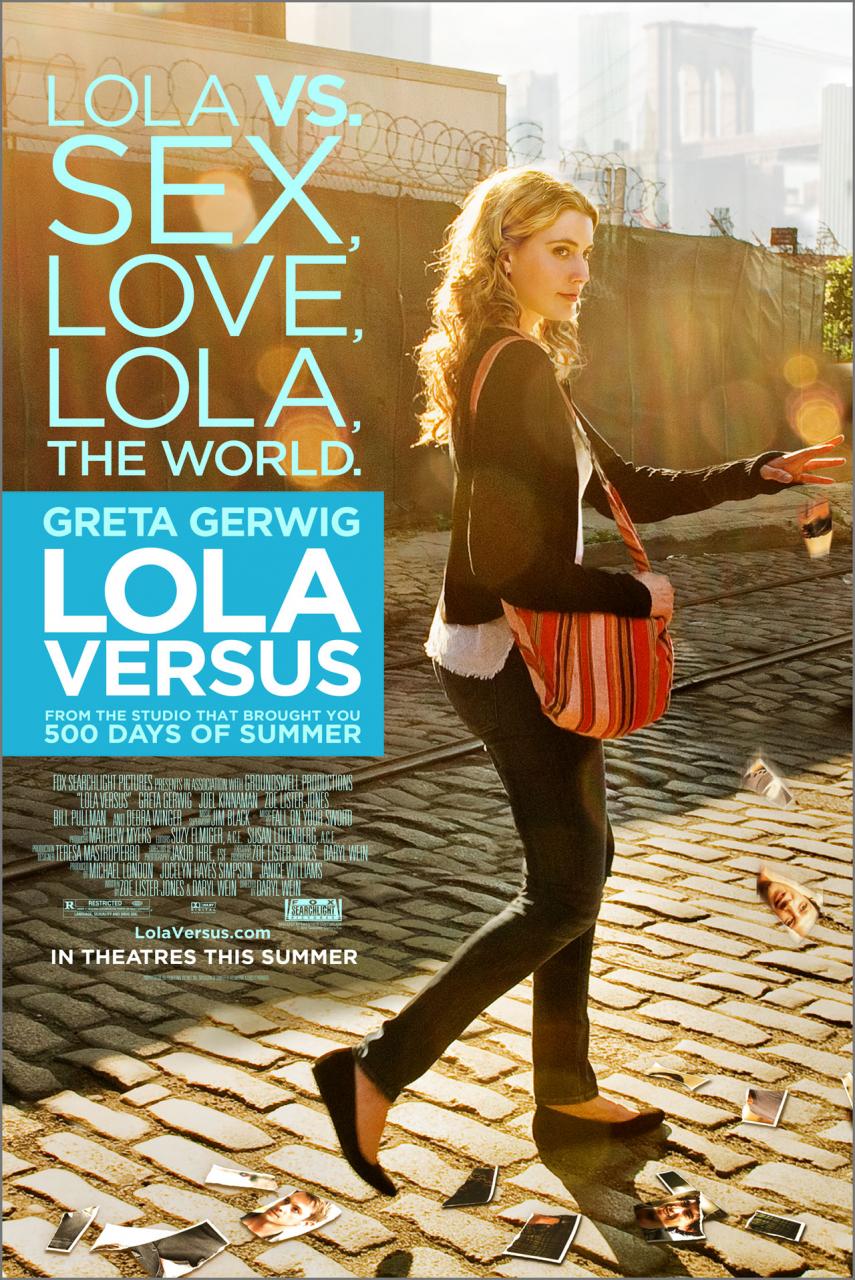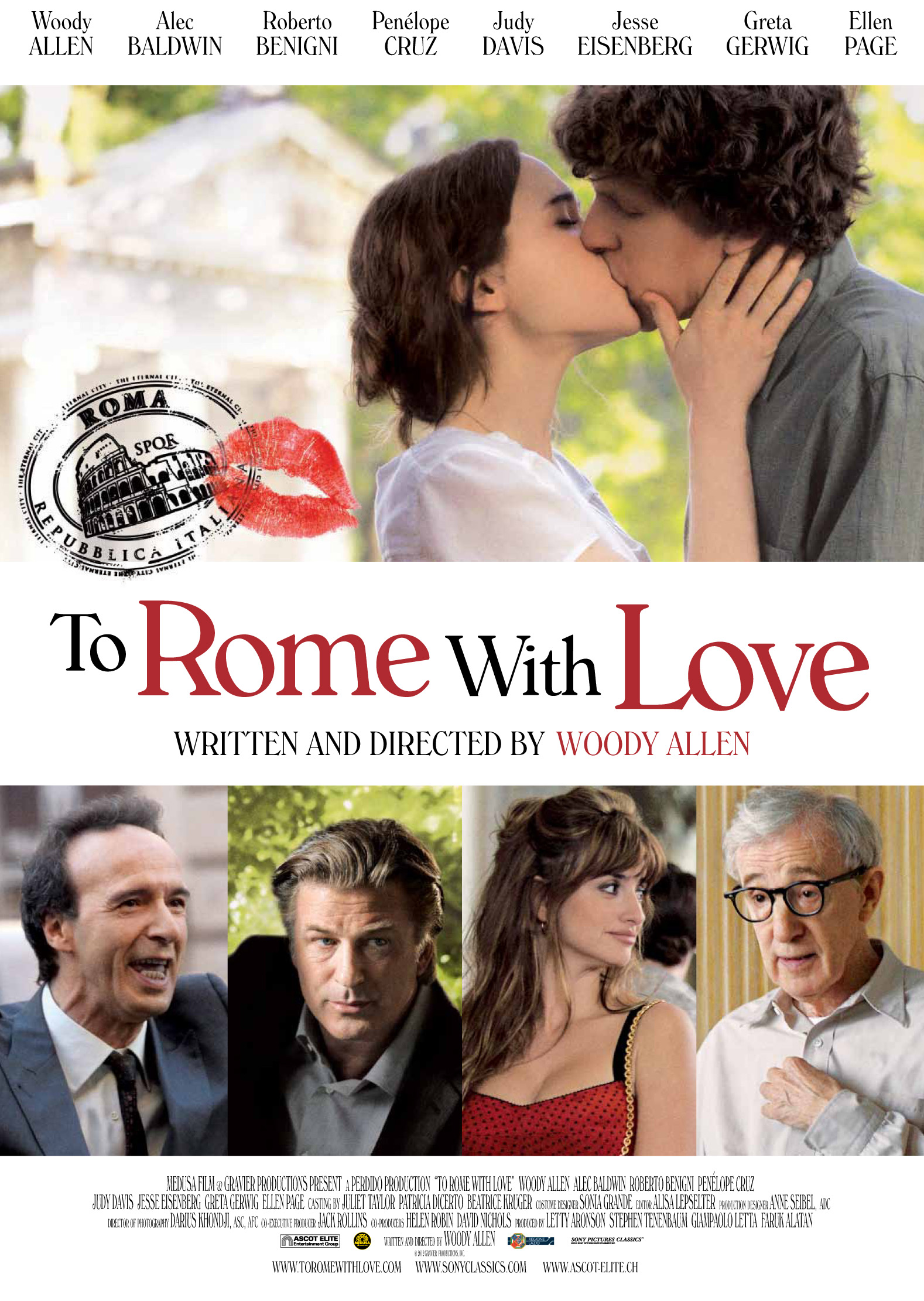Crítica | Adoráveis Mulheres (2020)

Greta Gerwig é uma atriz de mão cheia e recentemente, resolveu voltar a dirigir, mesmo que o hiato entre seus dois filmes, Nights and Weekends e Lady Bird – A Hora de Voar fosse de nove anos. Sua obra atual, Adoráveis Mulheres conta a trajetória da família March, começando pela existência e vivência de Jo, personagem de Saorsie Ronan, uma moça com talentos de escrita, que ganha a vida vendendo contos anônimos. Não demora-se a mostrar a intimidade dos seus e as dificuldades que todos tem em manter sustento.
O roteiro é uma adaptação literária, do romance homônimo (chamado originalmente de Little Women, em atenção ao modo carinhoso como o pai da família fala das meninas) de Louisa May Alcott se percebe que cada filha de Marmee (Laura Dern) tem um talento ímpar. A Meg de Emma Watson é uma boa atriz, Amy (Florence Pugh) pinta e Beth (Eliza Scanlen) é uma eximia pianista. Elas convivem bem com o vizinho abastado das mesmas, e com seu filho, Laurie (Thimotée Chalamet), e a linha narrativa varia entre momentos temporais diversos, explorando as relações e contradições sentimentais de cada personagem, obviamente voltado mais para a vida das garotas.
A reconstituição de época é bem feita, embora boa parte do discurso supostamente progressista seja mostrado de uma forma gratuita. Há pouca sutileza na tentativa de mostrar as mulheres como independentes e empoderadas, e na maioria dos pontos, não há muito desenvolvimento além da rasa premissa de mostrar gente independente – ou algo que se aproxime disso – vivendo só um dia normal. Esse caráter raso dá ao longa uma impressão de abordagem folhetinesca, quase como as novelas de época da Rede Record (excluindo obviamente os dramas bíblicos) misturado as famigerados comerciais de margarina. O auge dessa situação adocicada é uma cena de dança, que grita o tempo inteiro como se esse fosse um “evento que conecta”, isso soa tão infantil que faz irritar o espectador.
O filme também investe em alguns simbolismos que, apesar de óbvios, não são gratuitos, como o uso do fogo como elemento de consumo e renovo. O fato disso se repetir em muitos momentos soa desnecessário, mas certamente não é o maior dos pecados da obra de Gerwig. Tanto Dern quanto Meryl Streep (que faz uma tia das moças) estão ótimas. Elas servem como a âncora moral de Adoráveis Mulheres, e representam a beleza e segurança provenientes da vida adulta, ainda que as duas tenham um código de conduta bem diferente, sendo uma bastante otimista e necessitada, e outra azeda e pragmática. De certa forma, a personalidade de cada uma das quatro meninas pega emprestado alguns elementos da experiência de ambas.
A idas e vindas temporais amenizam boa parte dos momentos piegas do filme, em especial nas futilidades das jovens, que tem boas lições morais ao longo de suas vidas. A rivalidade de Amy e Jo por exemplo é um bom aspecto, pra muito alem do discurso arrogante do script. As duas são certamente as personagens mais ricas, pois são encantadores enquanto também são falhas, com uma sendo o resumo da definição de pedância e a outra a personificação da inveja e ressentimento.
Quando o filme não aposta no discurso pseudo revolucionário e é “só” uma historia familiar cheia de dissabores, acerta muito, pois emulaa vida. As partes que mostram as pessoas se frustrando por não terem dado certo até certo ponto da vida também revela o que é mais rico nas personagens de Adoráveis Mulheres, e o que salva é exatamente isso os laços sanguíneos que não permitem muita pretensão, e ainda garantem momentos de rara emoção, seja a melancolia ou alegria por ver pessoas tão tangíveis vivendo confusões mentais e sentimentais, tal qual é na vida.