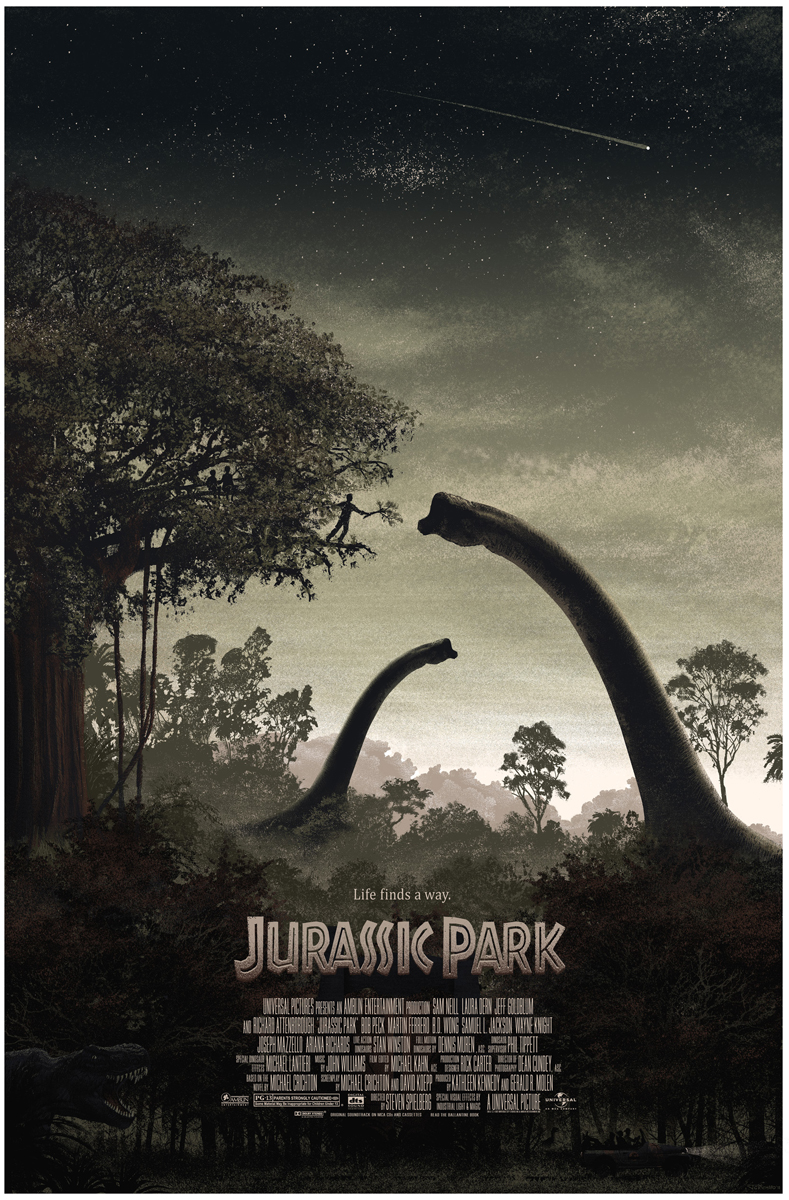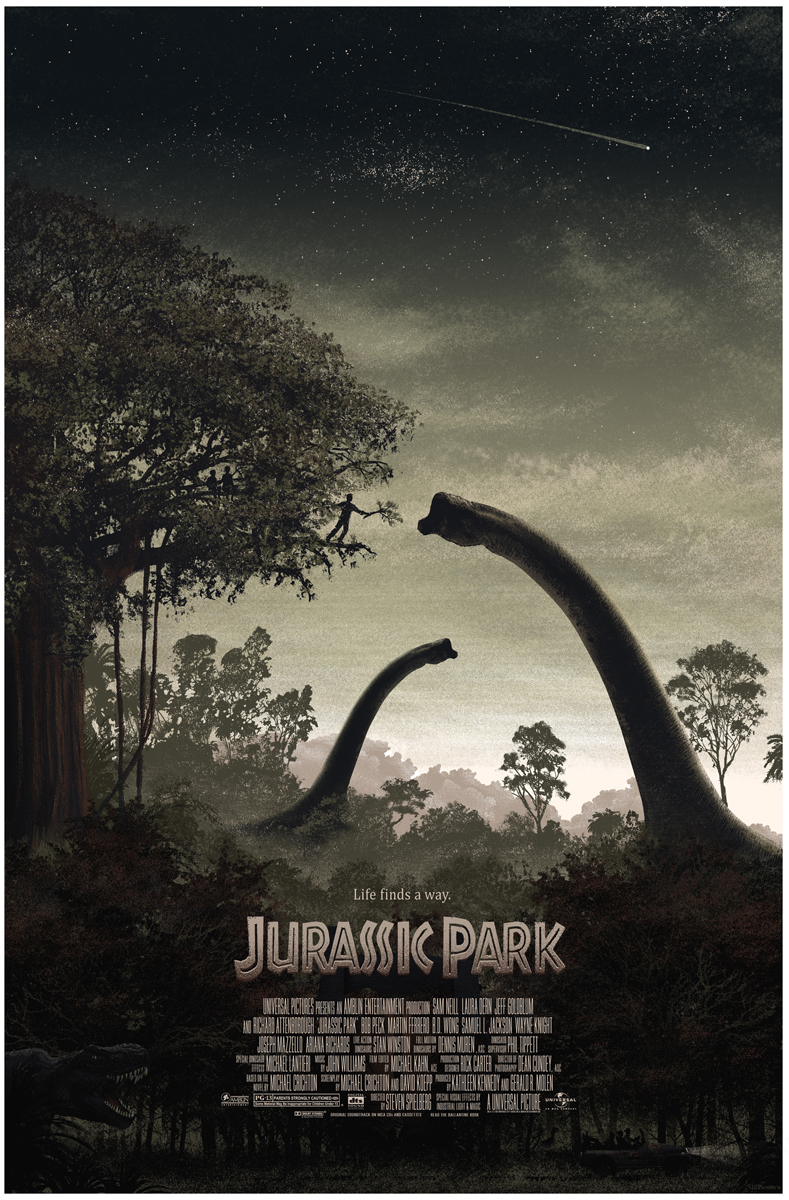Crítica | Ilha dos Cachorros

É fácil perceber que se está diante de um filme de Wes Anderson, mas não só pelos motivos “aparentes” e esperados, em especial neste filme de 2018. Incorporando sua identidade rigorosamente meticulosa na elaboração visual de toda a sua mise-en-scène, com a história do garotinho Atari em busca de seu cachorro numa ilha japonesa dominada por raças caninas simpáticas e inteligentíssimas, forma-se uma (tentativa raquítica e apática de) jornada sobre liberdade e amizade e que começa e termina na vã estratégia de ser um Cinema autoral e de entretenimento ao mesmo tempo, algo que Anderson sempre conseguiu, mas que aqui simplesmente não consegue basilar-se nas suas pretensões. Resumindo: Sobra estilo e esquematização, e faltam conflitos e emoções reais em Ilha dos Cachorros, como se isso fosse tudo.
Wes Anderson não acredita na sua história pois não assume risco algum; fato. Zona de conforto total, e que impressiona dada a mente brilhante que está por trás desse projeto, o filme inteiro parece ser um ato só: Coisas se desenvolvendo com a leveza do vento e sem alcançar patamares significativos em absoluto – nem na filmografia de Anderson, nem no Cinema recente. Mesmo quanto as peculiaridades do cineasta, seus travellings ultra planejados e seu ritmo incessante, ágil e palco para um humor negro irresistível, em A Ilha dos Cachorros tudo torna-se desinteressante pela primeira vez na carreira do cara. E, caso a obra não mereça ser chamada de “desinteressante”, o oposto tampouco atinge na percepção sensorial de quem esperava a regularidade de sempre do autor de Moonrise Kingdom, e de uma das grandes animação dos últimos anos: O Fantástico Sr. Raposo.
Entre gangues formadas por diversas raças de cães e que lutam pela sobrevivência em um território que dominam, e muito corre-corre vazio, a história grita desesperada por um nível básico digamos de naturalismo que jamais poderia encontrar junto a alguém cuja frontalidade sempre foi orgulhosamente cênica, à beira do artificial. Parece que Anderson quer escapar um pouco do seu estilo e tentar ser mais solto, mais humanizado igual sua cachorrada solta em terreno japonês seguindo Atari. Mas nesse desejo de se expandir, poucas vezes nessa década se viu uma animação tão carente de carisma e tão atolada por uma artificialidade oca; um vai e vem que, se diverte mais ou menos, não chega em lugar algum. Entre um cinismo estrutural e um apoio extremo na beleza e outras virtudes da sua técnica, Ilha dos Cachorros é o típico filme calculado em demasia que não aguenta a essência da sua sensível trama frondosa, e banalmente desenvolvida.
Neste exemplar do seu gênero, nem a boa trilha-sonora de um Alexandre Desplat ou o fascínio que técnicas de animação promovem não enganam ninguém (pelo menos aqui), e apenas embalam superficialmente a falta de envolvimento de todos os lados com a produção. Anderson apresenta uma mão surpreendentemente pesada na direção, e a trama centrada em amigos inesperados (e uma subtrama política feita às pressas por meio de analogias baratas) tampouco combina com o seu estilo de aventuras hiper organizadas em seu espaço/ tempo tão particular, e sempre tão delicioso – até agora. Estamos falando de um quase filme, de uma ideia que talvez merecia ser contada mas de uma forma muito mais calorosa – o clímax do filme é ordinário. Nem as boas sacadas visuais evitam a apatia e o aborrecimento em meio as tramoias de espécies humanas e caninas, aqui. Parece que todo cineasta precisa ter um mau exemplo da sua visão no currículo, e é uma pena Anderson não ser uma exceção.
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.