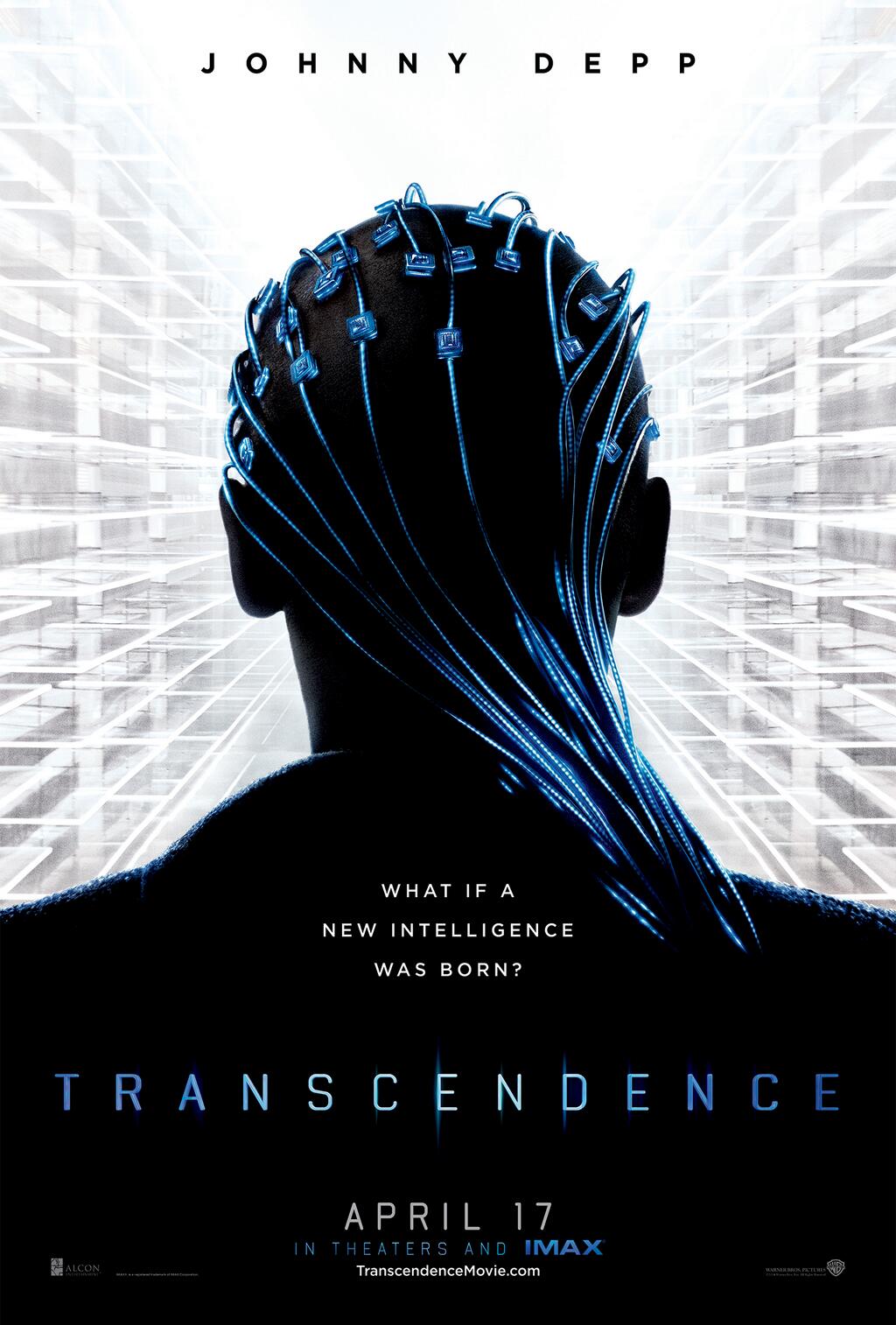Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

VortCast 62 | Tim Burton – Parte 1

Bem-vindos a bordo. Flávio Vieira (@flaviopvieira), Filipe Pereira (@filipepereiral), Bernardo Mazzei e Bruno Gaspar recebem o convidado Alexandre Luiz (@alexluizbr), do Cine Alerta, retornam para mais uma edição do VortCast, e dessa vez comentando sobre a filmografia de um dos cineastas mais originais da Hollywood nas últimas décadas, Tim Burton, criador de um universo próprio, marcado pelos tons imaginativos, soturnos e góticos, e repletos de personagens desajustados.
Duração: 127 min.
Edição: Julio Assano Junior
Trilha Sonora: Julio Assano Junior e Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Feed do Podcast
Podcast na iTunes
Feed Completo
Spotify
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram
Acessem
Filmografia Comentada
As Grandes Aventuras de Pee-wee
Crítica Os Fantasmas se Divertem
Crítica Batman
Crítica Edward Mãos de Tesoura
Crítica Batman: O Retorno
Crítica Ed Wood
Crítica Marte Ataca!
Crítica A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça
Crítica Planeta dos Macacos
Crítica Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas
–
Avalie-nos na iTunes Store | Ouça-nos no Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 2:07:13 — 87.4MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS