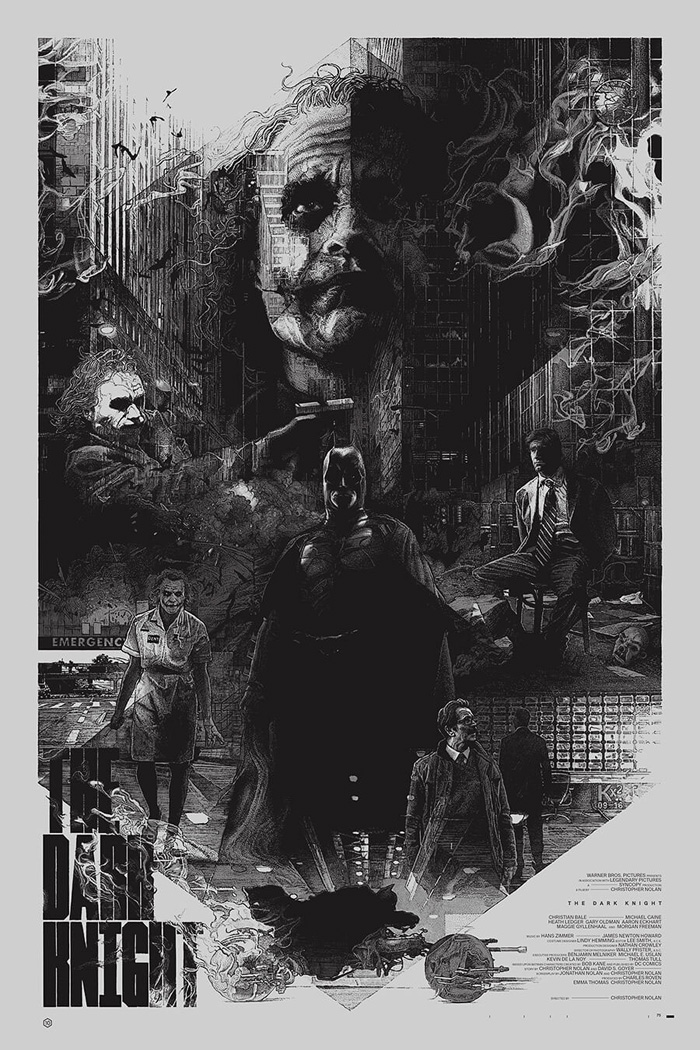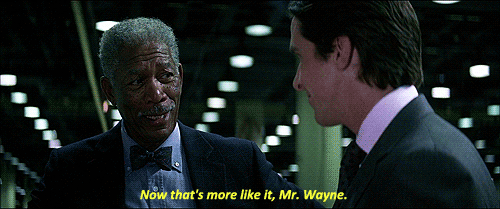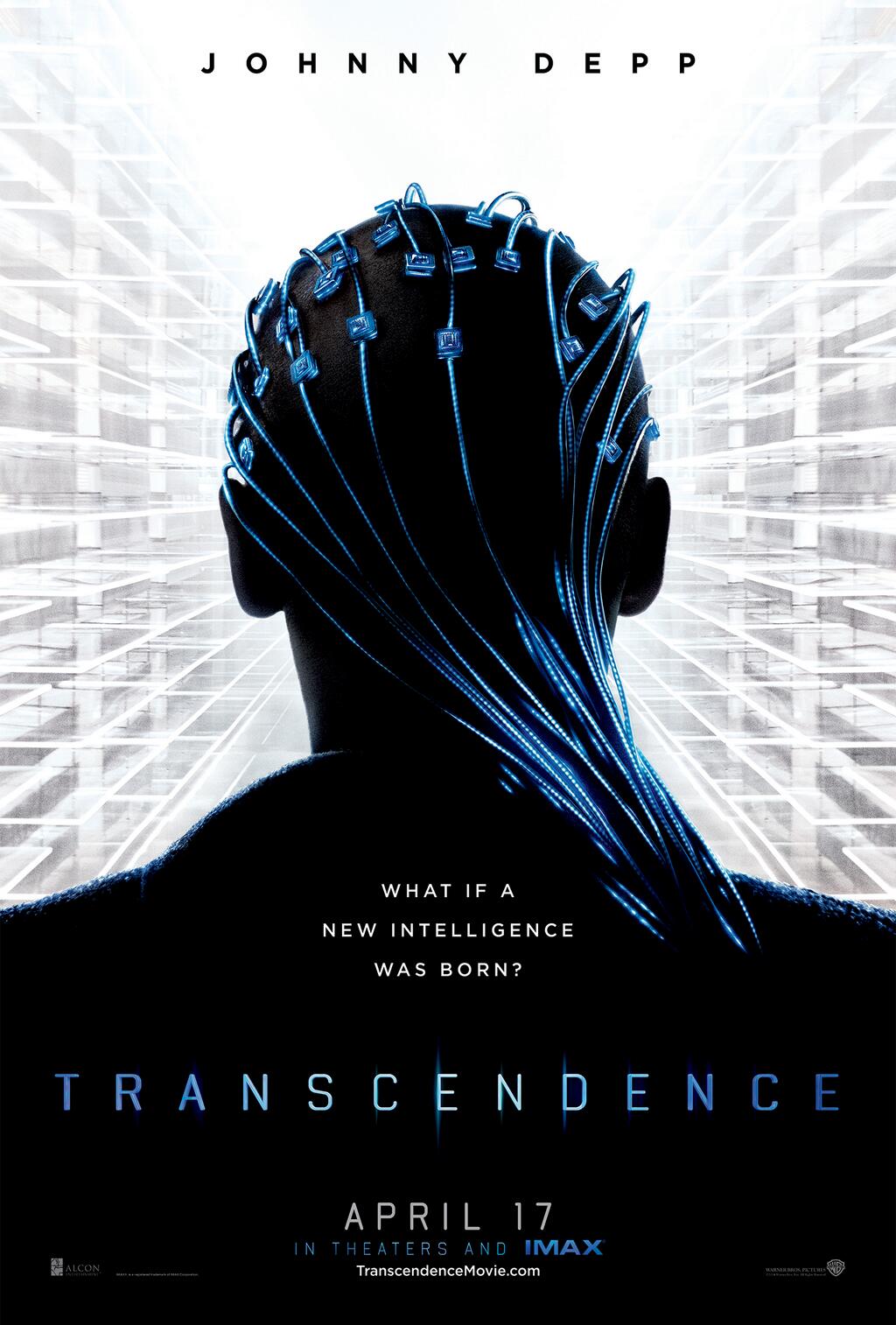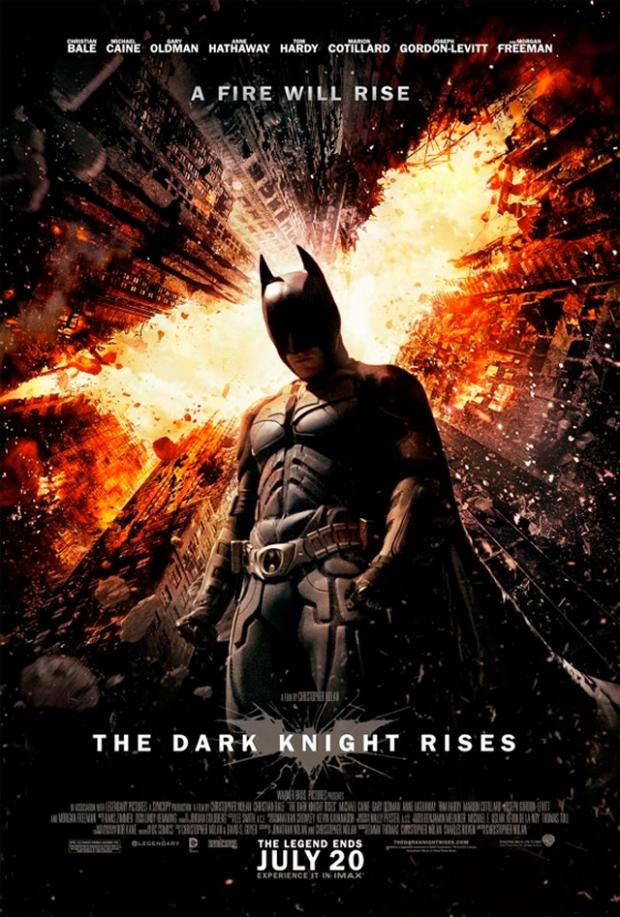Crítica | Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime

Era apenas uma questão de tempo para que Dupla Explosiva, a comédia de ação estrelada por Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson que foi sucesso de bilheteria no ano de 2017, ganhasse uma continuação. Porém, enquanto o primeiro filme divertia bastante ainda que possuísse certos problemas, esse aqui erra em praticamente tudo o que tenta.
Seguindo a cartilha de Hollywood que dita que as sequências devem ser maiores e mais barulhentas que o original, Dupla Explosiva 2 amplifica tudo o que havia no primeiro. Entretanto, a balança se inverte e aqui os defeitos superam as qualidades. Na trama, o guarda-costas Michael Bryce (Reynolds) abandona sua licença sabática para proteger Darius (Jackson) e Sonia (Salma Hayek) depois que ela revela estar sendo perseguida por Aristotle Papadopolous (Antonio Banderas), um louco bilionário que está em poder de uma arma que pode destruir o mundo.
Chega a ser impressionante um filme com um orçamento de 70 milhões de dólares possuir uma produção tão pobre. O excesso de CGI mal feito chega a ser irritante e compromete demais. Existem cenas que nem são de ação, mas que deixam claro o péssimo uso da tela verde. Ainda no tópico da ação, o diretor Patrick Hughes já havia demonstrado competência na condução de cenas do tipo no primeiro Dupla Explosiva e no terceiro Os Mercenários. Entretanto, aqui não faz nada digno de nota, somente um amontoado de clichês prejudicados por uma edição fraca. O humor do filme é tão pobre quanto, e aposta na repetição de piadas de constrangimento e cunho sexual que parecem ter saído de um derivado ruim de American Pie.
O trio de protagonistas é enervante. Parece que Jackson e Hayek estão competindo para saber quem grita mais alto. Reynolds, desde que fez sucesso em Deadpool, parece interpretar qualquer personagem de uma só maneira. Ele repete o que fez antes em Esquadrão 6 e o que faria em Alerta Vermelho, com o agravante de emular o personagem mutante e ficar o tempo todo fazendo piadas autorreferentes, além de narrar o que está sentindo e o que está acontecendo na tela para o espectador, numa tentativa velada de quebrar a quarta parede que aqui não funciona, deixando transparecer que o filme não confia na inteligência de quem está o assistindo. Banderas até se salva interpretando seu vilão como se ele fosse um antagonista de Roger Moore nos filmes mais caricatos do agente 007. Porém, a participação de Morgan Freeman é desperdiçada por uma condução ruim que estraga boas piadas em potencial.
Enfim, Dupla Explosiva 2 é uma experiência cansativa e enervante para o espectador, o que é uma pena. Infelizmente, por melhores que sejam os atores, não dá para apoiar um filme inteiro em carisma. É preciso mais do que isso.
https://www.youtube.com/watch?v=8I-7eEIWKEQ&ab_channel=Ingresso.com