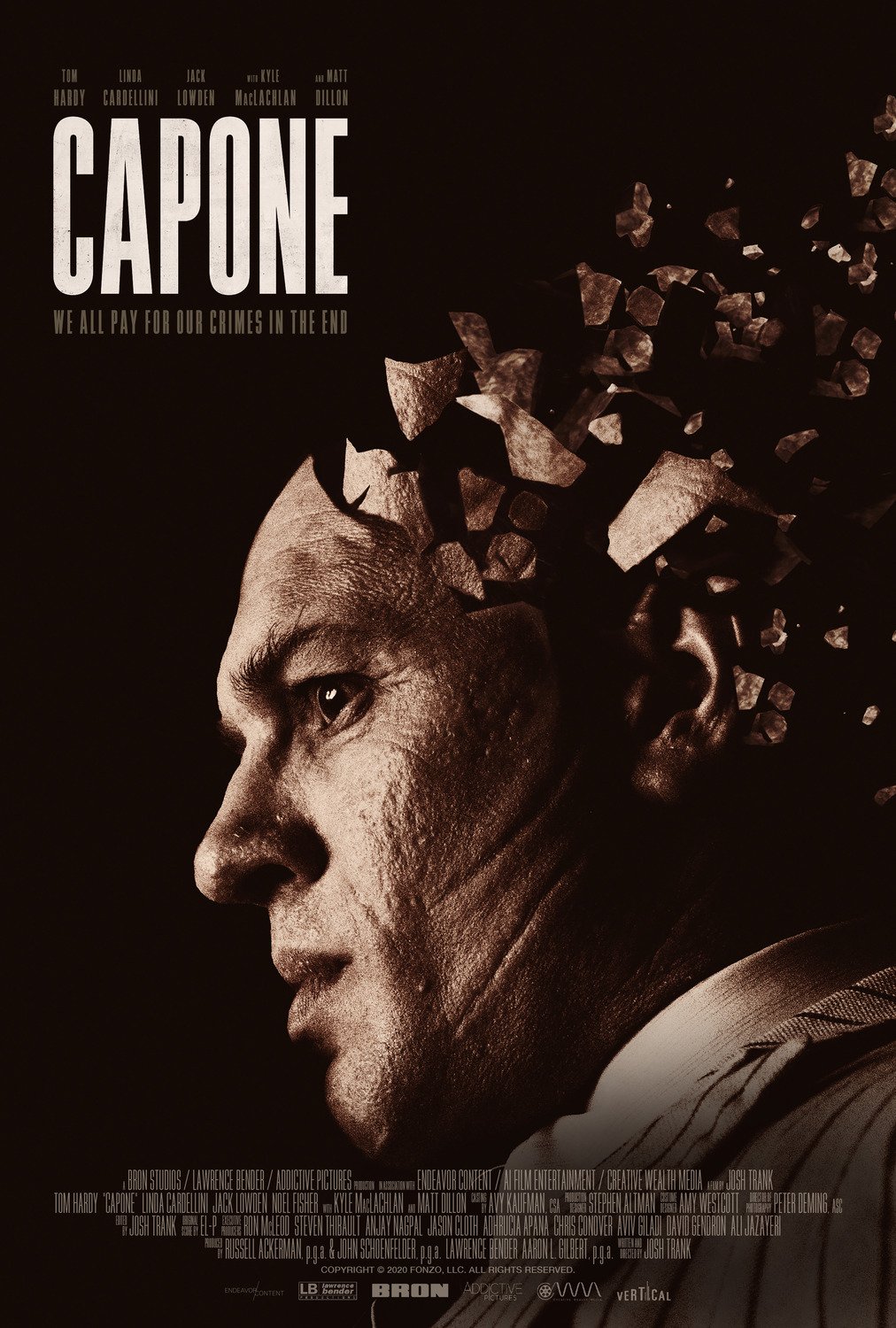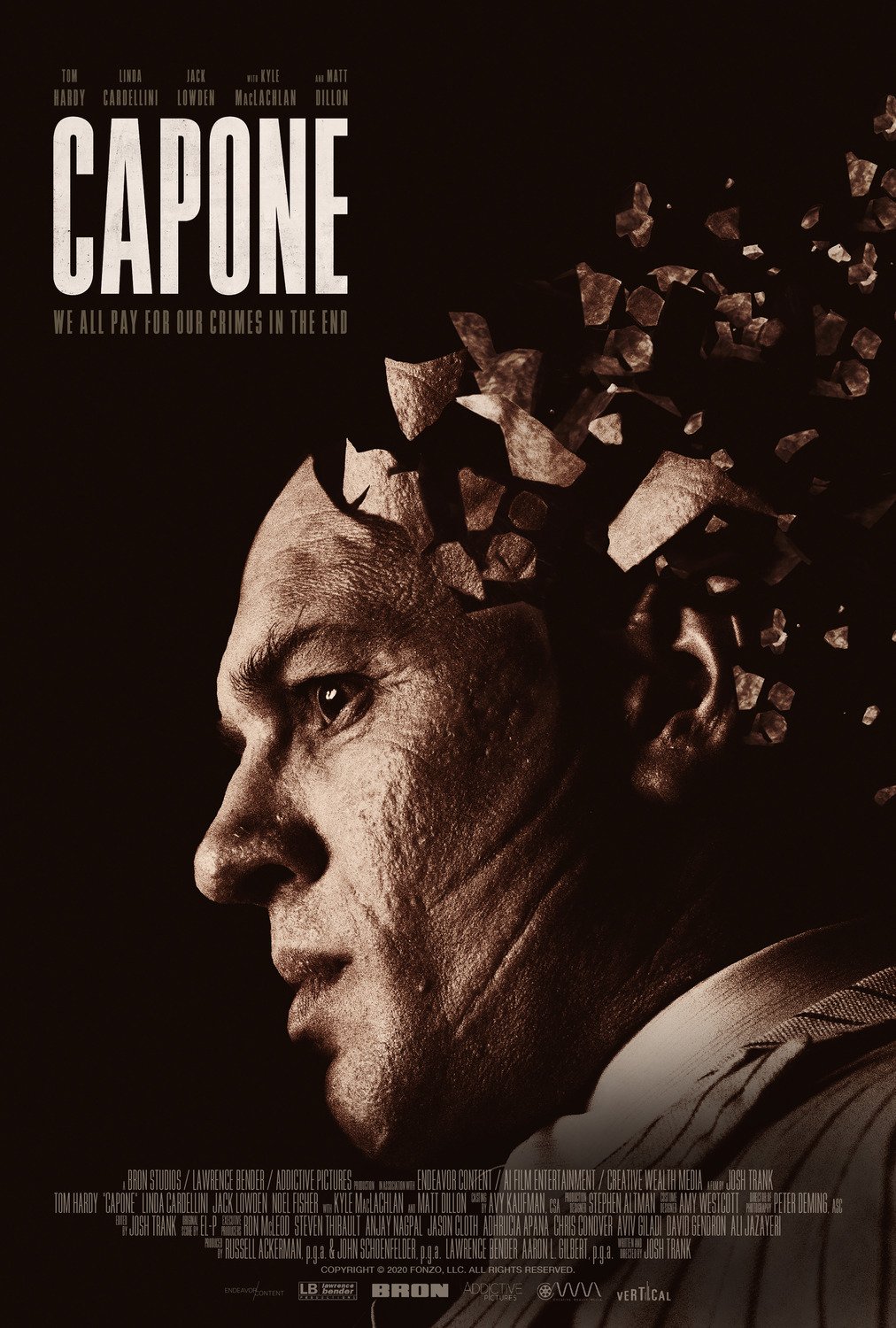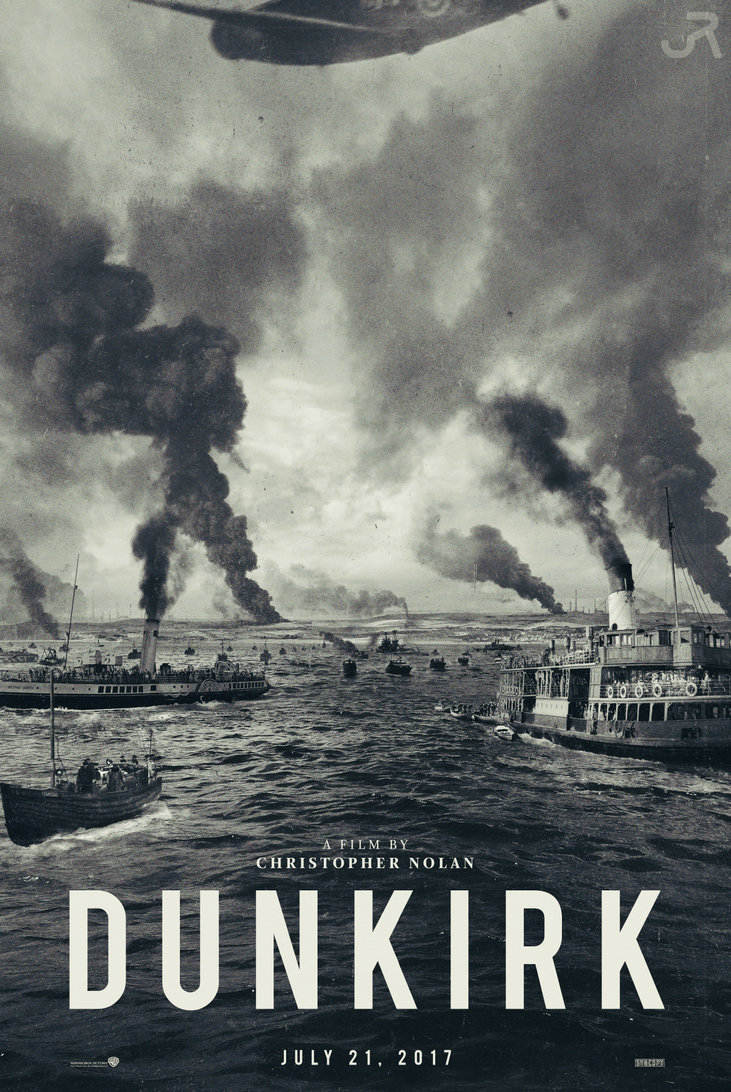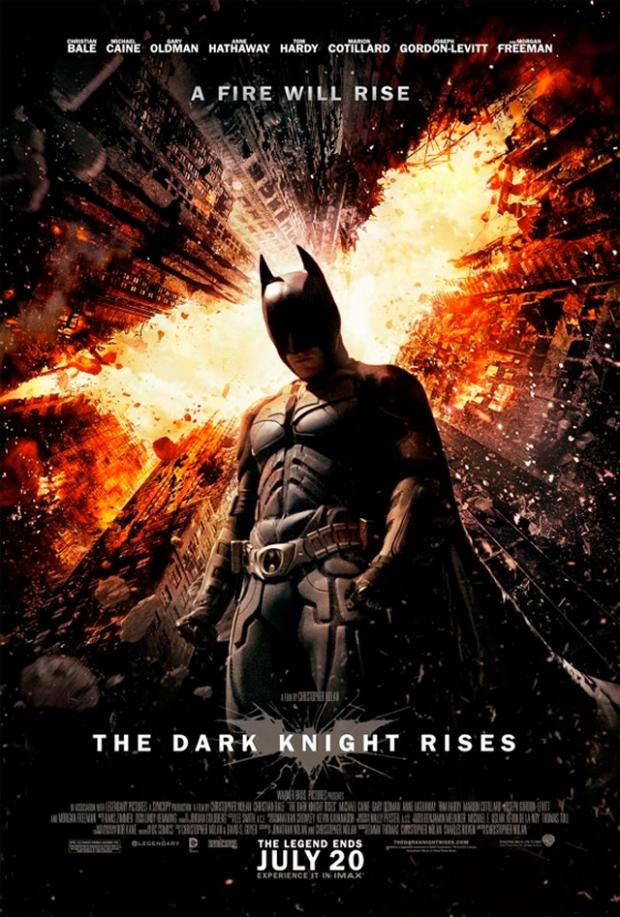Crítica | Venom: Tempo de Carnificina

Venom: Tempo de Carnificina retorna às aventuras do jornalista com problemas de dupla personalidade Eddie Brock, dessa vez o personagem oriundo das histórias do Homem-Aranha tem o desafio de seguir sua vida, após terminar o namoro estabelecido antes, sofrendo instabilidades na sua nova relação “amorosa”, com a sua contraparte extraterrestre
A história do filme, dessa vez dirigida pelo ator Andy Serkis, começa em 1996, mostrando o passado de Cletus Kasady, com sua amada Frances, separados enquanto estão em um hospital psiquiátrico. Logo o tempo retorna ao presente e mostra o futuro Carnificina (Woody Harrelson) enquanto sonha um dia reencontrar Frances (Naomi Harris). Nos quadrinhos, a personagem tem o codinome Shriek, é inimiga do Aranha e tem o poder de dar gritos sônicos, que são, aliás um dos pontos fracos dos simbiontes. Obviamente, a origem dessas habilidades não é discutida, dado que a prioridade do filme passa longe de ser congruente ou lógico.
Esse início não avança em nada na história do protagonista, funcionando como um prólogo. Isso não é um problema, só demonstra que o filme terá também como foco narrativo o seu antagonista. O destino faz Brock e Kasady colidirem, e depois de uma matéria sensacionalista, o maníaco olharia para Eddie com maus olhos, e não sem razão, pois Brock segue sendo ganancioso, um anti-herói que não liga para a ética mesmo com todas as lições do filme anterior, Venom.
Há uma clara mudança de postura do protagonista nesse segundo filme. Se no filme de Ruben Fleischer o desempenho de Tom Hardy era uma das poucas coisas que funcionavam, visto que só ele parecia atuar propositalmente sério. Nesta parte dois a abordagem é muito mais focada na esquizofrenia e nos conflitos entre as Brock e o simbionte. Ao se dar conta disso e ler a sentença anterior, o leitor pode pensar ser um elogio, mas não, já que aqui se abraça a galhofa em demasia, inclusive no papel de Brock, ao passo que o filme nem sequer tenta soar como uma comédia.
A equipe de roteiristas mudou, dos três escritores anteriores do filme de Fleischer ficou somente Kelly Marcel, que também escreveu Cinquenta Tons de Cinza, além de Hardy que escreveu com ela o argumento. Dado o tom de relação abusiva (que busca parecer romântica), não é surpreendente perceber semelhanças entre o que Christian Grey faz com o que é estabelecido aqui. Curiosamente Kasady parece ter inspiração em vilões dos filmes do Batman de Tim Burton, uma mescla entre o Coringa de Jack Nicholson e o Pinguim de Danny DeVito em Batman: O Retorno. Seu passado é mostrado de modo criativo, como uma singela pintura num quadro em branco. O espírito deste trecho faz lembrar produções como James e O Pêssego Gigante e Frankenweenie.
Harrelson rouba a cena em boa parte de suas participações, aparentemente está à vontade em interpretar alguém com transtornos mentais e de personalidade. Harris não tem um desempenho positivo e as tentativas de repetir os clichês de Assassinos Por Natureza são pífias. Michelle Williams e Stephen Graham também não tem muito espaço para trabalhar, estão lá como meros enfeites.
Depois das complicações com Mogli: Entre Dois Mundos, Serkis demorou a se reabilitar, certamente pensou que seria bom abraçar um projeto caro como este, mas para o seu azar a pandemia do novo coronavírus atravessou o tempo da estreia do longa. Venom foi um sucesso de bilheteria e mal falado pela crítica, este não foi tão massacrado pelos analistas, mas também não arrecadou tanto, portanto o diretor acabou saindo derrotado, o que é uma pena, pois seu desempenho não é ruim. As cenas de ação são boas, as batalhas de aliens certamente são a melhor coisa do longa, mas não são positivas ao ponto de salva-lo da mediocridade. Venom: Tempo de Carnificina tem um roteiro cheio de furos, tenta adaptar uma história do Homem-Aranha, mas sem o Homem-Aranha (?!), e o próprio percebe isso quando utiliza em sua cena pós-crédito uma tentativa de atrela-lo aos filmes do Tom Holland.