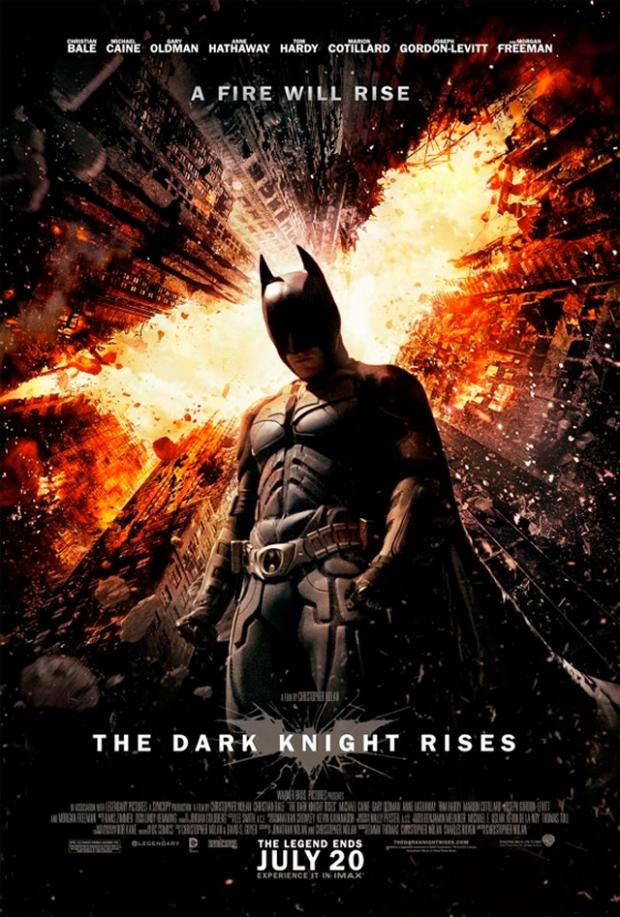Crítica | As Trapaceiras

As Trapaceiras começa em um bar, mostrando um homem grande, bonito esperando. Ele é é enganado por Madison, que na verdade é Penny Rust, personagem de Rebel Wilson que mente sobre sua aparência em um encontro marcado on line. Enganar homens não é seu único pecado ligado a falsidade, uma vez que já nesse inicio, ela foge da polícia, utilizando seu vestido preto para fingir que é uma sacola de lixo. Não demora a aparecer o outro fator feminino nessa equação, a também enganadora Josephine Chesterfield, de Anne Hathaway, que utiliza seu corpo belo e rosto angelical para seduzir, intoxicar e extorquir homens tarados e babões.
Há uma entrada animada, bem ao estilo dos filmes da Pantera Cor de Rosa com Peter Sellers, e a trama passa por cassinos, jogos de azar. Curioso que o filme que é uma refilmagem do clássico de 1988 Os Safados busca referencias em outras comédias de gênero para iniciar seu drama.
Ao contrario de Rebel, Josephine não se expõe tanto, é mais discreta, mas só um pouco menos, pois finge ser uma mulher falida, munida de parceiros de crime, em uma versão bem mais inspirada da picareta que fez em Oito Mulheres e um Segredo, embora aqui, os seus cúmplices sejam reais parceiros seus, e não uma gangue mal improvisada.
O caminho das duas trambiqueiras se cruza, em um trem luxuoso, onde uma está trabalhando e outra aparentemente está de folga. A alma galhofeira de uma provoca curiosidade na outra, e elas acabam se juntando, para um trabalho no futuro. O grande problema é que a diferença enorme de estilo de Hattaway e Wilson acaba gerando uma falta de química, inicialmente, mas que é resolvida rapidamente, com a inteiração mais intima entre elas para algo além do clichê da super parceria.
A motivação para que as duas se juntem é um trabalho grande que surgiu. Há uma concordância entre ambas, sobre porque mulheres são melhores enganando do que homens, uma vez que o macho pensa sempre ser alfa, o mais inteligente do bando, os mais esperto e bem preparado sempre, então, subestima as capacidades femininas, de ardis e de desonestidade. Fato é que as duas, mesmo sendo de biótipos e físicos bem diferentes normalmente conseguem o que querem, normalmente utilizando a oferta de sexo para atingir seu alvo.
Apesar de não reinventar a roda, o roteiro garante bons momentos no choque cultural que as duas tem. Enquanto uma é uma perfeita dama,esnobe e que pretende ser uma mentora da primeira, a outra é maloqueira, extravagante e voluntariosa, escandalosa em alguns momentos, e por mais que Josephine se considere melhor também em seduzir homens, Penny tem seus meios. Não demora até as duas começarem a competir, em uma briga infantil e que dá vazão a maneira mais divertida de inteiração que elas poderiam ter entre si.
A aposta no humor de constrangimento é muito acertada, e essa versão apesar de não ser tão brilhante quanto os Safados, mas tem seu charme e identidade própria. No final, apesar de haver uma coalizão meio boba para um filme atual, se nota uma bela inteiração entre Hathaway e Wilson, que melhoram muito, incluindo aí a cena pós crédito, engraçadíssima.