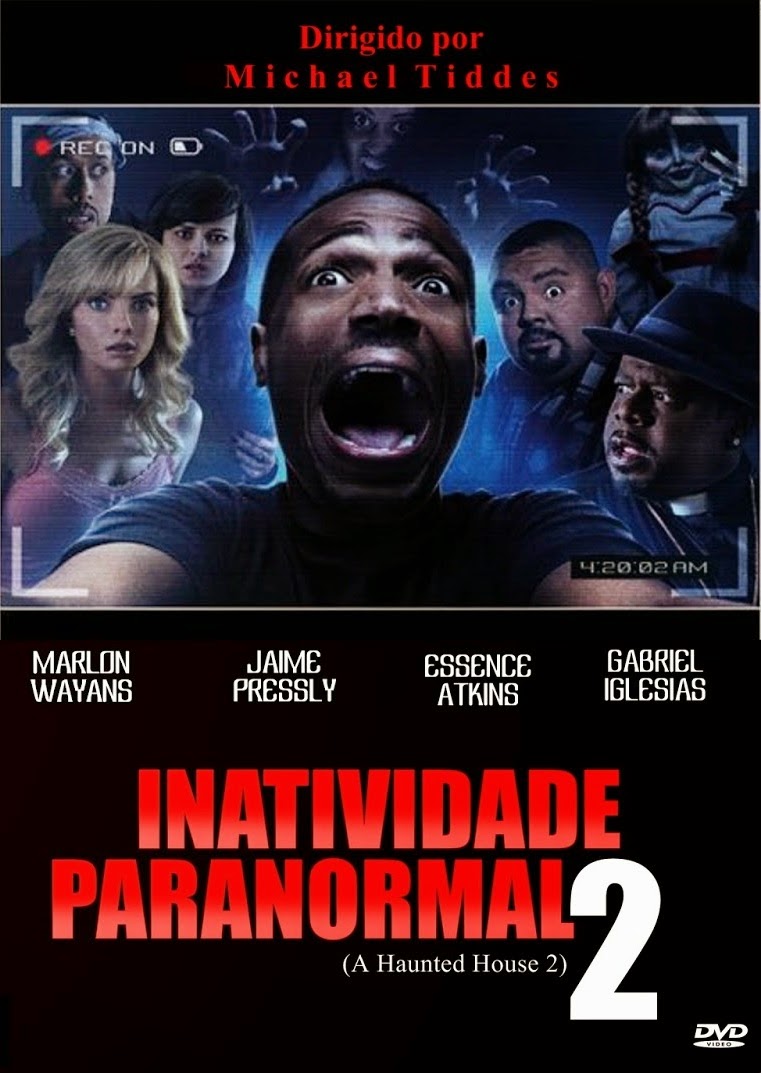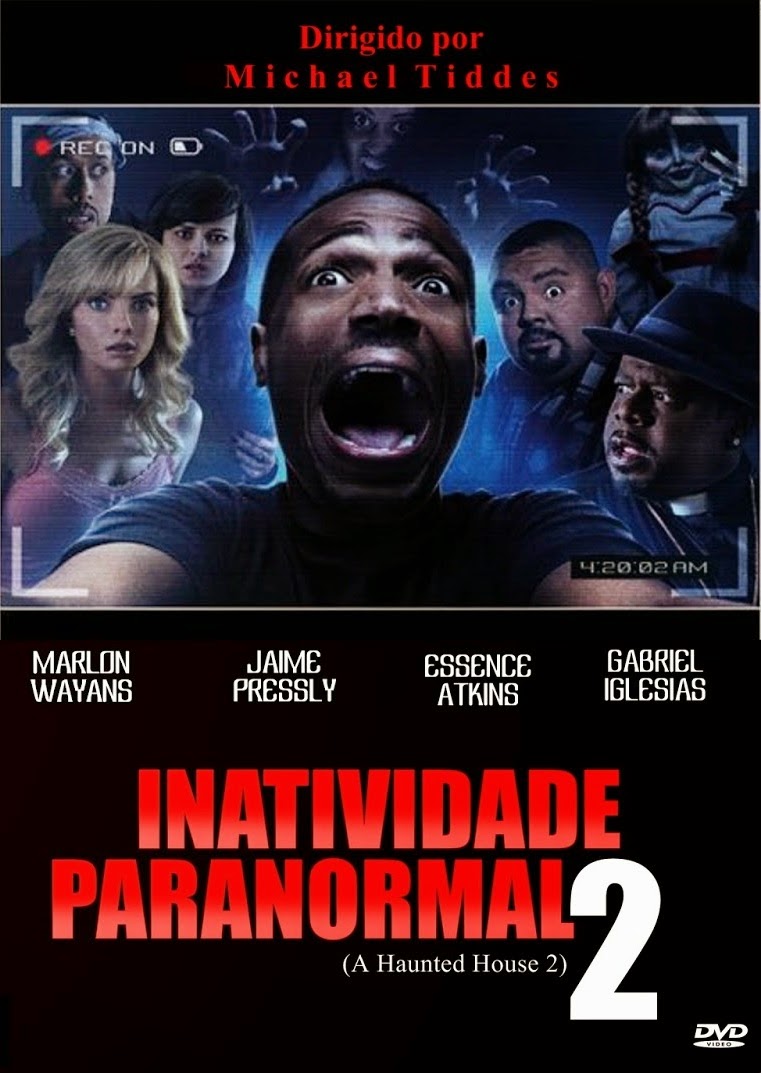Crítica | Cabras da Peste

Cabras da Peste é uma comédia policial brasileira que brinca com os estereótipos das antigas produções de ação que passavam nas sessões na tv aberta, as mesmas que colocavam policiais de estilos completamente diferente juntos, valendo-se de choques culturais ou raciais para gerar atrito em meio a uma missão de difícil solução. O filme conta a historia de dois policiais franzinos, um nordestino e outro do sudeste que por forças do destino são obrigados a trabalhar juntos.
Há dois cenários iniciais que o diretor Vitor Brandt (Copa de Elite e Historietas Assombradas: O Filme) apresenta: o primeiro é a cidade do interior nordestino Guaramobim, que tem em Edmilson Filho um policial voluntarioso e trapalhão chamado Bruceuillis Nonato, e outro local é na cidade, mostrando Trindade, um pacato burocrata, interpretado por Matheus Nachtergaele, obrigado a agir em campo contra sua vontade. Ambos são fracassados em suas missões e acabam unidos pelo desalento de não terem êxito como policiais sérios.
O humor do filme se assemelha ao visto nos filmes de Halder Gomes, como Cine Holliúdy e Shaolin do Sertão. Gomes dirigiria o filme a princípio, mas ao longo do projeto se decidiu que ele assinaria a produção executiva. Ainda assim não é difícil perceber as marcas de seu cinema, seja no fato de não ter receio em usar sotaques e dialetos próprios de sua localidade, ou no escracho do humor físico, que por mais que seja primário não trata o espectador como bobo.
O fator mais engraçado do filme é o excesso de informações desencontradas. As falas dos personagens são quase sempre incompletas, de modo que a percepção é sempre deturpada. O roteiro faz questão de deixar as situações ambíguas para provocar um humor de erros que, apesar de bem simples, é bem feito e combina bem com a abordagem proposta. Os diálogos lembram o nível de explicação das telenovelas populares, e esse fator resulta em uma boa mistura com os clichês de filmes e seriados policiais dos Estados Unidos.
Cabras da Peste é charmoso, engraçado, tem um elenco que funciona de maneira entrosada, com uma química exemplar entre Nachtergaele e Filho. Brandt um filme que conversa bem com a comédia tipicamente brasileira, com temperos e referências aos filmes humorístico de Ivan Reitman e John Landis. Seus personagens são erráticos, engraçados e muito humanos. O longa é engraçado, direto, brinca bem com os defeitos e incongruências dos filmes de ação antigos, e o faz com um charme e tempero próprio do cinema de Halder Gomes.




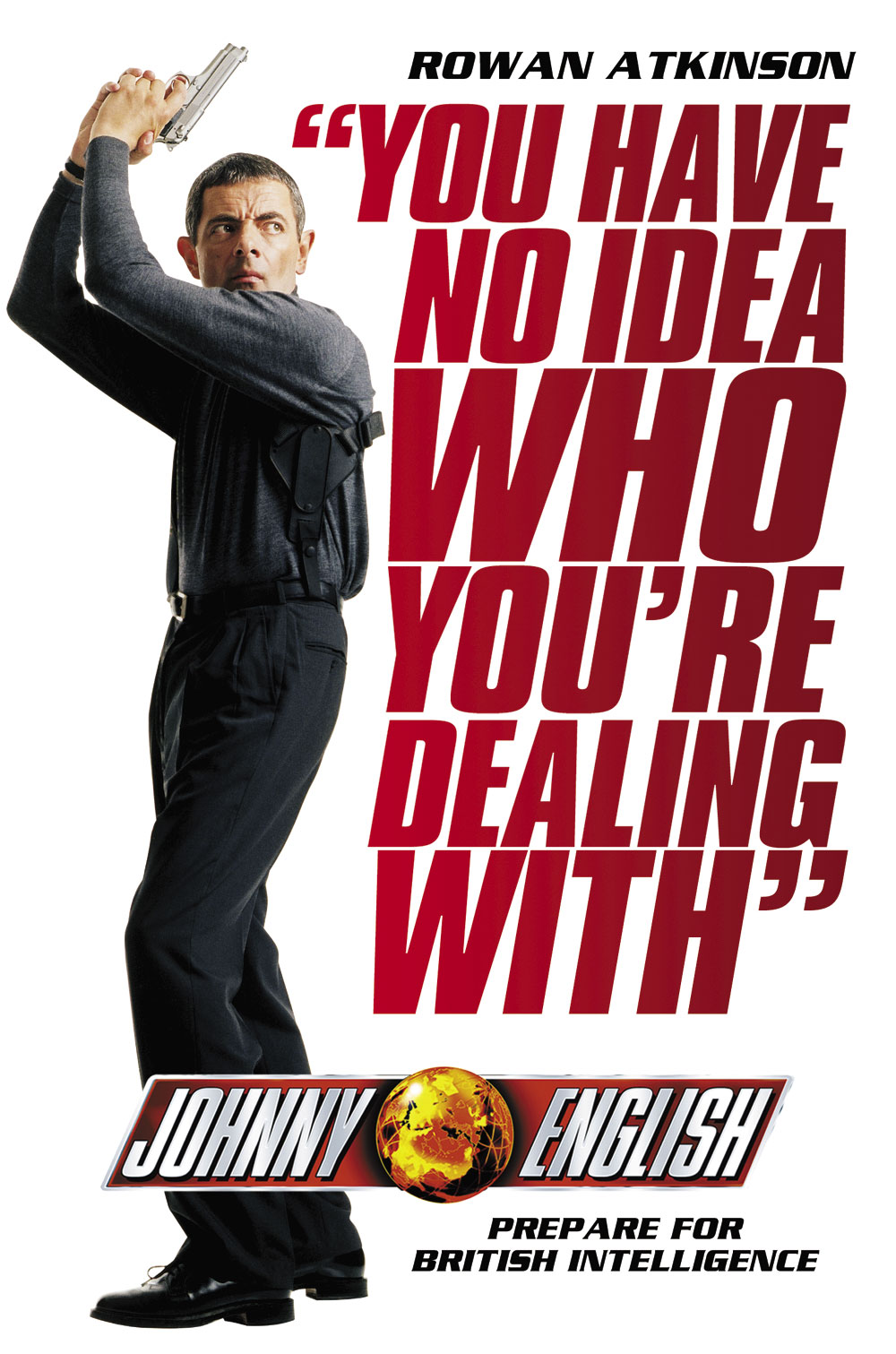







 É possível quase tocar na rede de suspense que vai se fechando ao longo do filme, traçada tal degradé de pintura num jeito cirúrgico só pra ser desconstruída, e revirada num ponto, e reconstruída constantemente na excelência da projeção. David Fincher realizou um dos mais icônicos filmes americanos dos anos 90, e aqui não fica pra trás.
É possível quase tocar na rede de suspense que vai se fechando ao longo do filme, traçada tal degradé de pintura num jeito cirúrgico só pra ser desconstruída, e revirada num ponto, e reconstruída constantemente na excelência da projeção. David Fincher realizou um dos mais icônicos filmes americanos dos anos 90, e aqui não fica pra trás. Todo mundo queria pelo menos uma vez na vida escapar da realidade. Guillermo Del Toro, no auge de sua criatividade, nos dá essa chance com esse filme, driblando a linha tênue de quando acaba e começa tais dimensões, apelando para uma pretensão irresistível, típica e solidária à sua filmografia e indiscutivelmente própria – e linda.
Todo mundo queria pelo menos uma vez na vida escapar da realidade. Guillermo Del Toro, no auge de sua criatividade, nos dá essa chance com esse filme, driblando a linha tênue de quando acaba e começa tais dimensões, apelando para uma pretensão irresistível, típica e solidária à sua filmografia e indiscutivelmente própria – e linda. Melhor e melhor a cada revisão, sem dúvida é um dos melhores já dirigidos pelo Clint cineasta. As cores do mundo projetadas pelo artista estimulam ainda mais a essência de uma história quiçá necessária no que tange os dois lados de uma guerra. Uma procura artística tão ambiciosa e impecável quanto lúcida em sentido.
Melhor e melhor a cada revisão, sem dúvida é um dos melhores já dirigidos pelo Clint cineasta. As cores do mundo projetadas pelo artista estimulam ainda mais a essência de uma história quiçá necessária no que tange os dois lados de uma guerra. Uma procura artística tão ambiciosa e impecável quanto lúcida em sentido. O filme definitivo sobre as mulheres, as divas, os arquétipos de Pedro Almodóvar projetados em suas Atenas de cenário quente e alma feminina. Nunca o cineasta encontrou um hibridismo tão forte e saudável entre história e filme, intenção e encenação, com limites inexistentes no caos das relações humanas. A linguagem de Almodóvar no ápice.
O filme definitivo sobre as mulheres, as divas, os arquétipos de Pedro Almodóvar projetados em suas Atenas de cenário quente e alma feminina. Nunca o cineasta encontrou um hibridismo tão forte e saudável entre história e filme, intenção e encenação, com limites inexistentes no caos das relações humanas. A linguagem de Almodóvar no ápice. Uma dupla história de amor invariavelmente trágica e impossível, caçada em êxito na tela por imagens digitais belíssimas que capturam e expandem nossa fascinação pelo todo; uma desculpa para o cineasta de Fogo contra Fogo retratar os absurdos, incoerências e as alienações impregnadas numa realidade, enfim, real. Dos melhores do seu ano.
Uma dupla história de amor invariavelmente trágica e impossível, caçada em êxito na tela por imagens digitais belíssimas que capturam e expandem nossa fascinação pelo todo; uma desculpa para o cineasta de Fogo contra Fogo retratar os absurdos, incoerências e as alienações impregnadas numa realidade, enfim, real. Dos melhores do seu ano. Muitos podem dizer que é, e acusam o filme, de fato, sobre ser apelativo, mas sem a sua elevada carga emocional seria superficial, e com certeza, não seria a obra-prima sobre os fundamentos e as reflexões de uma sociedade que é. Ambicioso e singelo na medida certa, tanto se apropria do mundo para convertê-lo em drama, trama e fantasia, quanto para provocar e estender nosso fascínio pela enorme e singela abertura crítica que o filme carrega; mais um filmaço para a conta de Alan Resnais, mestre francês morto em 2014 e vivo em seu legado de proporção gigantesca.
Muitos podem dizer que é, e acusam o filme, de fato, sobre ser apelativo, mas sem a sua elevada carga emocional seria superficial, e com certeza, não seria a obra-prima sobre os fundamentos e as reflexões de uma sociedade que é. Ambicioso e singelo na medida certa, tanto se apropria do mundo para convertê-lo em drama, trama e fantasia, quanto para provocar e estender nosso fascínio pela enorme e singela abertura crítica que o filme carrega; mais um filmaço para a conta de Alan Resnais, mestre francês morto em 2014 e vivo em seu legado de proporção gigantesca. Notem que os clássicos sempre reinventam a roda e sempre de maneira diferente; aqui, um “filme de monstro” datado pelo uso do objeto de terror, jamais pelo abuso do mesmo. Estilizado, quase cult, numa história que se apropria do drama de uma família para retratar a força da instituição, da união, e da natureza enfim do próprio cinema, fadado ao combate eterno entre o realismo e o surrealismo artísticos inerentes à forma. Eis o filme mais cinematográfico de 2006.
Notem que os clássicos sempre reinventam a roda e sempre de maneira diferente; aqui, um “filme de monstro” datado pelo uso do objeto de terror, jamais pelo abuso do mesmo. Estilizado, quase cult, numa história que se apropria do drama de uma família para retratar a força da instituição, da união, e da natureza enfim do próprio cinema, fadado ao combate eterno entre o realismo e o surrealismo artísticos inerentes à forma. Eis o filme mais cinematográfico de 2006. O desejo de representar a solidez de um universo brasileiro esquecido por Deus e lembrado pelo Cinema encapsula a angústia e a agressividade árida do cosmos das Suelys, dos Josés e seus cães Baleias. À quem e sobre quem é resultado de um terceiro mundo implacável, numa perícia audiovisual cuja improvisação no método da representação torna o filme poderoso. Um Brasil sem condição para escolher lado político e visto pela ótica do real que não merece ser fábula.
O desejo de representar a solidez de um universo brasileiro esquecido por Deus e lembrado pelo Cinema encapsula a angústia e a agressividade árida do cosmos das Suelys, dos Josés e seus cães Baleias. À quem e sobre quem é resultado de um terceiro mundo implacável, numa perícia audiovisual cuja improvisação no método da representação torna o filme poderoso. Um Brasil sem condição para escolher lado político e visto pela ótica do real que não merece ser fábula. Num projeto desses, o esforço de um cineasta ganancioso (no bom sentido) tal Alfonso Cuarón – ímpeto incerto até o ponto-chave que sucumbimos no universo distópico onde ninguém mais engravida – é o de conseguir extrair o caos de uma situação como essa, e convertê-lo numa nova e possível esperança. É o triunfo concretizado de um artista no domínio da essência científica de uma ficção justificada por cada imagem construída.
Num projeto desses, o esforço de um cineasta ganancioso (no bom sentido) tal Alfonso Cuarón – ímpeto incerto até o ponto-chave que sucumbimos no universo distópico onde ninguém mais engravida – é o de conseguir extrair o caos de uma situação como essa, e convertê-lo numa nova e possível esperança. É o triunfo concretizado de um artista no domínio da essência científica de uma ficção justificada por cada imagem construída. A comédia da década, adiantando vícios culturais do novo milênio que, em 2006, ainda não estavam tão em voga assim. Borat é o puro suco do mamilo verde em termos do humor globalizado de hoje em dia: Explícito, polêmico, hiper-crítico consigo mesmo e sem pudores no estilo doa a quem doer, numa escala ainda mais impressionante devido ao talento descomunal dos humoristas envolvidos. High Five!
A comédia da década, adiantando vícios culturais do novo milênio que, em 2006, ainda não estavam tão em voga assim. Borat é o puro suco do mamilo verde em termos do humor globalizado de hoje em dia: Explícito, polêmico, hiper-crítico consigo mesmo e sem pudores no estilo doa a quem doer, numa escala ainda mais impressionante devido ao talento descomunal dos humoristas envolvidos. High Five!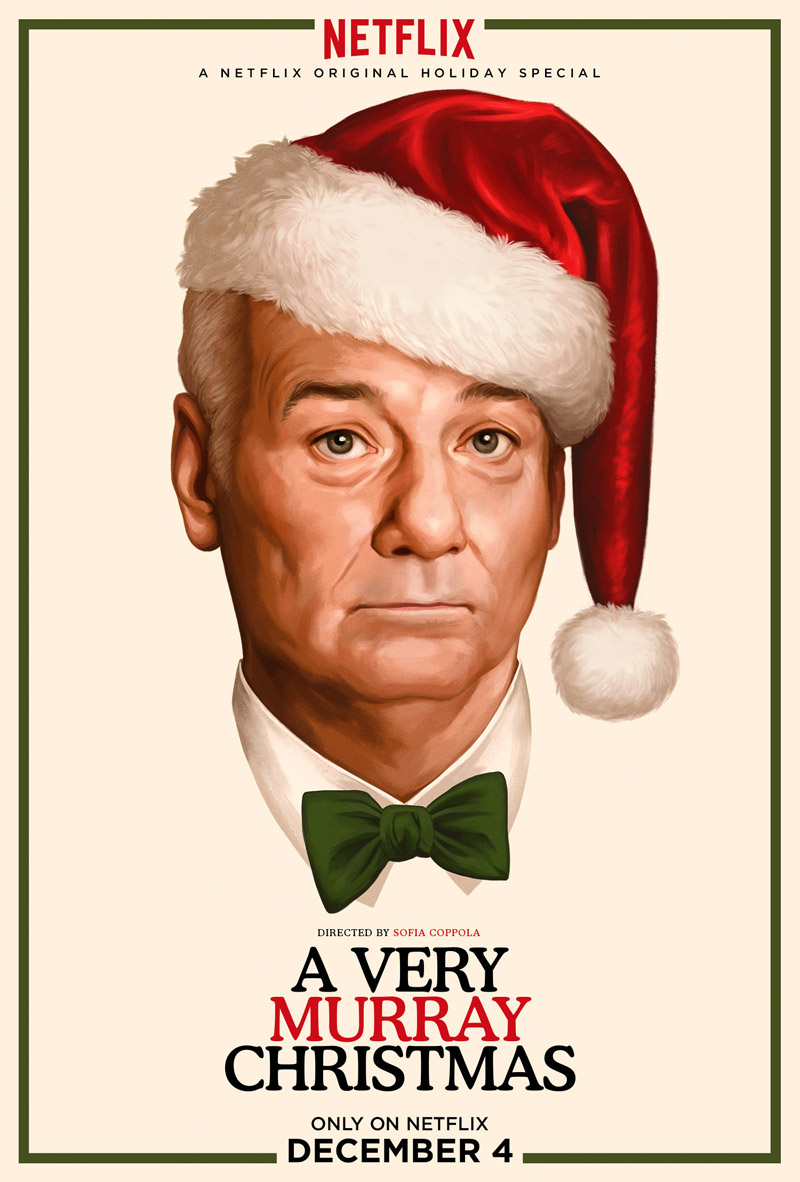






 Os road-movie nos conquistam pelo seu desprendimento e sua falta de responsabilidade com narrativas lineares que desconstroem a coerência de fórmulas extintas ou incongruentes para a atualidade, de um Cinema leve e solto como Paris/Texas ou Além da Estrada tão bem representam, e o fazem a olhos nus. A estrada nos oferece salvação, danação, nos oferece um esquecer, mesmo que breve, dos problemas que tentamos deixar para trás, nos oferece perigo e nos blinda da rotina da qual escapamos a cada quilômetro rodado. Foi com Corrida Sem Fim, do genial Monte Hellman, em 1971, que uma geração inteira ganhou representação através da rebeldia e do desejo de libertação dos dogmas do passado, tudo filmado à base de asfalto e cheiro de gasolina (O passado não mais existe, e o futuro está sempre além da próxima curva). É claro que depois vieram Godard, Miller, Rocha, Lynch e Spielberg, todos se aventurando pela estrada, até chegarmos a 2013, até o momento presente, o futuro que ninguém se interessou.
Os road-movie nos conquistam pelo seu desprendimento e sua falta de responsabilidade com narrativas lineares que desconstroem a coerência de fórmulas extintas ou incongruentes para a atualidade, de um Cinema leve e solto como Paris/Texas ou Além da Estrada tão bem representam, e o fazem a olhos nus. A estrada nos oferece salvação, danação, nos oferece um esquecer, mesmo que breve, dos problemas que tentamos deixar para trás, nos oferece perigo e nos blinda da rotina da qual escapamos a cada quilômetro rodado. Foi com Corrida Sem Fim, do genial Monte Hellman, em 1971, que uma geração inteira ganhou representação através da rebeldia e do desejo de libertação dos dogmas do passado, tudo filmado à base de asfalto e cheiro de gasolina (O passado não mais existe, e o futuro está sempre além da próxima curva). É claro que depois vieram Godard, Miller, Rocha, Lynch e Spielberg, todos se aventurando pela estrada, até chegarmos a 2013, até o momento presente, o futuro que ninguém se interessou.