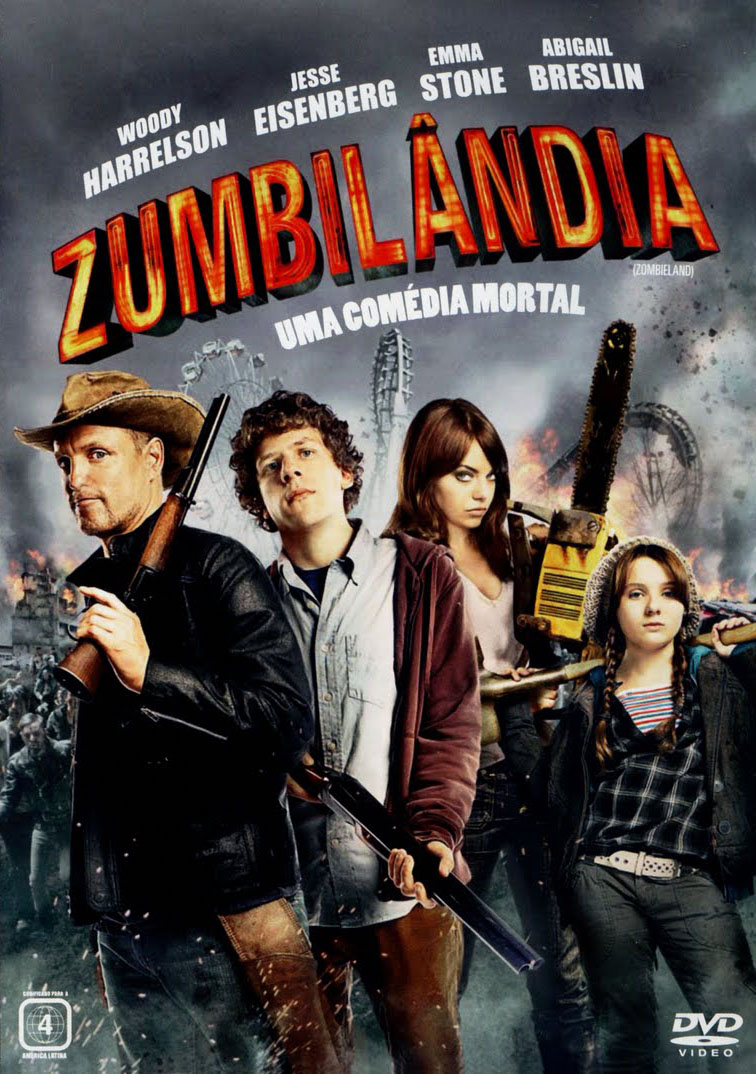Crítica | Cruella

Navegando na onda de live actions da Disney que adapta seus clássicos para novas versões, Cruella de Craig Gillespie mira remontar a história da Cruella De Vil, vilã do clássico 101 Dálmatas, como uma espécie de anti-heroína mal compreendida, tal qual ocorreu com Malévola anos antes. O filme protagonizado por Emma Stone é estiloso, tem uma edição semelhante aos populares videoclipes da MTV típicos dos anos 90, e se vale de uma trilha cheia de sucessos do rock e do pop para exibir a história de Estella, uma garota que ainda na infância, em 1964, perde sua mãe em um momento de confusão com a Baronesa (Emma Thompson).
Narrado em primeira pessoa pela protagonista, o filme da um salto de dez anos e apresenta a personagem se dedicando ao sonho de ser estilista tal como a Baronesa, alguém que a antagoniza. Além disso, Estela passa o restante do tempo em trambiques com dois ladrões que conhece ainda criança, após se tornar órfã.
O roteiro é simples. Apresenta-a negando a própria identidade, pintando seu cabelo bicolor de preto e branco, como era no desenho original de 1961, como um disfarce, fingindo-se de normal. Mostra o trauma sofrido ao lado da mãe e, lógico, trata de uma história de vingança de personagens bem parecidos. Porém, em nenhum momento ela é pintada como uma mulher má, maquiavélica ou algo que o valha, por mais que hajam algumas sugestões disso durante a história.
Os aspectos negativos englobam a narração extremamente expositiva e irritante que Stone protagoniza. Além do excesso de efeitos digitais ao mostrar os animais. O intuito de não colocar pets em risco faz com que o filme soe artificial. Os cães se encaixam mal em cena, não tem consistência, parecem bonecos. Sob esse aspecto, o filme não fica bom nem quando é comparado ao recente A Dama e o Vagabundo, feito direto para o streaming no Disney +, com um orçamento mais enxuto.
Além da questão visual, há outros elementos que comprometem a suspensão de descrença dentro da trama. No intuito de vingar sua mãe que morreu sendo acusada de roubar, Estella resolve roubar para sobreviver, trazendo a estranha mensagem de que a natureza de sua família é a contravenção. Outro grave pecado é fazer o publico simpatizar pela personagem e depois nos levar a acreditar que ela maltratou e assassinou os cães, para somente depois mostrar que isso era um despiste. Tudo é bastante inverossímil e barato e piora em perspectiva quando se percebe o amontoado de clichês que rodeiam os personagens periféricos.
Apesar da beleza dos figurinos, cenários e fotografia do filme (afinal, se o foco narrativo é na moda, é preciso sim cuidar de aspectos de imagem do longa), e do desempenho carismático de Stone, o texto não acompanha isso. Nada faz crer que a personagem da Baronesa, com os olhos meticulosos de uma estilista, não perceberia o ardil de Estella-Cruella. O passado da personagem central apela para a melancolia, e ainda se acovarda em unir o seu drama com a velha condição de filiação maldita, que piora ao ser comparada com a fracassada tentativa de Cruella em soar dicotômica.
Thompson ao menos entrega uma boa vilã, mas o resto do elenco é sub aproveitado, incluindo ai Mark Strong que parece mais um substituto a Stanley Tucci no começo da carreira, como o bom mordomo inglês, outro jargão do cinema moderno. Cruella erra muito na pretensão. Seu texto é simples mas apegado demais a formulas. Tenta embalar sua história com músicas e narrações como as obras de Martin Scorsese e como foi com o recente Coringa, mas não tem peso ou consistência para sustentar essas comparações. Ao contrário, parece um pastiche de uma personagem icônica.