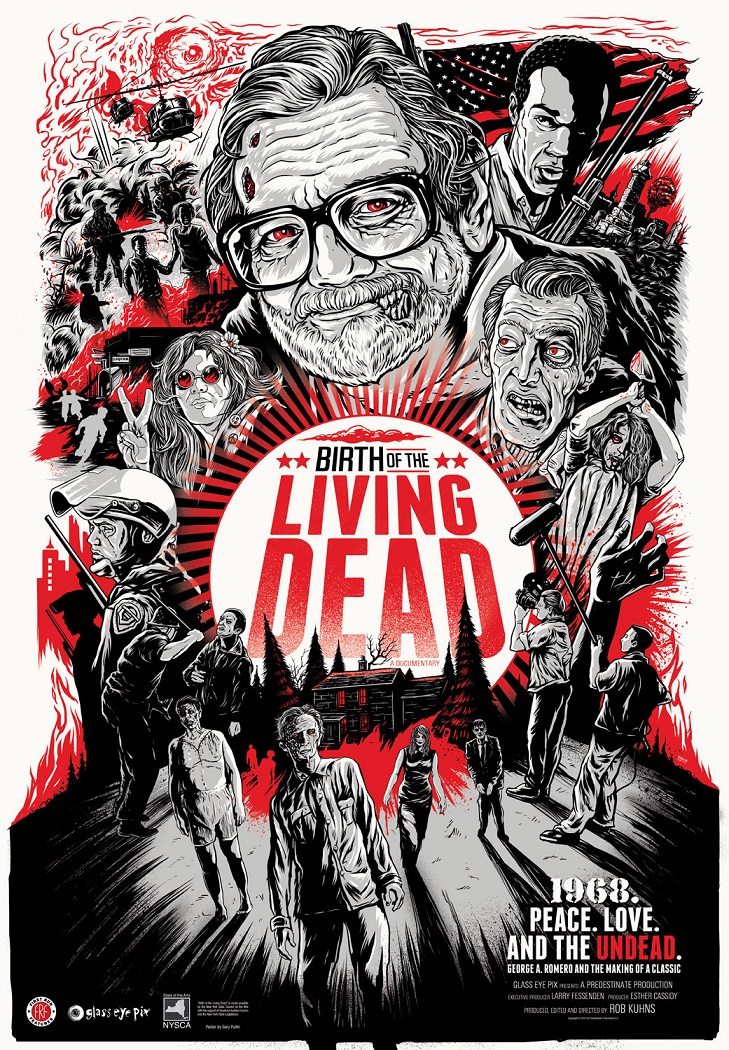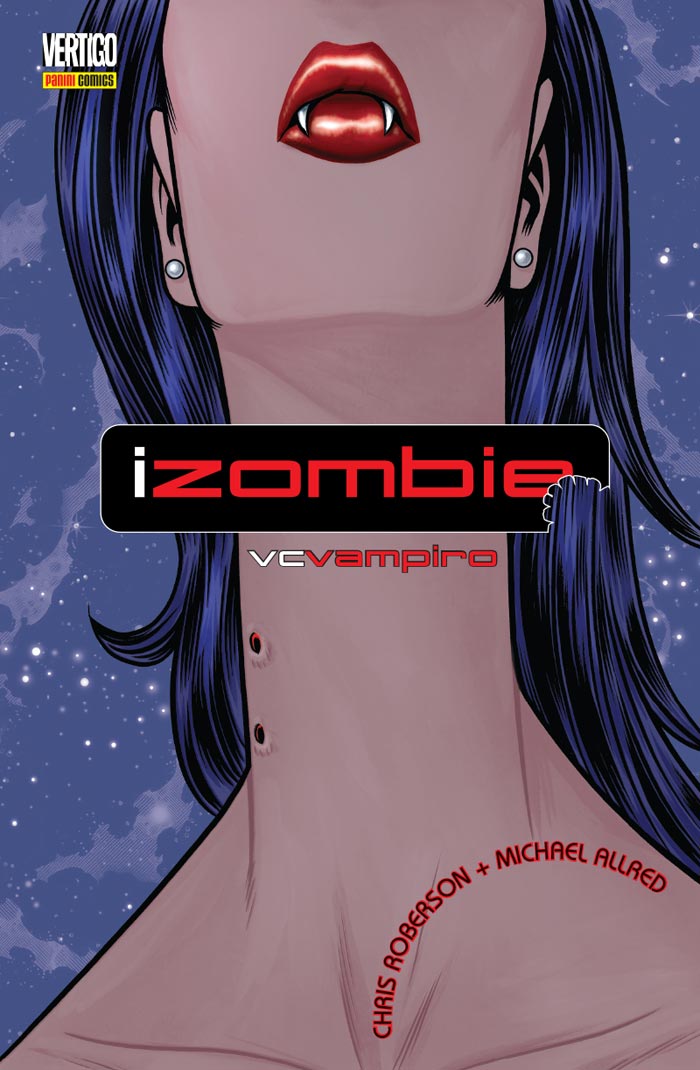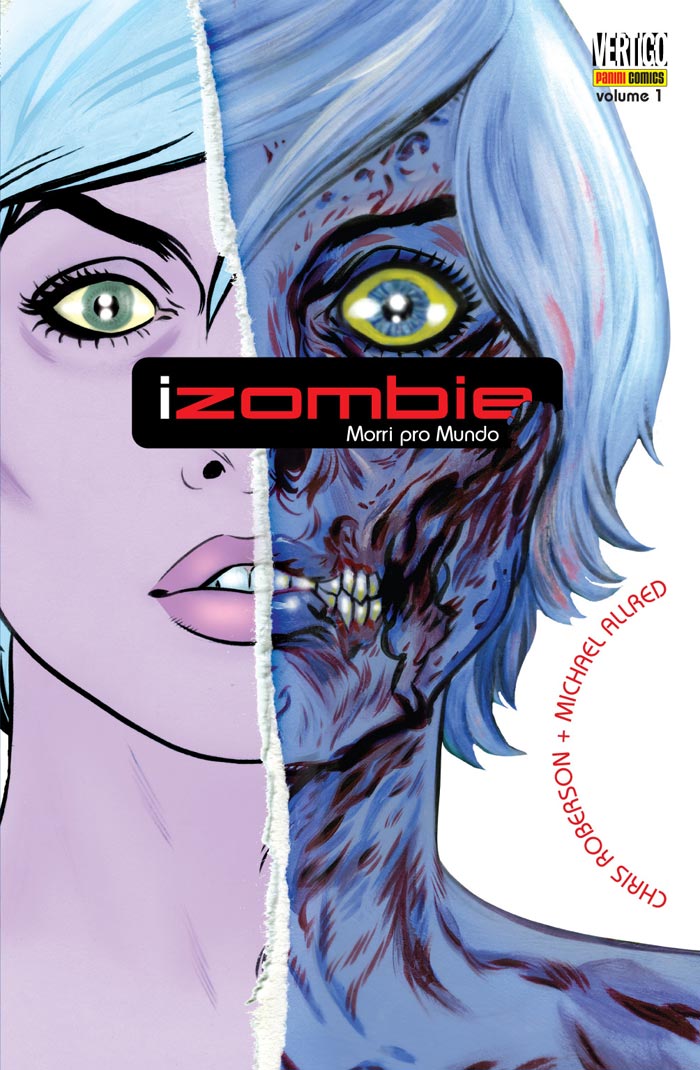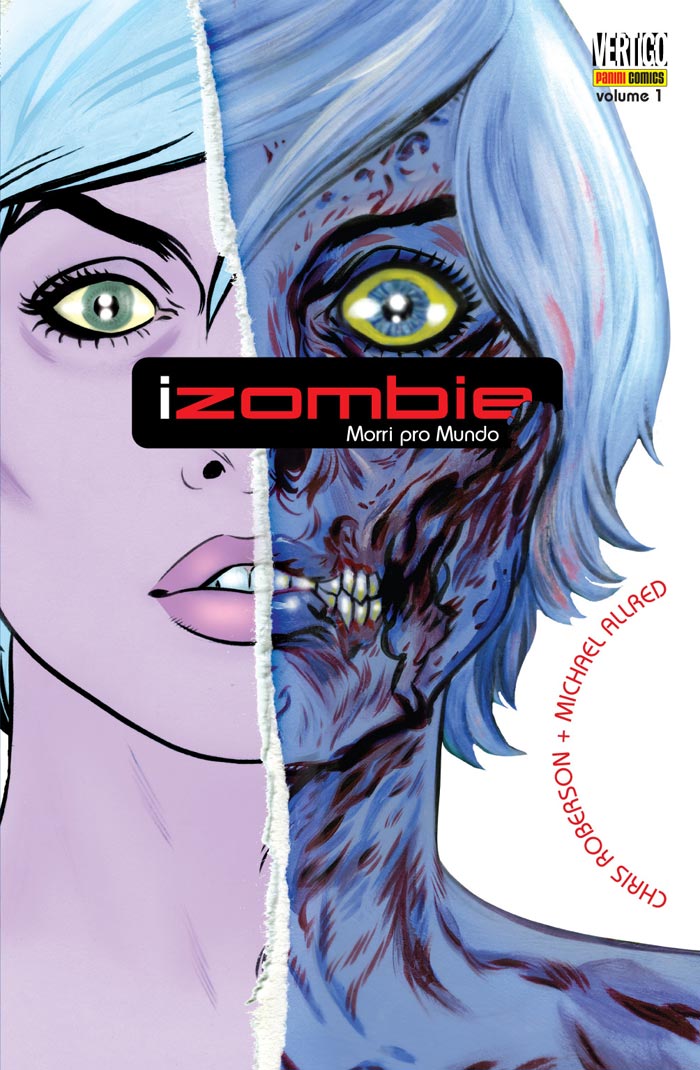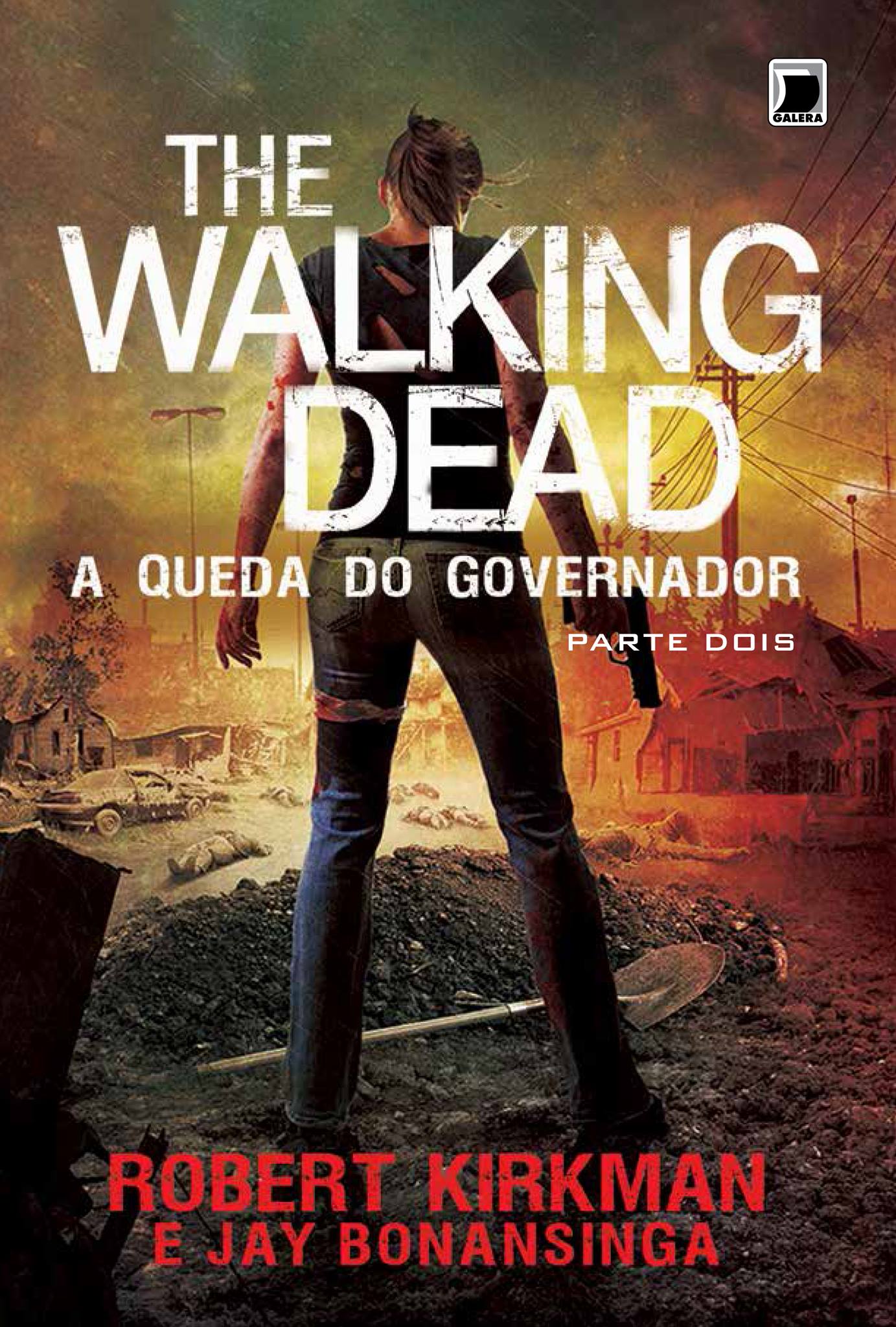VortCast 89 | Diários de Quarentena XVII

Bem-vindos a bordo. Rafael Moreira (@_rmc), Filipe Pereira (@filipepereiral), Jackson Good (@jacksgood), Bruno Gaspar e Flávio Vieira (@flaviopvieira) retornam para mais um papo sobre editores, política e muito mais.
Duração: 100 min.
Edição: Rafael Moreira e Flávio Vieira
Trilha Sonora: Rafael Moreira e Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram
Materiais Relacionados
Especial | Batman
Crítica | O Homem Invisível (2020)
Resenha | O Preço da Desonra
Resenha | Satsuma Gishiden: Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma – Volume 1
Links dos Podcasts e Parceiros
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Cine Alerta
–
Avalie-nos na iTunes Store | Ouça-nos no Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:40:28 — 91.6MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS











 Comédias do absurdo são tão antigas quanto andar pra frente, ou para as gerações mais novas, tão ancestrais quanto a fama de Daniel Radcliffe como
Comédias do absurdo são tão antigas quanto andar pra frente, ou para as gerações mais novas, tão ancestrais quanto a fama de Daniel Radcliffe como 









 Se o Orgulho e Preconceito de 2005 (filme de ‘inhos’: lindinho, certinho, e muito mais bobinho que o astuto livro de Jane Austen, mas acerta por não tentar ser o novo Barry Lyndon) aposta no poder do casamento entre palavra e visual clássicos e simbólicos, a soma de Austen, a escritora do belo romance de 1813, com
Se o Orgulho e Preconceito de 2005 (filme de ‘inhos’: lindinho, certinho, e muito mais bobinho que o astuto livro de Jane Austen, mas acerta por não tentar ser o novo Barry Lyndon) aposta no poder do casamento entre palavra e visual clássicos e simbólicos, a soma de Austen, a escritora do belo romance de 1813, com