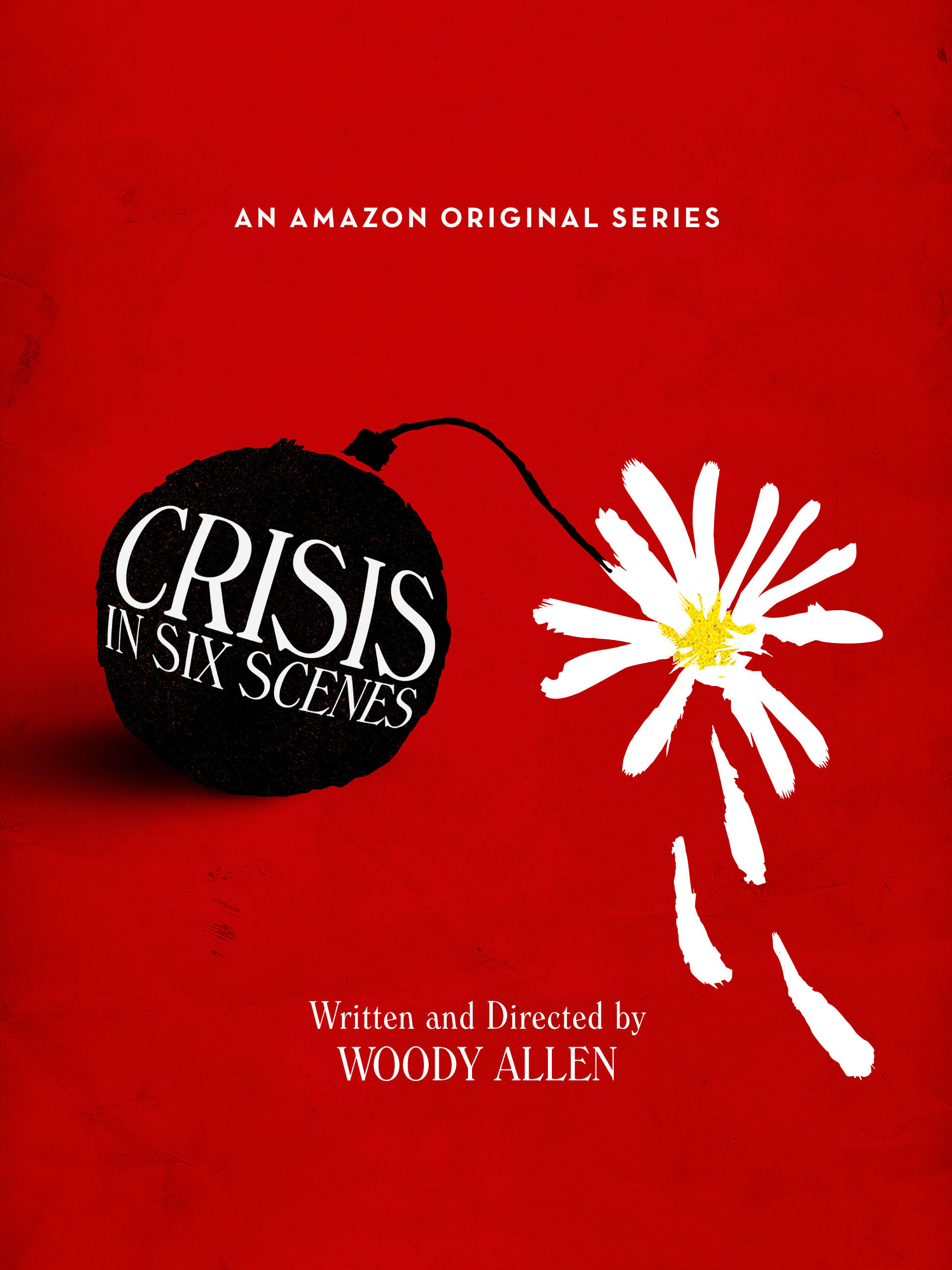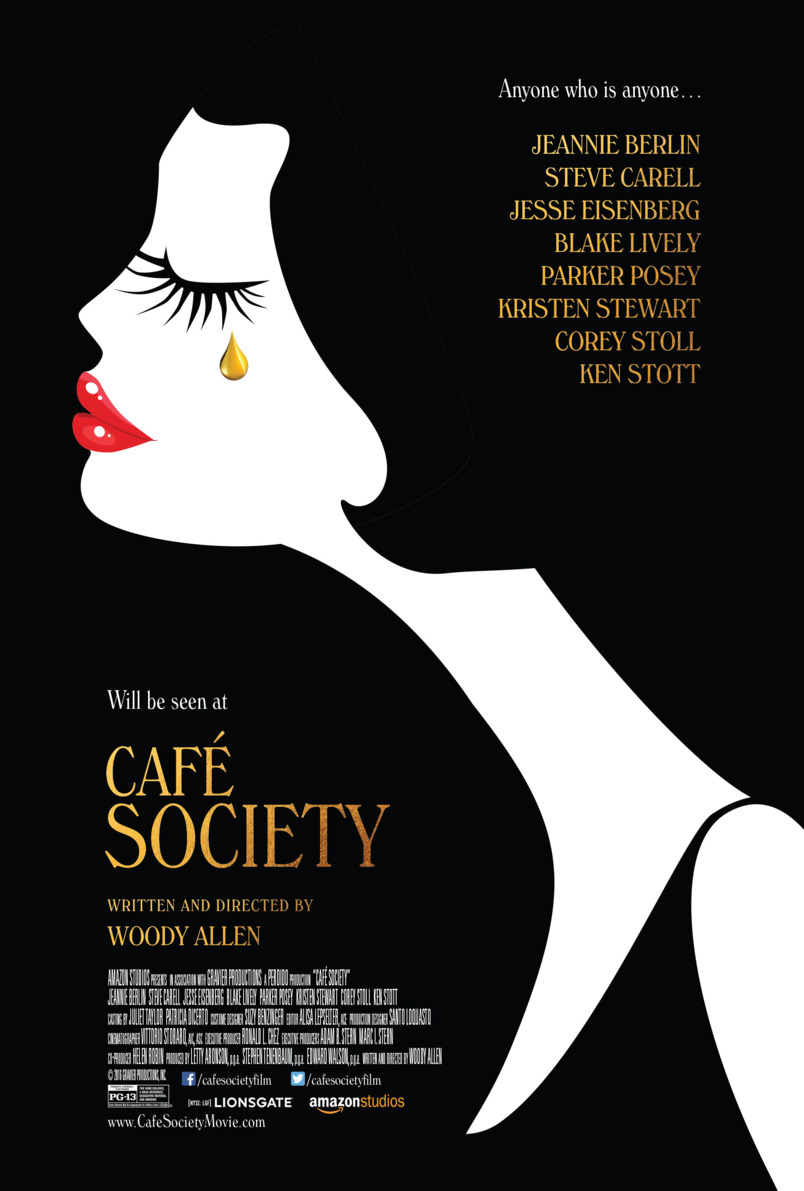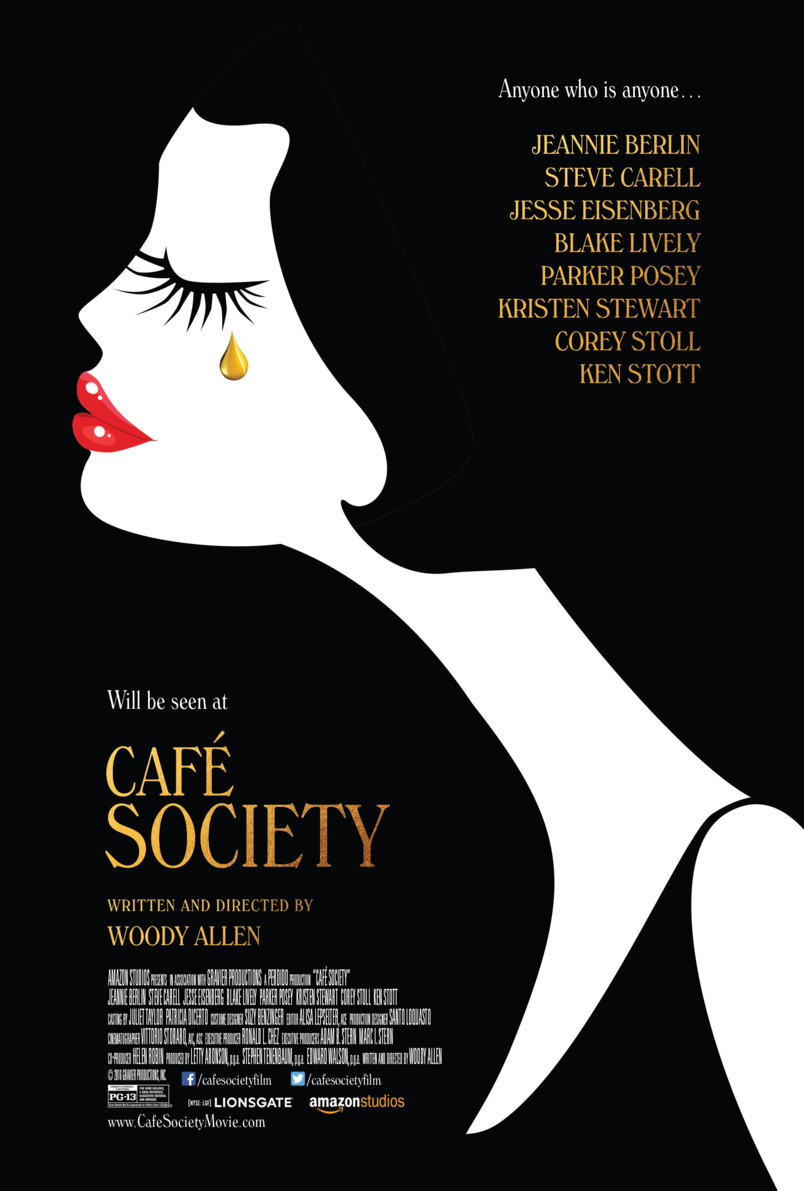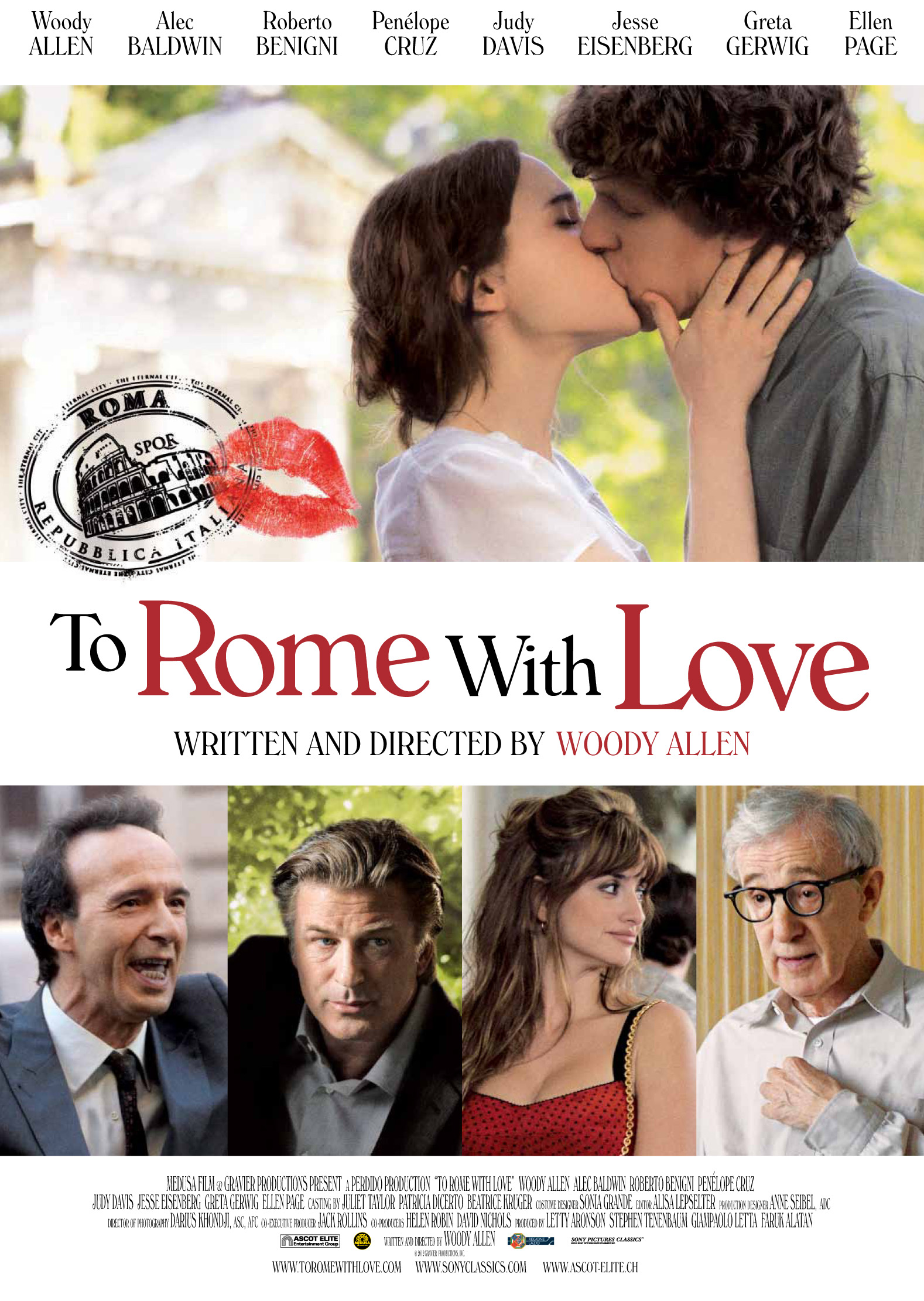Crítica | Um Dia de Chuva em Nova York

Um Dia de Chuva em Nova York começa com os tradicionais letreiros dos filmes de Woody Allen, e logo após os créditos, mostra aulas em um campus de faculdade, onde Gatsby de Timothée Chalamet estuda e narra sua própria historia, em primeira pessoa. Ao longo dos pouco mais de noventa minutos, o que se vê é uma mini odisseia, onde ele e sua namorada Ashleigh (Elle Fanning) tem programado um final de semana romântico em Nova York, e quase nada sai como ele planejou.
Como é de se esperar, Allen coloca alguns personagens como versões de si mesmo, e isso se vê não só no jovem apaixonado por Nova York que Chalamet vive, mas também em outros avatares, e esses outros aparecem depois, quando sua amada Ash resolve aceitar um trabalho em Manhattan, enquanto os dois deveriam ter seus momentos de intimidade.
A narração de Gatsby é um bocado invasiva, mas também dá o tom de como ele vive e funciona, mostra também suas fragilidades emocionais, carências e defeitos de auto estima. A historia é repleta de flertes que por sua vez são muito verborrágicos. As discussões sobre sexo, traições e frescuras casa bem com todas as polêmicas envolvendo a imposição do sexo como forma de subir no showbussines.
Rollard, o diretor vivido por Liev Schreiber não demora a aparecer, e seus defeitos e inseguranças com o filme que está sendo rodado o tornam um ser atraente a jovem Ashley. É incrível como esse roteiro conversa bem com parte da biografia de Allen, mas não no mal sentido, de certa forma, os personagens centrais mostram uma faceta de seu realizador, em algum ponto de seus mais de cinquenta anos de carreira. Apesar desse advento de vaidade extrema, como sua historia é simples e cheia de personagens jovens e carismáticos, beira o impossível não ter simpatia por cada um dos enlaces e romances apresentados no filme, desta obra que quase não conseguiu ver a luz do dia graças ao resgate da polêmica envolvendo a acusação de sua ex-mulher e filha adotiva.
Fanning interpreta uma personagem soberba, Ash é apaixonante, não só pela beleza física de sua interprete, mas também pela curiosidade em entender os meandros do cinema de pessoas, além disso, Um Dia de Chuva em Nova York trabalha demais a melancolia do pseudo traído, mas sem deixar de ser leve na abordagem dramática.