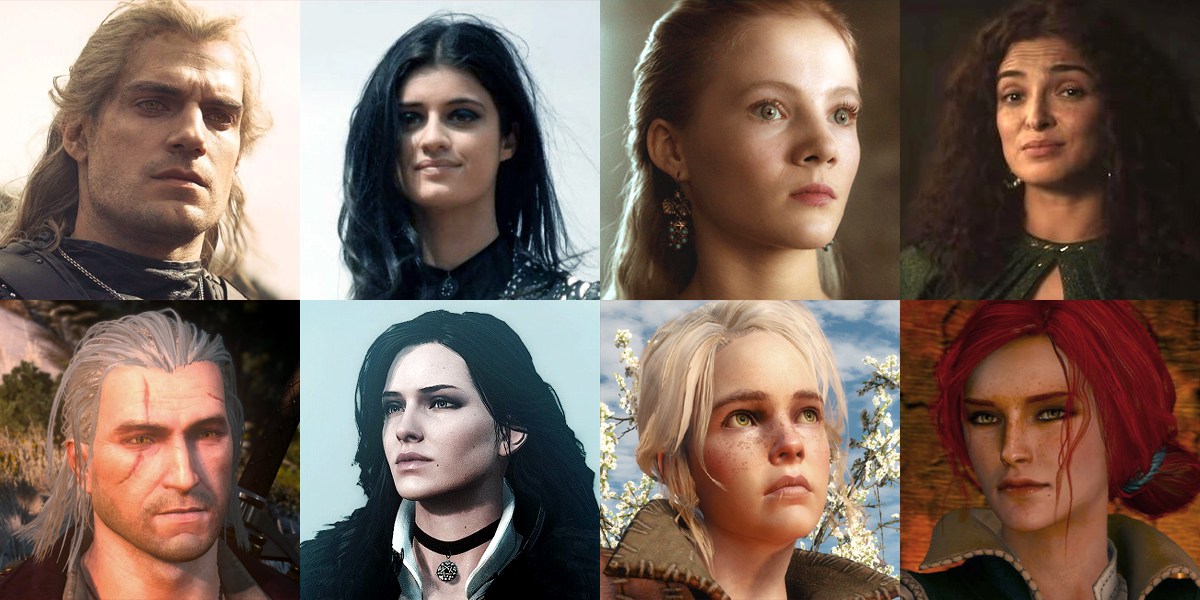Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

VortCast 110 | Zack Snyder, James Gunn e o Futuro da DC
Duração: 65 min.
Edição: Flávio Vieira
Trilha Sonora: Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook — Página e Grupo | Twitter | Instagram
Links dos Sites e Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Deviantart | Bruno Gaspar
Cine Alerta
—
Ouça e avalie-nos: iTunes Store | Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:05:46 — 82.3MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS