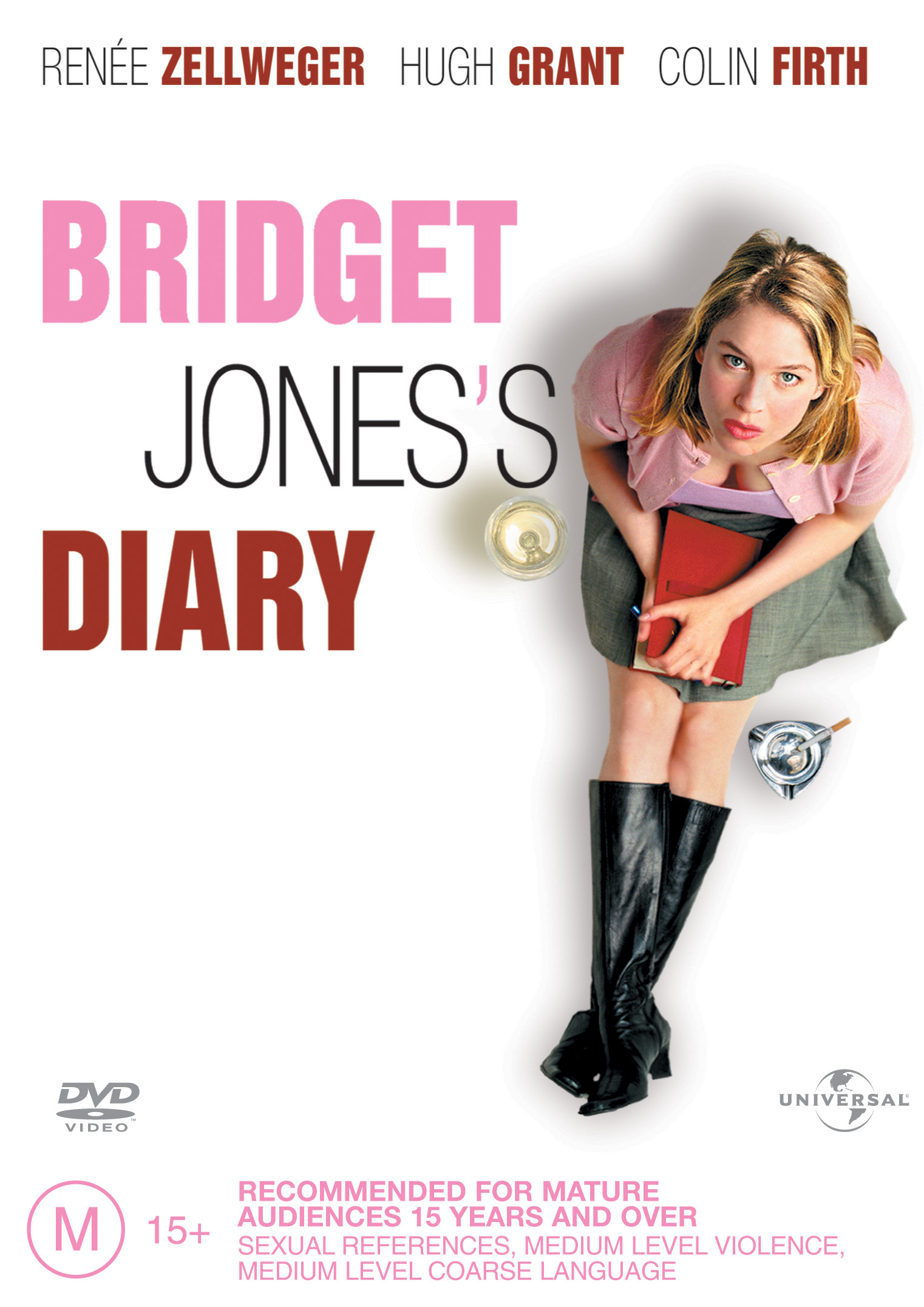Crítica | Paddington 2

Muita gente cresceu assistindo Sessão da Tarde, contudo, o espaço vespertino da Rede Globo para exibir filmes com o tempo foi perdendo o peso, mas ainda hoje é lembrado pelos seus clássicos. Inclusive, “sessão da tarde” virou quase uma categoria de filme, no Brasil, sempre associada a longas de classificação livre, de tons leves e infantis, e em grande parte com narrativas fantásticas e envolvendo animais. O programa perdeu espaço e a produção de filmes desse tipo foi diminuindo, a indústria mudou e o público infantil também, mas Paddington 2 chega mais uma vez dando frescor ao estilo e nos faz lembrar como é incrível não levar tudo a sério no cinema.
Agora Paddington (Ben Whishaw) está devidamente instalado e feliz na família Brown, virou literalmente o amigão da vizinhança, sendo conhecido e adorado por todos os moradores da rua. Mas o aniversário de sua tia Lucy (Imelda Staunton) está chegando e ele decide encontrar um trabalho para comprar o presente perfeito para ela, até ele ser roubado pelo mágico frustrado da cidade, Phoenix Buchanan (Hugh Grant). Com um plot simples, o longa engata rapidamente e nos primeiros dez minutos de duração todos os personagens e tramas já são apresentadas e o ritmo só cresce.
O texto também é mais ágil e divertido que o do primeiro filme, diálogos curtos conseguem definir todo o primeiro ato, desde a dinâmica na casa dos Brown até o relacionamento de Paddington com os vizinhos. Casada com a agilidade do roteiro, a montagem faz o belo serviço de injetar dinamismo nas sequências engenhosas de câmera durante todo esse início. Justo ressaltar a criatividade do diretor Paul King nessas sequências, sabendo muito bem posicionar sua câmera, desde pequenas escolhas como se manter na altura de Paddington quando necessário e sempre enchendo a tela com o corpo do pequeno urso, como também em cenas dinâmicas e marcadas por movimentos mais sofisticados. Sinal de sua visão certeira em relação ao personagem principal, esse que é pura computação gráfica.
Se King sabe filmar Paddington, a equipe de efeitos visuais o sabem construir, a fisicalidade do urso é inacreditável. Digo de seu design, como pelugem, olhos, e focinho, mas principalmente de como seus movimentos e corpo contribuem para a história, seja narrativamente quanto pela veia do humor — é uma comédia física que funciona durante todo o tempo e torna Paddington cada vez mais carismático. Seu corpo não é humano, mas suas feições e reações exageradas e irreais o fazem rico e por isso mais relacionável.
Paddington 2 também acerta no restante do visual, o design de produção é rebuscado, com cores saturadas em figurinos e cenários, lindamente ressaltadas pela fotografia, fazendo com que o clima bem-humorado e inocente marque presença, assim também com a trilha musical pontual e clássica. O elenco dos personagens humanos faz um bom trabalho, mas beira um caricato não muito bem-vindo em certos momentos, principalmente em um novo núcleo de personagens que surge no segundo ato, já os que repetem seus papéis nessa sequência ainda carregam bastante carisma, destaque para a sempre suave Sally Hawkins. Grant, que assume o papel de vilão depois da interessantíssima Nicole Kidman no último filme, se diverte no corpo de um mágico mau caráter e assim como Paddington, tem um ótimo humor britânico e físico.
Essa sequência confia em seu público e vai direto ao ponto, apresenta novas façanhas de sua personagem principal, ressalta suas virtudes, expande seu universo e mais uma vez traz belas mensagens em meio a diversão. Paddington 2 reacende aquela criança dentro de nós, que amava sentar em frente a TV e se relacionar com histórias como essa, realizando isso sem forçar,pois é de uma leveza tão genuína que o sorriso no rosto é certo do início ao fim, podendo até rolar uma participação especial de lágrimas, das boas.
–
Texto de autoria de Felipe Freitas.