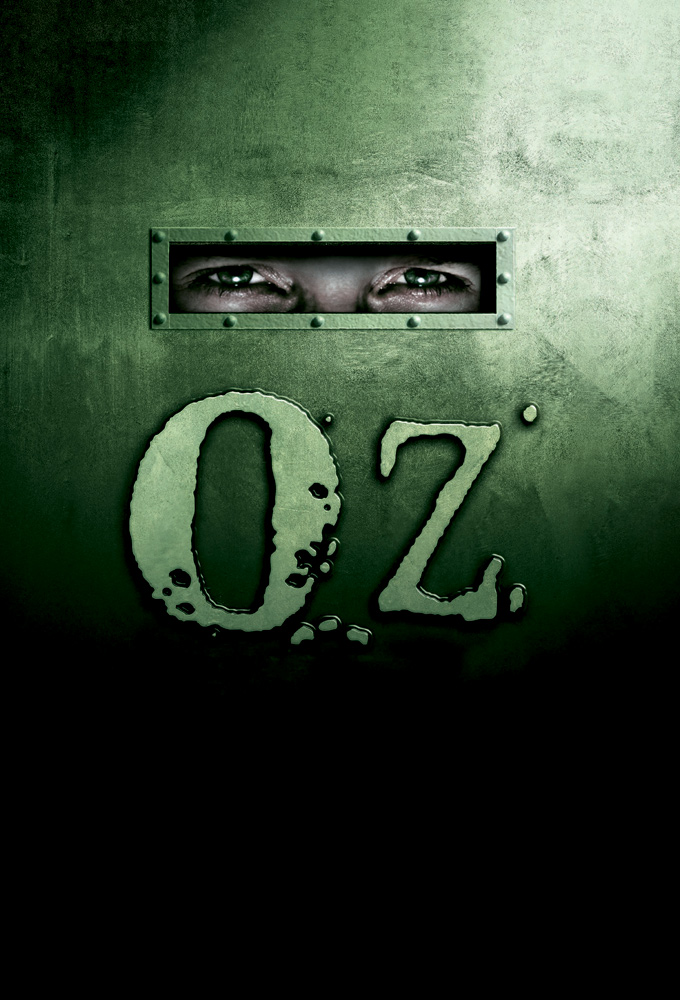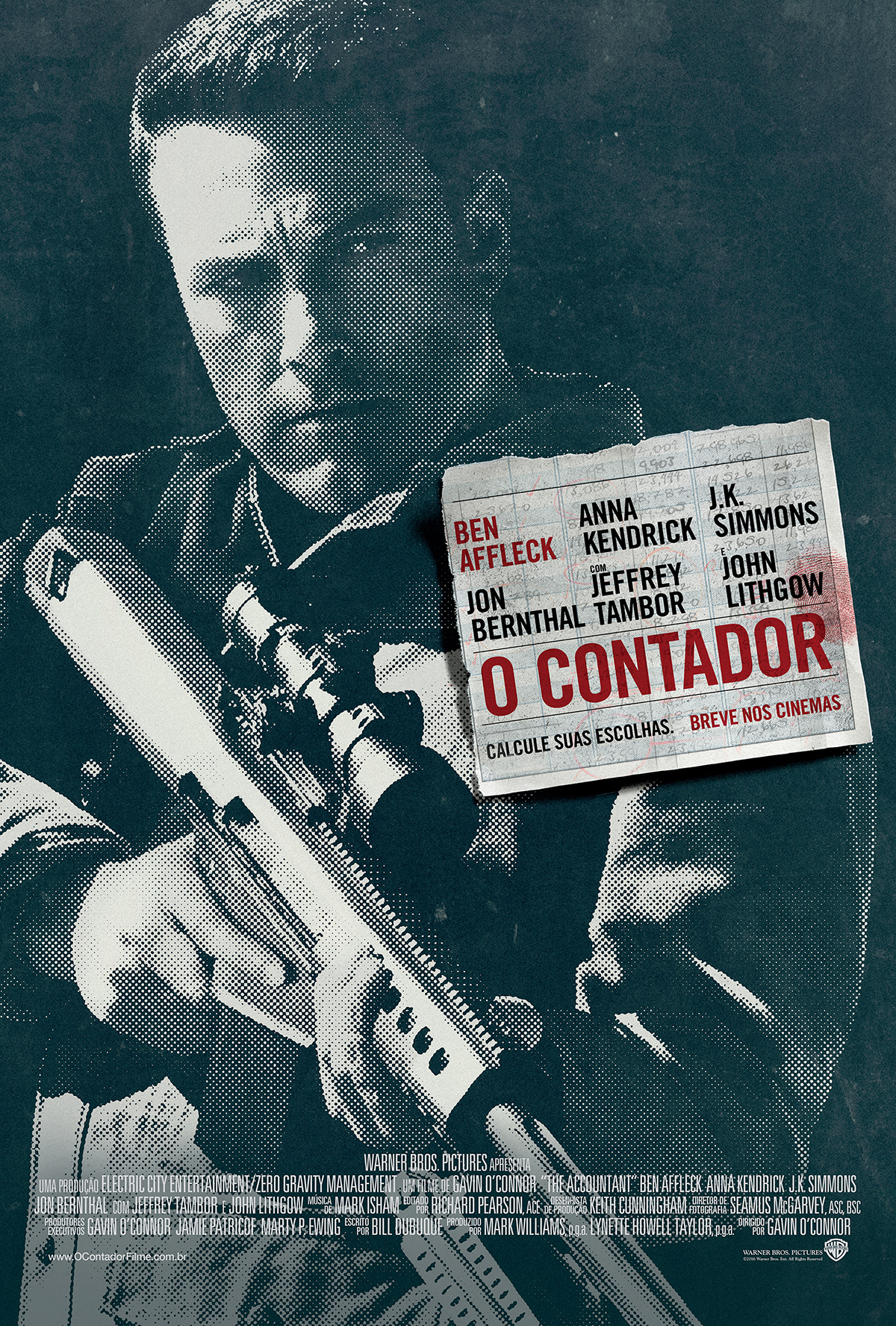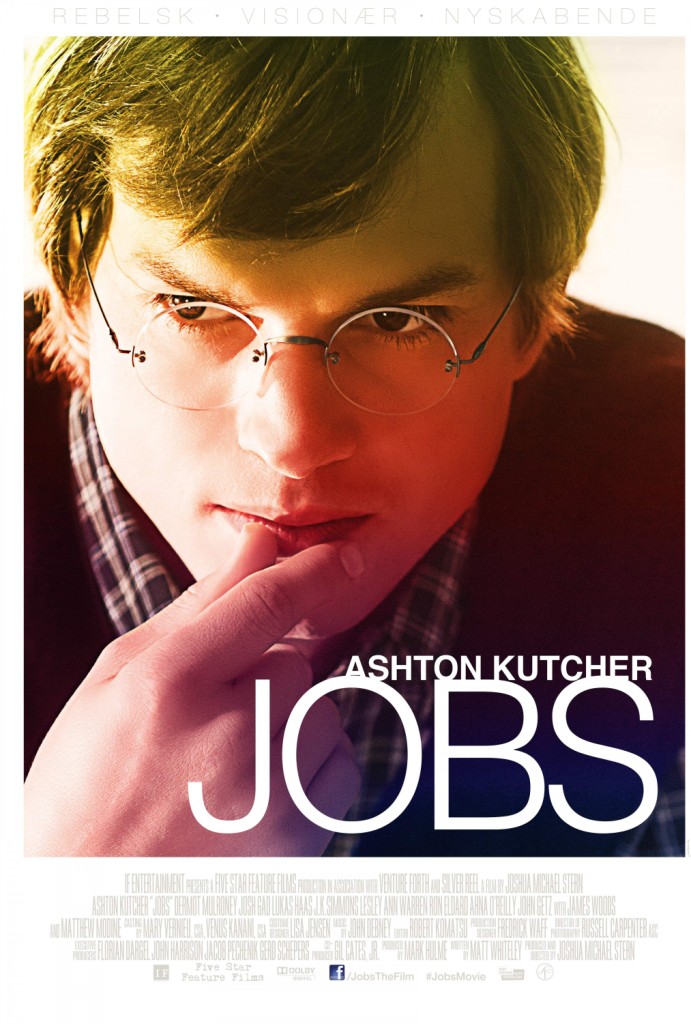Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

VortCast 106 | Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Bem-vindos a bordo. Flávio Vieira (@flaviopvieira | @flaviopvieira), Jackson Good (@jacksgood), Bruno Gaspar (@hecatesgaspar | @hecatesgaspar) e Filipe Pereira (@filipepereiral | @filipepereirareal) recebem Marcelo Miranda (@marcelomiranda1) para comentar sobre os erros e acertos do mais novo filme do Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.
Duração: 88 min.
Edição: Flávio Vieira
Trilha Sonora: Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook — Página e Grupo | Twitter | Instagram
Links dos Sites e Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Deviantart | Bruno Gaspar
Cine Alerta
Arte Final
Saco de Ossos
Hora do Espanto
Materiais Relacionados
VortCast 47 | Homem-Aranha e o Cinema
Agenda Cultural 70 | Infiltrado na Klan, Green Book, Shazam!
A Pilha do Aranha #05 — Um Dia a Mais
A Pilha do Aranha #07 — Edição Especial: Sem Volta Para Casa
Filmografia Homem-Aranha nos cinemas
Crítica | Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa
Crítica | Homem-Aranha: Longe de Casa
Crítica | Homem-Aranha: De Volta Ao Lar
Crítica | O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro
Crítica | O Espetacular Homem-Aranha
Crítica | Homem-Aranha 3
Crítica | Homem-Aranha 2
Crítica | Homem-Aranha
Crítica | Homem-Aranha no Aranhaverso
Crítica | Venom
Crítica | Venom: Tempo de Carnificina
—
Ouça e avalie-nos: iTunes Store | Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:28:14 — 88.2MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS