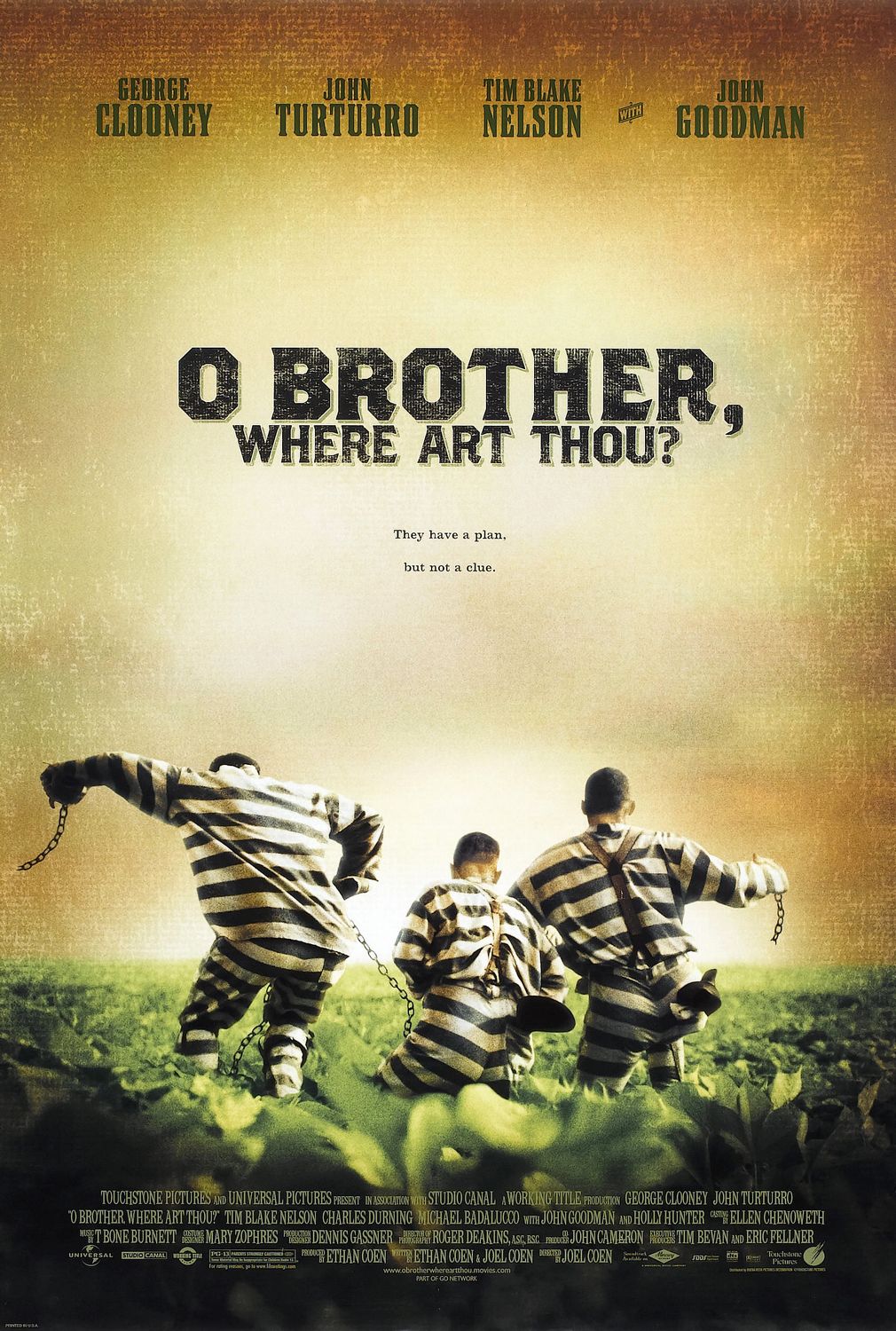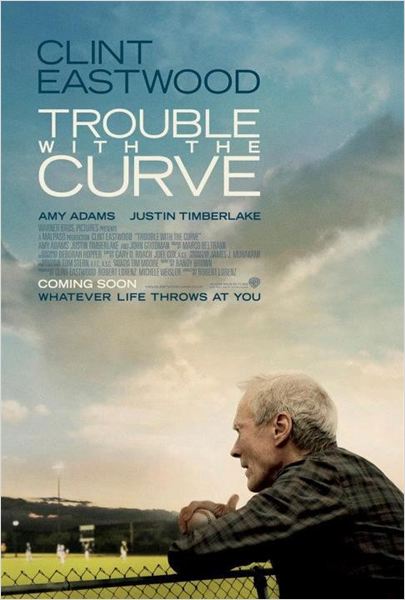Crítica | Vivendo no Limite

“Cala a boca, você vai morrer, mas ele não, entendeu?!”
A dona morte sempre rondou os filmes de Martin Scorsese, espectro onipresente e visível nas ações de todos, e por trás de tudo que faz parte do cosmos urbano e violento que o cineasta naturalmente adotou, para si. Aqui, é possível notar uma certa redenção para esse espírito de decadência física e moral que os filmes do diretor de Cabo do Medo e Depois das Horas tanto debateram. É como se, pela primeira e possivelmente única vez, Scorsese fosse investigar os efeitos de um anjo vindo salvar as almas perdidas de Nova York, transitando incólume (ou nem tanto, assim) numa exígua viatura paramédica entre a podridão, a escuridão, e a danação que existe nas ruas e esquinas da maior selva de pedra desse mundo.
Vivendo no Limite é sobre uma espécie de salvação religiosa que pode ou não resistir, bravamente, fora de um âmbito católico. Jogados ao mundo, as esquinas encardidas e a pessoas que carregam “problema” escrito nas suas testas, pergunta-se: é possível salvar alguém? Essa dúvida é personificada nos olhos de Nicolas Cage, numa das suas melhores atuações da carreira do famoso ator, e aqui metaforizada na sua profissão: salvar vidas dentro e fora de uma ambulância, na fornalha nova iorquina do começo dos anos 90. Desta vez, em meio as andanças da viatura que só avança pela noite, entre vivos e mortos, a cidade é retratada como uma versão mais fria e menos perturbada que a metrópole sem leis e prostituída dos anos 70. Scorsese parece entender as diferenças e as abraça, então, sem nenhuma nostalgia aparente.
Sofrendo com a pressão do trabalho, e deixando-se impactar por ele em sua vida pessoal, Frank Pierce faz a ronda noturna enquanto se pergunta a finalidade do seu trabalho. O divino está na sua visão, não como esperança para o homem do desfibrilador, mas como algo que está à espreita das almas perdidas que vagam pelas ruas, e que não se mostra devido o véu da perdição que assola as áreas violentas de Nova York. Logo, logo, eles vão precisar de Frank para checar seus batimentos, quando a vida se provar frágil e não mais imbatível para drogados, e prostitutas. Eles só andam, gente da comunidade, gente de uma noite comum; almas penadas que Scorsese filma como contraponto a missão altruísta de Frank: salvar. Quem, ele não sabe, mas lembra-se de todos – principalmente daqueles que não conseguiu resgatar dos mortos.
Por 48 horas, na trama, ele e seu amigo de ambulância Larry Verber (John Goodman, sempre um prazer) compartilham das dores e loucuras do projeto sarcástico e dramático de Cinema de Scorsese, mas desta vez com a garantia de que as mortes violentas de uma história serão combatidas não apenas pelo dever de uma equipe médica, mas pela nobreza de uma vida que precisa ser lembrada, principalmente numa selva impiedosa com os seus animais. Se Frank atendesse Travis Bickle após o tiroteio final em Táxi Driver, por exemplo, Frank deixaria o motorista punk falecer, engasgado no próprio sangue? E se a ambulância chegasse ao clímax de Os Infiltrados, logo após a chacina do filme de 2006, suas vidas seriam salvas? Se dependesse dele, sim, pois esse é o certo, o humano, o justo, independentemente dessa ser uma moral cristã, ou não.
Do primeiro ao último atendimento, geralmente frenéticos e bem-humorados, a fotografia de Vivendo no Limite deixa seus tons brilhantes explodirem na tela, sendo o branco a cor mais presente nesse mural explícito e objetivo sobre o sentido da vida urbana, e a fragilidade dela quando encarada pela ceifa da morte. Num hospital que parece um purgatório em que almas, várias, chegam e retornam em desespero, rebeldes e errantes como só, com novos casos rolando a cada dia, ou melhor, a cada noite, ninguém garante que o cenário existe numa outra dimensão, espiritual talvez, ou mesmo na nossa, aonde a realidade das ruas dá licença a preservação da vida; aonde o som de um tiro, dá lugar ao bipe de um batimento cardíaco. E não se engane: Nicolas Cage é o cara, sempre foi, e junto de Scorsese realizaram aqui um dos melhores filmes americanos dos anos 90. Peça rara e que só melhora ao passar dos anos.
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.