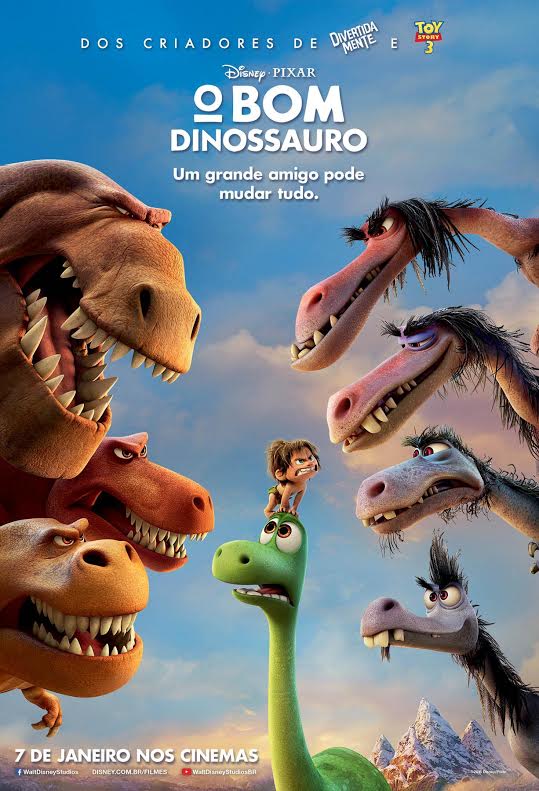Crítica | Luca

Luca conta uma história de superação e aceitação, focada no personagem-título que vive no mundo submerso dos oceanos e sonha em passear pela superfície. Junto com seu amigo Alberto que não é bem quisto em sua comunidade, ele vai para a terra firme, e passa seus dias em uma pequena vila italiana, mas não sem deixar de preocupar seus pais, que tem receio de que o protagonista seja pego pelos pescadores e pessoas do vilarejo.
O filme de Enrico Casarosa mistura elementos de animação distintos, no início há uma emulação de elementos que lembram o stop motion de Fuga das Galinhas, e depois, remete aos filmes animados recentes da Disney e Pixar, super colorido, em especial os cenários paradisíacos de Moana. Casarosa tinha feito dez anos antes o belo curta La Luna, que tem em comum com este, um protagonista infantil cheio de sonhos e uma jornada que trata de assuntos complexos de maneira lúdica.
Tanto Alberto quanto Luca são meninos comuns, fato que aproxima a dupla do público-alvo. São garotos de verdade, que tem como diferença apenas a condição de ao estar na água ter uma aparência que faz lembrar a criatura de O Monstro da Lagoa Negra e a criatura de A Forma da Água, e em comum com o filme de Del Toro, há a questão de entender o diferente como um semelhante. O filme é assertivo e inspirador.
A jornada em busca de não ter vergonha da própria identidade desafia os padrões e a dita normalizada, de maneira esperta, com pitadas boas de um discurso de auto aceitação e que poderiam até passar despercebidas por plateias conservadoras e menos atentas. Luca é assertivo e inspirador, descontrói o discurso rasteiro e preconceituoso, mostrando que não é tarde para aceitar abrir mão de seus dogma e ideias pré-concebidas.