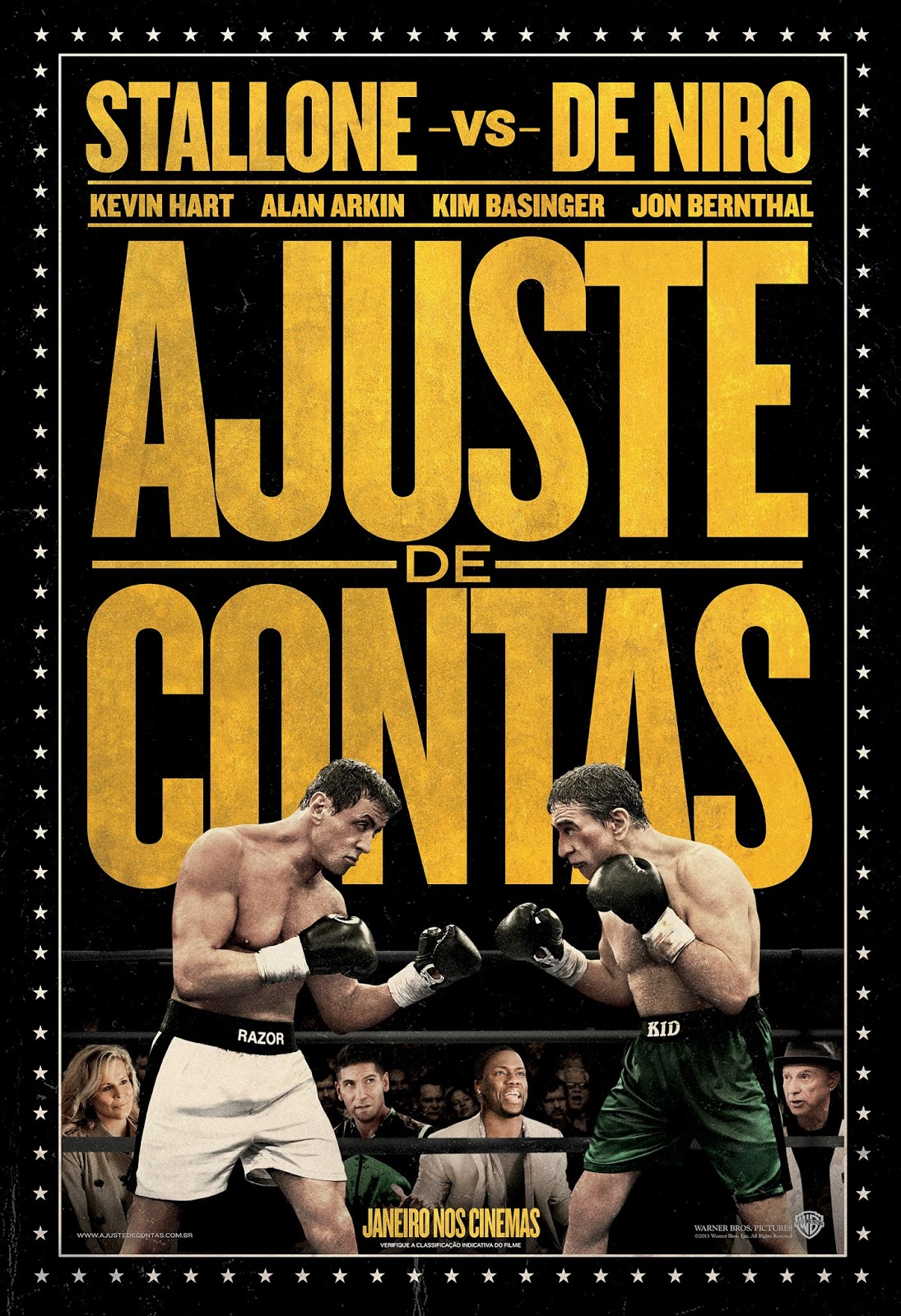Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

Crítica | Edward Mãos De Tesoura

Uma das obsessões de Tim Burton são os contos de fadas. Ele já havia participado de Teatro de Contas de Fada, com um episódio sobre o conto de Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, mas ainda carecia de algo original em formato longa-metragem, e um pouco depois do sucesso que foi o seu Batman, ele viria com o lúdico Edward Mãos de Tesoura, um filme que se vale da nostalgia e de uma América que apesar de um pouco idealizada, reúne muita realidade em torno de sua história escapista.
Os primeiros momentos se assiste uma avó já bastante idosa colocando sua neta para dormir, e para que ela possa finalmente descansar, a senhora conta uma história passada, em um subúrbio sem nome – as gravações foram em um bairro pacato, de Tampa, Flórida – cujas casas e lugares tem cores gritantes ou pastéis. Nesse lugar, a vendedora e mãe de família Peg Bogg (Dianne Wiest) bate de casa em casa, inconvenientemente tentando vender seus produtos, até que depois de ser ignorada por todos os vizinhos, ela encontra um castelo, cujo jardim é todo decorado com belos arbustos personalizados.
A casa aparentemente abandonada é na verdade lar de um sujeito diferente, que vive nas profundezas da escuridão, vestido de couro, de cor pálida e com pequenas cicatrizes no rosto. Esse é Edward, vivido pelo ator em ascensão Johnny Depp, antes de toda badalação que o faria ser um intérprete mecânico de seus arquétipos. Peg decide retirar o rapaz de sua solidão e levá-lo para morar com sua família, ignorando até mesmo o seu potencial destrutivo, uma vez que Edward tem lâminas de tesouras no lugar das mãos.
A adaptação de Edward ao mundo comum é curiosa, já que ele jamais havia tido qualquer contato com outras pessoas que não o seu criador. O filme se mostra gradual em demonstrar a ambientação do personagem neste novo mundo, e nesses primeiros momentos os eventos mais engraçados são a chegada de todas as donas de casa que querem saber quem é o novo visitante na casa dos Bogg, o fato do rapaz dormir em um colchão de água que é um objeto bastante frágil tendo em vista suas mãos, e a primeira cena do jantar em família, onde os demais não entendem muito bem quem ou o que ele é.
Burton filma os carros saindo das casas pelo alto, quase todos em fila, referenciando um método e rotina compartilhado por absolutamente todos. Os moradores daquele vilarejo são exatamente iguais, e não fogem nunca do usual. Edward é diferente, o único capaz de aprender coisas novas, e ele não demora a se soltar, mostrando a Bill (Alan Arkin), pai da família o que ele é capaz de fazer com uma simples planta a ser podada.
Burton sempre foi conhecido por ser um diretor que ignorava o trabalho dos roteiristas e esse certamente é exceção à regra. O argumento é assinado por si e Caroline Thompson (com roteiro de Thompson), e a forma como é mostrada a origem do protagonista, sem apelos grandiosos, com flashbacks econômicos, que mostram um cientista já idoso – Vincent Price, ídolo de Burton – chamado apenas de O Inventor, que tem o sonho de dar sentimentos as máquinas que o ajudam na fabricação dos biscoitos e demais doces de natal. A sua sina é parecida em essência com a de outros cientistas, com a diferença clara de que não há ganância nele ou uma vontade incontrolável por poder, ao contrário, ele é um sujeito altruísta, e passa essa condição a Edward.
Por incrível que pareça, a pessoa que menos explora Edward é justamente a pessoa que o rejeitou de início, a bela e jovem Kim (Winona Ryder), ao se assustar com o sujeito ocupando seu quarto. A família se aproveita de suas habilidades com tesouras para decorar os jardins da vizinhança, tosar os cachorros das madames e até replicar a excentricidade dessas donas de casa também em seus cabelos. Esse quadro muda quando a menina cede a pressão de seu namorado, para que convença Edward para ajudá-lo a assaltar um lugar, se tornando então um pária para toda a comunidade.
A proximidade com o natal vem junto com um evento curioso, que é o de revelar a total hipocrisia do povo suburbano, que passa a culpar o elemento externo por tudo de ruim que houve naquela vizinhança. Essa dicotomia torna-se um evento inteligente do texto, já que o pregado em cantatas e teatros natalinos é a solidariedade e união suprema entre os povos, e não o preconceito que se vê aqui. Os corais que entoam os temas de Danny Elfman ajudam a restabelecer a magia do conto, mesmo após a enxurrada de hipocrisia e demonstração da podridão da alma humana, presente no discurso preconceituoso e ressentido dos vizinhos. A cena em que o personagem principal faz uma escultura no gelo é fechada com um acidente em que ele corta Kim, logo no momento em que os dois finalmente começam uma conexão sentimental. Ferido emocionalmente, ele age de maneira instintiva e foge, causando pequenos transtornos pelo caminho, assim como no romance de Mary Shelley, sobre o monstro de Frankenstein.
Edward Mãos de Tesoura possui uma singeleza e sensibilidade ímpar em sua historia, realizando uma fantasia com tons modernos que mesmo atualmente segue poderosa em essência.
https://www.youtube.com/watch?v=__dB7t0853U