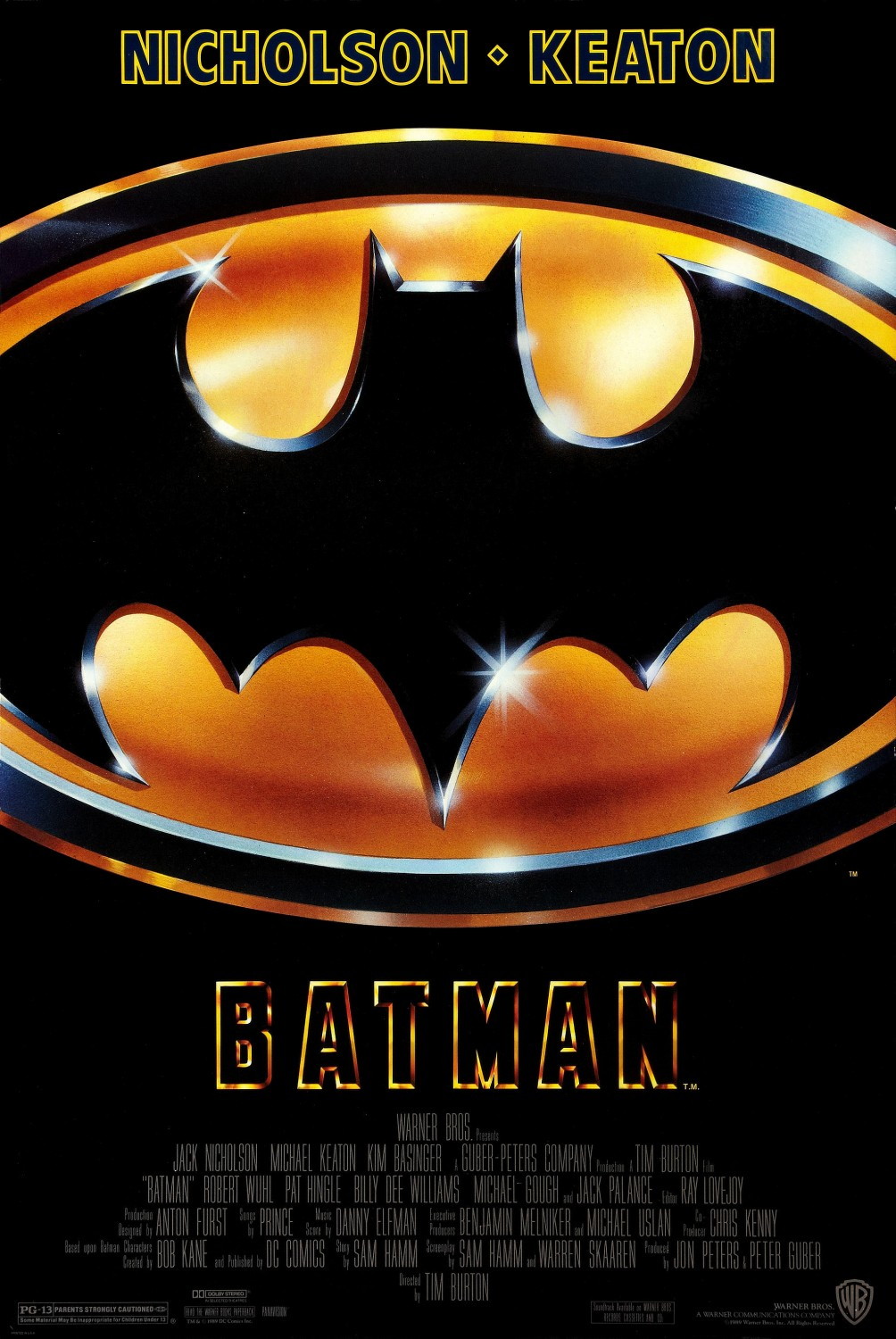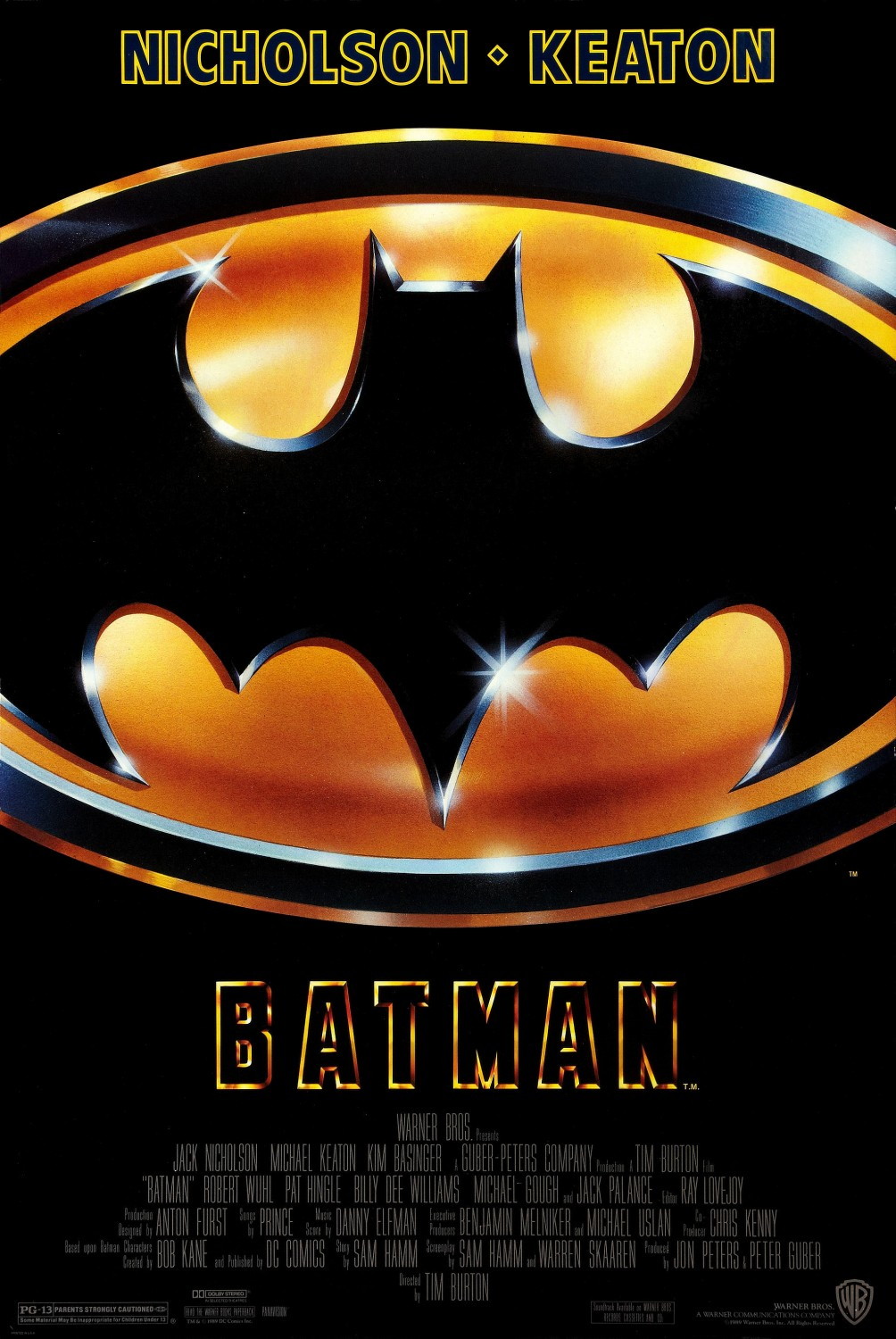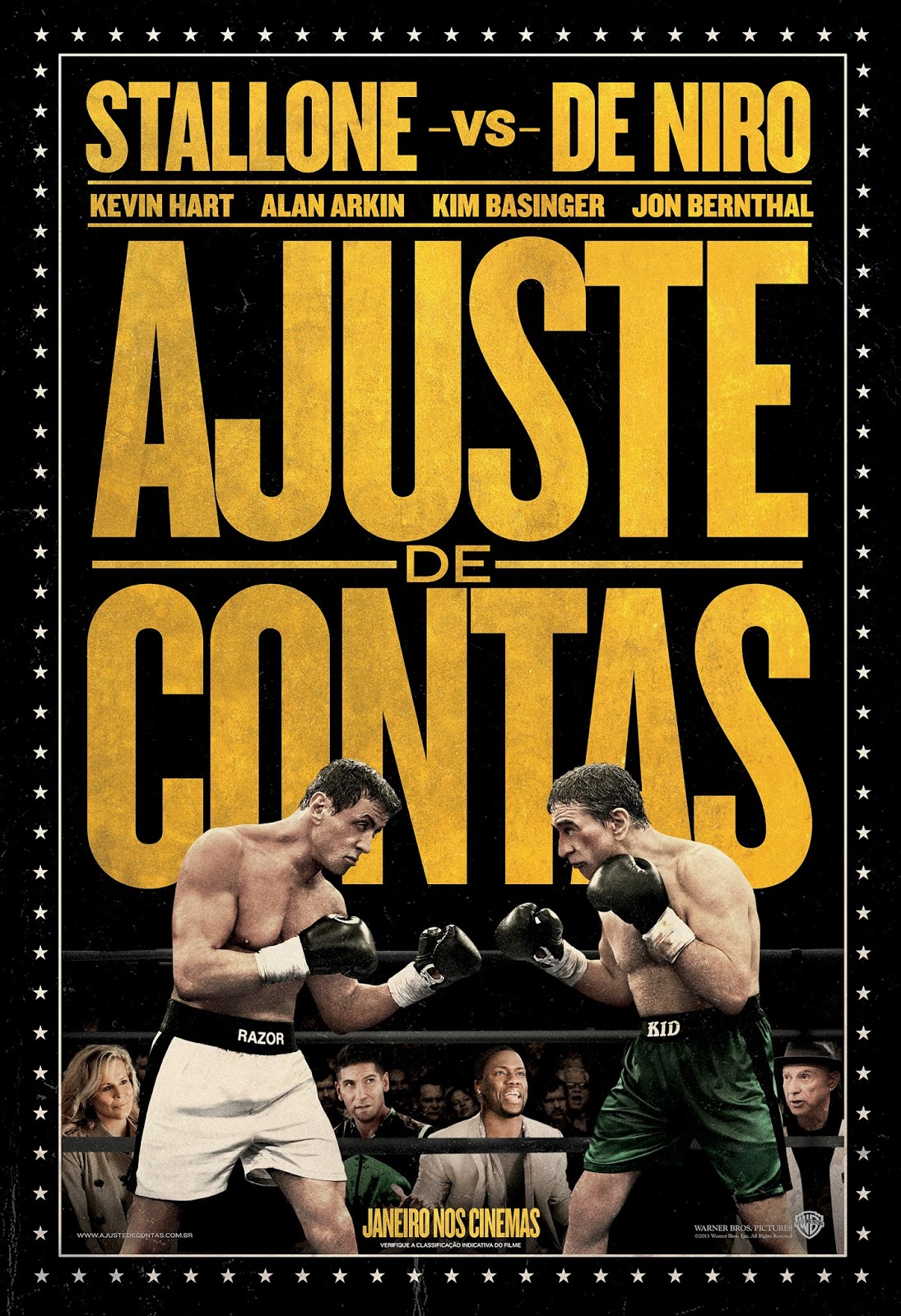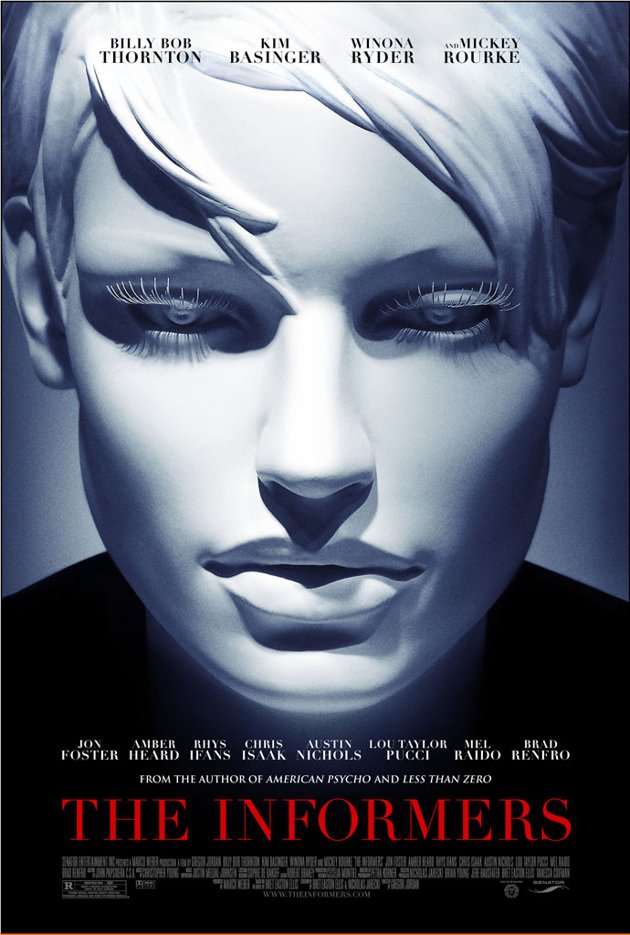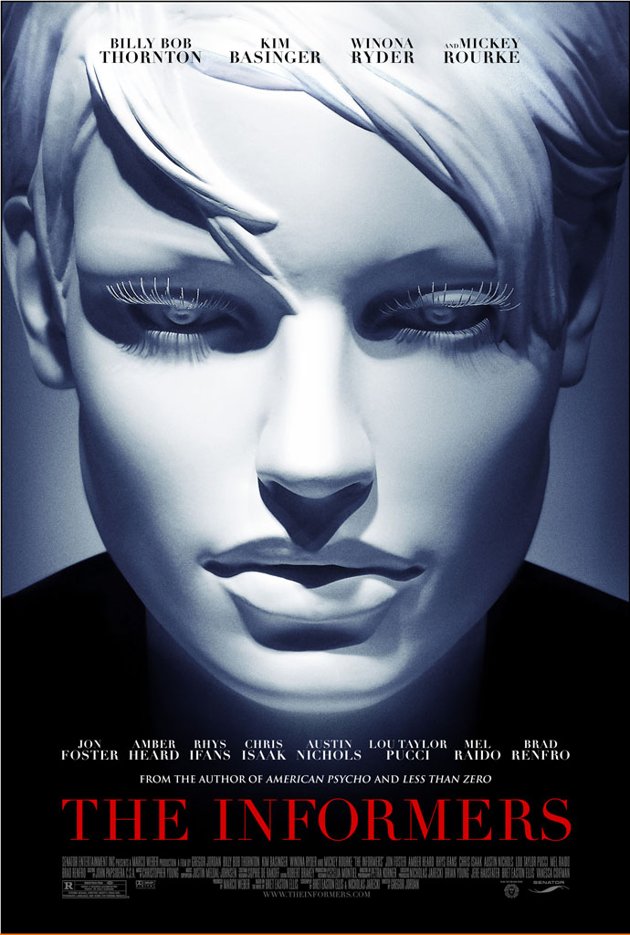Crítica | 007: Nunca Mais Outra Vez

Durante o decorrer da década de 1980 várias obras infames ganharam projeção e publicidade em meio ao público médio, e sem dúvida, 007: Nunca Mais Outra Vez se destacou por fazer parte desse cenário. O filme que traria Sean Connery para seu papel mais famoso tem trama muito semelhante a 007 Contra a Chantagem Atômica e é fruto de uma briga judicial entre os escritores desse roteiro. Na trama, Bond recebe uma convocação para recuperar bombas nucleares roubadas pela organização Spectre, tradicionalmente presente nos livros de Ian Fleming.
Para além da exibição, a obra é mais conhecido pela polêmica envolvendo os direitos autorais. Kevin McClory produtor e co-autor do roteiro do filme de 1965 ganhou ação na justiça dos Estados Unidos e pôde fazer seu próprio filme com o personagem desde que este fosse produzido após 1975. Nas discussões a respeito disso Connery sugeriu que o personagem estivesse de fato mais velho e maduro, mas a ideia foi descartada e fingiriam que ele era o mesmo personagem de sempre, mesmo com o intérprete já vivendo personagens mais veteranos, a exemplo de Robin e Marian, O Homem Que Queria Ser Rei e tantos outros.
O filme não possui boa parte das marcas do personagem, como os créditos iniciais, a trilha musical, etc. Sobraram os personagens M, Moneypenny, Q e, claro, a organização Spectre. Irvin Kershner, diretor de O Império Contra-Ataca foi responsável por conduzir Nunca Mais Outra Vez. O filme tem como bondgirl principal a belíssima Kim Basinger, que tem seu corpo explorado de modo mais agressivo do que era comum aos filmes do espião britânico. Max Von Sidow como Blofeld, tem em sua ação uma abordagem semelhante aos filmes de brucutus, com violência mais franca e estética semelhante aos filmes de soldado. Em alguns pontos, as brigas lembram o visto em Rambo: Programado Para Matar.
O filme é repleto de momentos bobos, como quando o herói derrota um brutamontes após jogar um líquido estranho, que parecia ser ácido, para depois descobrirmos se tratar da urina do espião. O filme ainda chega ao cúmulo de ter Rowan Atkinson, intérprete do clássico personagem Mister Bean, que anos mais tarde faria Johnny English, uma paródia aos clichês de 007.
Reza a lenda que McClory desejava que esse fosse apenas um de uma nova série de filmes do agente britânico, mas essa intenção não se materializou. Durante os anos 90, sua intenção era refilmar essa mesma história com o título Warhead 2000, e chamaria Timothy Dalton para fazer Bond, porém a justiça americana freou esse projeto. A julgar pela qualidade deste, foi melhor assim. Para Connery o filme ainda causou sensações mistas. Ao passo que ele recebeu o maior cachê pago a um ator britânico até a 1983, ele também conseguiu quebrar seu pulso, enquanto ensaiava uma coreografia de luta com o instrutor Steven Seagal.
Nunca Mais Outra Vez desperdiça o talento de Klaus Maria Brandauer, ator austríaco acostumado a papéis mais dramáticos e que aqui parece um bobo alegre. Além disso, o roteiro é fraco, as atuações são genéricas, a música tema é pouco marcante, e nem ao menos os cenários remetem às histórias de Fleming.
https://www.youtube.com/watch?v=0RIICiAaEwI