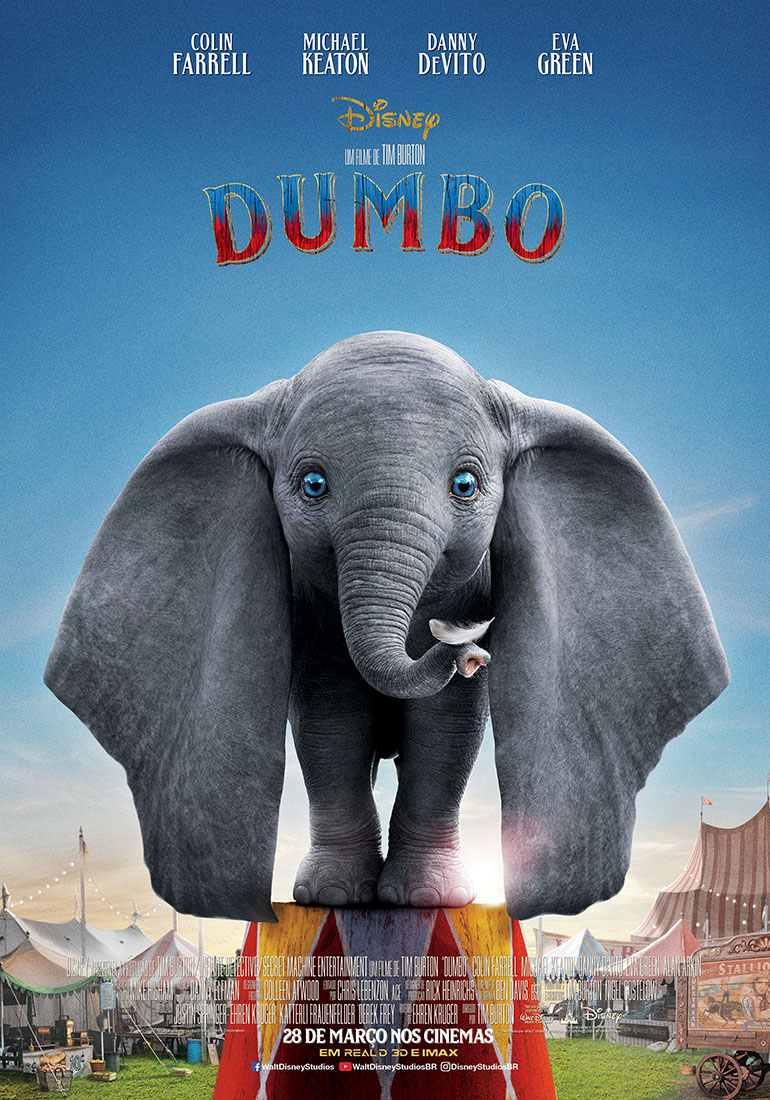Crítica | Um Homem de Família (2000)

Um Homem de Família traz a história de Jack Campbell (Nicolas Cage), um bem-sucedido corretor milionário que em 1987, abriu mão da relação com sua namorada de faculdade, viajando rumo a Londres para uma vida bem diferente do que tinha até então. Na noite do dia 24 de dezembro de 2000, após receber uma ligação da mesma Kate que ele abandonou, ele segue seu dia normalmente, mas curioso a respeito de como poderia ser sua vida caso seguisse com ela.
Essa é uma versão que tenta modernizar histórias natalinas, como Um Conto de Natal, de Charles Dickens, com pitadas referenciais ao clássico de Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra. O lúdico invade a trama que até então parecia cínica e vaidosa, que em um momento de tédio e vazio existencial pensa nas alternativas que sua vida teve. A materialização da mudança, após o personagem interromper um assalto resulta em uma estranha fantasia que se vale até do arquétipo do negro místico, interpretado por Don Cheadle, e coloca o herói da jornada em situações bem distantes daquela rotina de antes.
Cage já havia trabalhado com grandes diretores, ganhado um Oscar por Despedida em Las Vegas, além de protagonizar grandes filmes de ação como A Outra Face e A Rocha, ou seja, estava no auge de sua carreira. Brett Ratner era conhecido por seu trabalho nas comédias Tudo Por Dinheiro e A Hora do Rush, o que pode ter motivado Cage a participar do projeto, aliado a outras discussões existentes no roteiro de Um Homem de Família, como o próprio consumismo e a hipocrisia típica do período.
A comparação entre às duas vidas de Jack é absurda, em uma ele tem a realização profissional, na outra é a completa ruína do ponto de vista financeiro. A lição que lhe é dada poderia ser curta, mas ele é individualista, obcecado por ter tudo de volta. Nem mesmo simples manifestações de afeto são encaradas por ele como algo normal. Ele é ríspido até mesmo com a sua filha menor, e demora a enxergar afeição nos pequenos momentos.
A negação dele é tão intensa que faz o espectador perguntar se os primeiros momentos do filme não eram um devaneio, e se sua vida, na verdade, não é a de um homem ordinário, ambicioso, mas preso a uma rotina medíocre, agravada por uma crise de meia-idade.
O drama é vagarosamente desenvolvido, e mesmo em meio a negação de Jack, a maior riqueza da trama ainda é a relação dele com Kate. Se Cage consegue apresentar uma boa versão do homem insatisfeito, Téa Leoni é deslumbrante visual e espiritualmente. Os poucos momentos que Campbell se permite ter prazer é quando está com ela, mesmo nas crises normais da vida adulta média, quando ele se enxerga como casal com a mulher que jurou amar e cuidar ele parece estar completo.
A vaidade e teimosia do protagonista seguem grandes em todo o filme e sua tentativa em corrigir a rota mostra que ele dificilmente entenderá a lição que querem lhe passar. Ele só se vê como um homem de negócios. O compromisso que ele parece ter é com o dinheiro e somente isso.
Para todos os efeitos, Jack é humano, e se nega a aceitar qualquer uma de suas versões. Quando tem a família, ele deseja a riqueza, e quando vê essa riqueza se aproximar, ele não quer perder Kate e tudo que veio dessa união. Ele não é iluminado, ao contrário, é burro e fútil, já Kate, na versão fantasiosa parece ser evoluída, e até no mundo dito real, parece ser mais generosa que seu possível par.
Um Homem de Família é um conto sobre maturidade, sobre lidar com as escolhas que a vida oferece, como se permitir construir algo com quem ama, mesmo que esse dia-a-dia não seja repleto de luxos. A mensagem anticapitalista seria bem empregada, não fosse pelo final conveniente para os anseios dos personagens, e é uma lástima que um filme tão reflexivo termine tal qual uma comédia romântica água com açúcar. No entanto, o restante da jornada para chegar a essa conclusão é válida, afinal, Kate e Jack são apenas seres humanos, capazes de escolher mal seus próprios destinos, como qualquer um de nós.
https://www.youtube.com/watch?v=vy5pt3FT5Tk