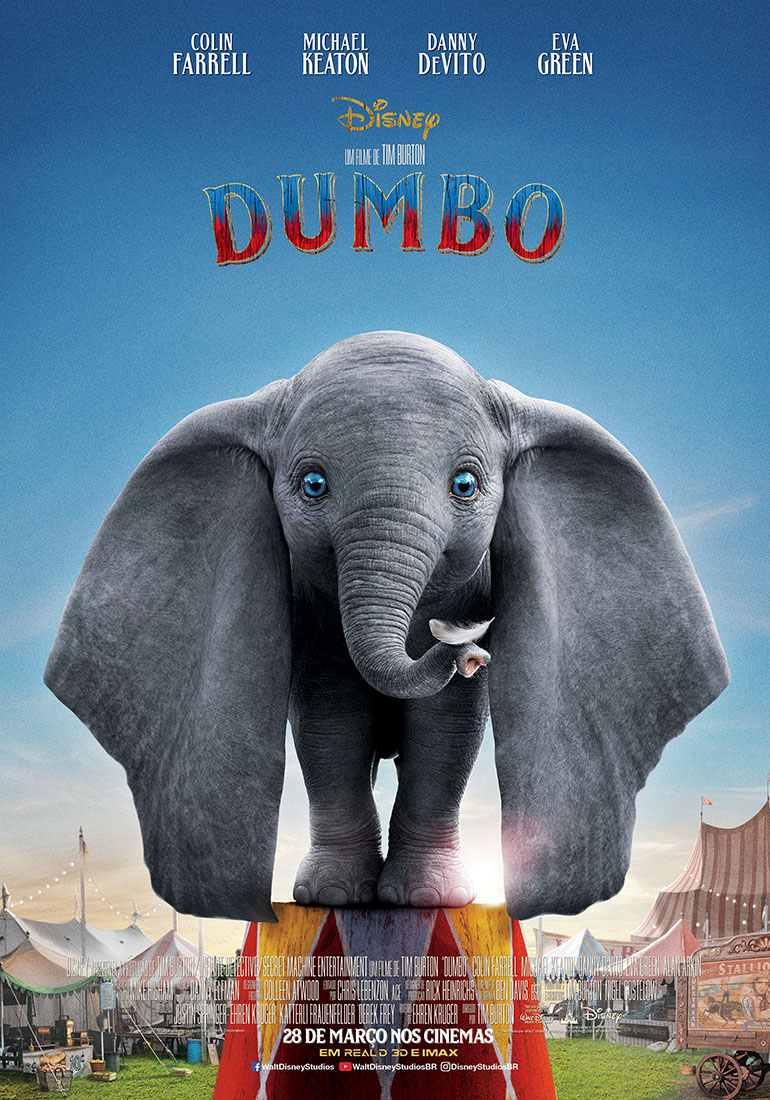VortCast 102 | James Bond – 007: A Era Daniel Craig

Bem-vindos a bordo. Flávio Vieira (@flaviopvieira | @flaviopvieira) e Mario Abbade (@marioabbade) se reúnem para comentar sobre o encerramento da era Daniel Craig como James Bond nos cinemas. Quais foram os pontos altos e baixos, as polêmicas e o futuro da franquia.
Duração: 74 min.
Edição: Flávio Vieira
Trilha Sonora: Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook — Página e Grupo | Twitter | Instagram
Links dos Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Deviantart | Bruno Gaspar
Cine Alerta
Materiais Relacionados
007: As Canções da Franquia — Parte 1
007: As Canções da Franquia — Parte 2
10 atores que poderiam ter sido James Bond
Estilos e Estilistas: construindo pontes entre a sétima arte e a vida
Crítica | Everything or Nothing: The Untold Story of 007
Agenda Cultural 47 | Western, Máfia e Agentes Secretos
Filmografia 007 — Daniel Craig
Crítica | 007: Cassino Royale
Crítica | 007: Quantum of Solace
Crítica | 007: Operação Skyfall
Crítica | 007 Contra Spectre
Crítica | 007: Sem Tempo Para Morrer
Comentados na Edição
No Time To Die — Goodbye, Mr. Bond
—
Avalie-nos na iTunes Store | Ouça-nos no Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:14:32 — 53.7MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS