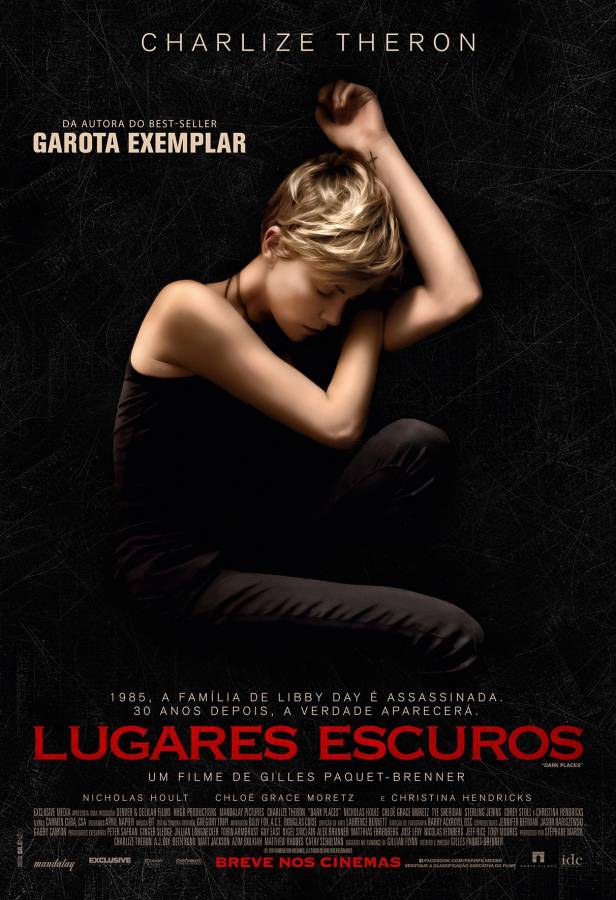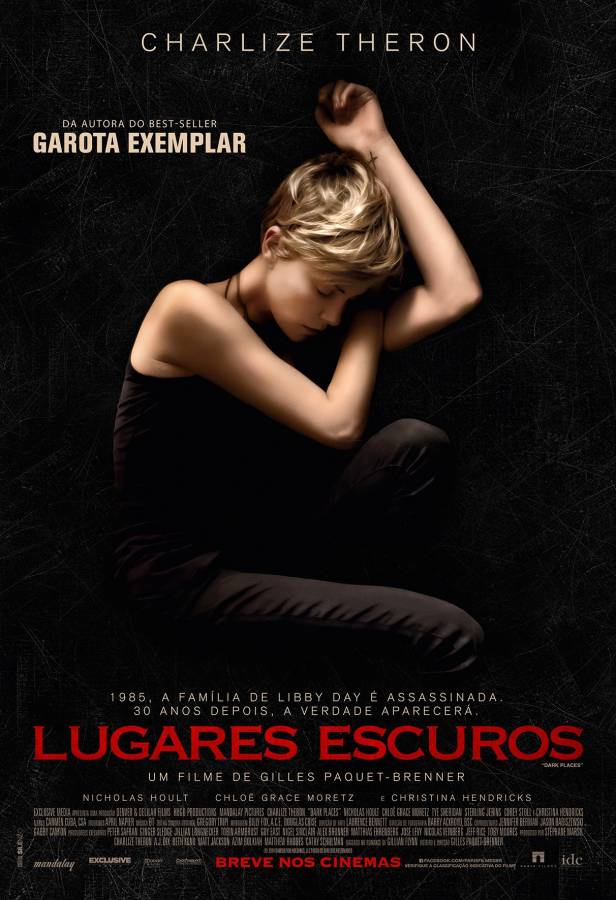Crítica | A Invenção de Hugo Cabret

É chegada a fatídica hora na qual todo diretor de Cinema alcança seu ápice, por inúmeras razões pessoais, artísticas ou mútuas, e ele se vê obrigado a seguir dois caminhos, por natureza: ou retorna e refaz tudo o que experimentou ao longo da carreira, agora mais hábil, ou apela para novas e ainda inseguras formas de se contar uma história. Essas são as consequências inevitáveis da escalada até o topo que todo profissional almeja, desde o início. Martin Scorsese já deve se sentir um vitorioso por fazer parte da história do Cinema, e ter a nos oferecer obras do calibre de um Touro Indomável. Mesmo assim, ainda em 2011, o velho mestre resolveu, no ápice de sua maturidade artística, nos brindar com uma homenagem a própria linguagem do cinema em si, junto da mais bela das metalinguagens – uma ironia que, quando as belas artes descobriram ser acessível, não pararam e não pararão de usar.
Logo na primeira cena de A Invenção de Hugo Cabret, é possível denotar uma nítida resolução: esse é um filme de Martin Scorsese, por mais que não pareça ser durante toda a projeção (onde estava o submundo violento do crime?). Apenas não é o filme que Scorsese gostaria que nós fossemos ver, até ali. Ele já havia demonstrado essa vontade por certa imprevisibilidade em Ilha do Medo, e culminou nessa história dinâmica e graciosa que ninguém, realmente, esperava vir de um diretor conhecido por outras características bastante adversas. Se valeu à pena? Logo na primeira cena, é possível denotar que sim. Quando a câmera dá um rasante em direção do interior de uma estação de trem parisiense, nós sabemos estar diante do projeto mais ambicioso de um cineasta, num plano-sequência inesquecível nos apresentando o ambiente extremamente charmoso onde o órfão Hugo, curioso e solitário, irá viver a grande aventura de sua vida.
Lembro-me de me deslumbrar completamente na sessão, em 2011, tamanho apuro técnico e encantamento que a Paris de Scorsese, no começo do século XX, parecia exalar. James Cameron e o seu 3D revolucionário de Avatar, há dois anos, de fato influenciaram Scorsese para expandir (literalmente) todo o espanto e impacto visuais que o longa poderia causar – e causa. Na trama, o garotinho que mora escondido na estação francesa vive cercado de relógios, e um pequeno androide que o pai, já morto, deixou de herança. Sem saber o que fazer com a máquina, e entre um pequeno roubo e outro para comer, e beber, Hugo encontra a jovem e doce Isabelle. Fica-se sabendo que a garota tem a chave dourada para o autômato funcionar, e inspirados pelos desenhos que o pequeno androide começa a fazer, em sua mão metálica, começa-se uma viagem fantástica pela história do Cinema.
Ao longo de toda uma narrativa que explora o mundo mágico e ilusório dos filmes, tudo amparado por uma qualidade técnica impecável (A Invenção de Hugo Cabret ganhou cinco merecidos Oscars técnicos), é possível então fazer um paralelo com essa curiosidade infantil dos personagens principais com o próprio deslumbramento de Scorsese com as possibilidades da tecnologia 3D quando usada não para substituir uma boa história, mas para melhorar ainda mais a experiência cinematográfica. Assim, o filme faz questão de evidenciar a magia imortal do cinema do passado, o que fez com que a arte chegasse ao ponto de fazer com que a plateia pudesse quase tocar o que acontece dentro da tela. Nomes e até frames de clássicos imbatíveis de outrora são apresentados para uma geração acostumada a comprar algo sem se interessar como aquilo foi feito.
O longa é, portanto, uma verdadeira e linda carta de imagens e sons dedicada a algo que até pouco tempo atrás fez os espectadores do filme A Chegada do Trem na Estação, de 1895, se abaixarem com medo do trem sair da tela. E, hoje, faz os espectadores também se abaixarem com medo do trem sair da tela, de tão realista e sofisticado que andam os efeitos 3D. Ademais, ainda em 2011, foi absolutamente prazeroso assistir, na tela do cinema, a versão colorida e remasterizada de Viagem à Lua, clássico jurássico do homenageado e assim finalmente imortalizado cineasta George Méliès, e também alguns frames de O Gabinete do Dr. Caligari, verdadeira joia do expressionismo alemão, e vários outros diamantes de uma arte que tanto amamos. A Invenção de Hugo Cabret é algo feito para engolir quem o assiste, em todos os sentidos, seja por sua beleza, seja por sua nostalgia; ambas arrebatadoras.
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.