
VortCast 102 | James Bond – 007: A Era Daniel Craig

Bem-vindos a bordo. Flávio Vieira (@flaviopvieira | @flaviopvieira) e Mario Abbade (@marioabbade) se reúnem para comentar sobre o encerramento da era Daniel Craig como James Bond nos cinemas. Quais foram os pontos altos e baixos, as polêmicas e o futuro da franquia.
Duração: 74 min.
Edição: Flávio Vieira
Trilha Sonora: Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook — Página e Grupo | Twitter | Instagram
Links dos Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Deviantart | Bruno Gaspar
Cine Alerta
Materiais Relacionados
007: As Canções da Franquia — Parte 1
007: As Canções da Franquia — Parte 2
10 atores que poderiam ter sido James Bond
Estilos e Estilistas: construindo pontes entre a sétima arte e a vida
Crítica | Everything or Nothing: The Untold Story of 007
Agenda Cultural 47 | Western, Máfia e Agentes Secretos
Filmografia 007 — Daniel Craig
Crítica | 007: Cassino Royale
Crítica | 007: Quantum of Solace
Crítica | 007: Operação Skyfall
Crítica | 007 Contra Spectre
Crítica | 007: Sem Tempo Para Morrer
Comentados na Edição
No Time To Die — Goodbye, Mr. Bond
—
Avalie-nos na iTunes Store | Ouça-nos no Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:14:32 — 53.7MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS






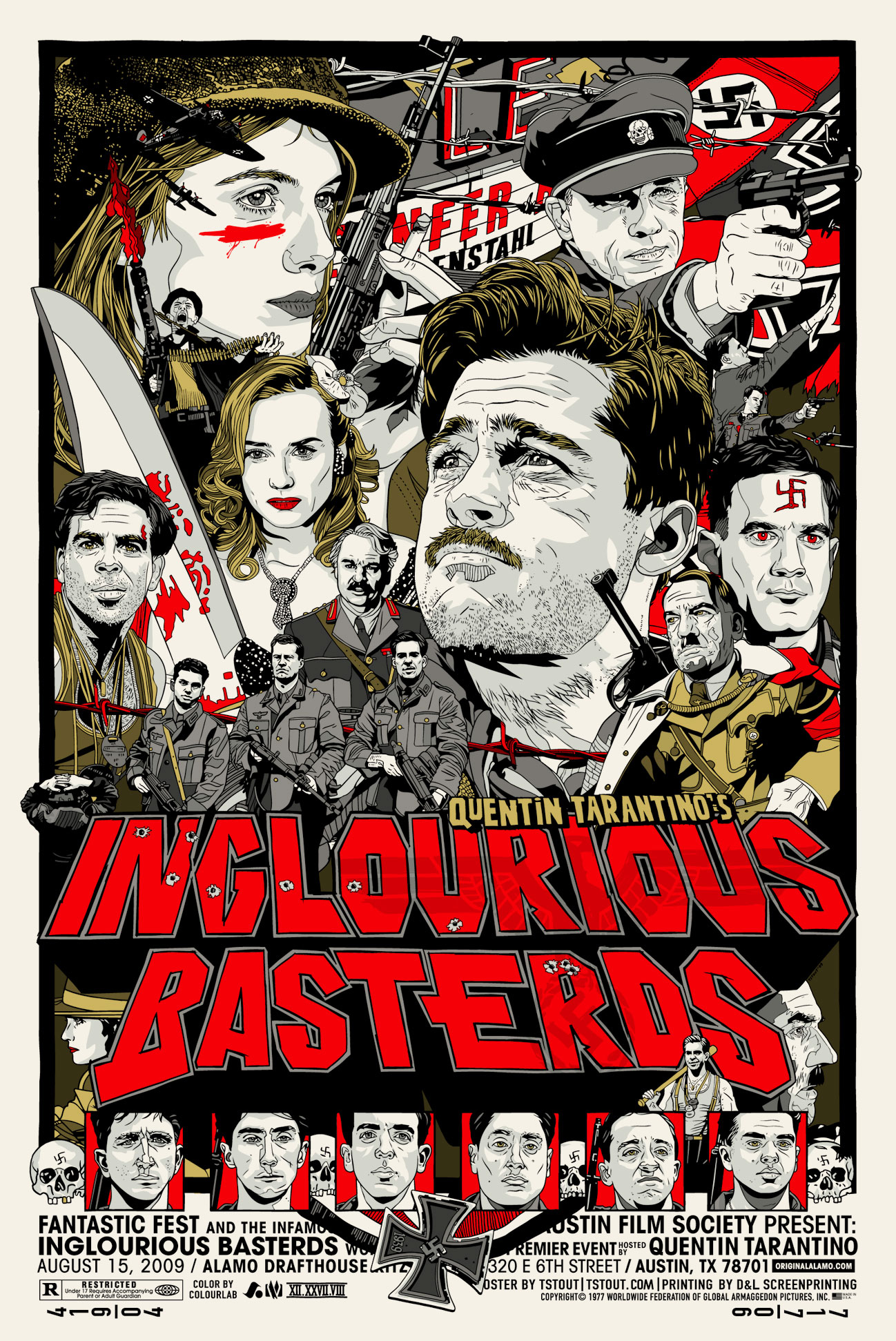





















 Assim como seus filmes, Tarantino possui várias marcas registradas que transbordam nas películas e fazem dele um diretor autoral com o nome gravado à ferro na história do cinema. Exímio diretor de câmera, abusa dos chamados long shots com cenas de até 10 minutos sem cortes. Seus roteiros, geralmente originais, trazem personagens de personalidade forte e a grande maioria das tramas tem uma dualidade muito evidente: Os personagens nunca são completamente vilões ou mocinhos. O grande trunfo dos filmes “tarantinescos” sempre foram os personagens e seus diálogos, muitas vezes surreais, sobre assuntos cotidianos.
Assim como seus filmes, Tarantino possui várias marcas registradas que transbordam nas películas e fazem dele um diretor autoral com o nome gravado à ferro na história do cinema. Exímio diretor de câmera, abusa dos chamados long shots com cenas de até 10 minutos sem cortes. Seus roteiros, geralmente originais, trazem personagens de personalidade forte e a grande maioria das tramas tem uma dualidade muito evidente: Os personagens nunca são completamente vilões ou mocinhos. O grande trunfo dos filmes “tarantinescos” sempre foram os personagens e seus diálogos, muitas vezes surreais, sobre assuntos cotidianos.