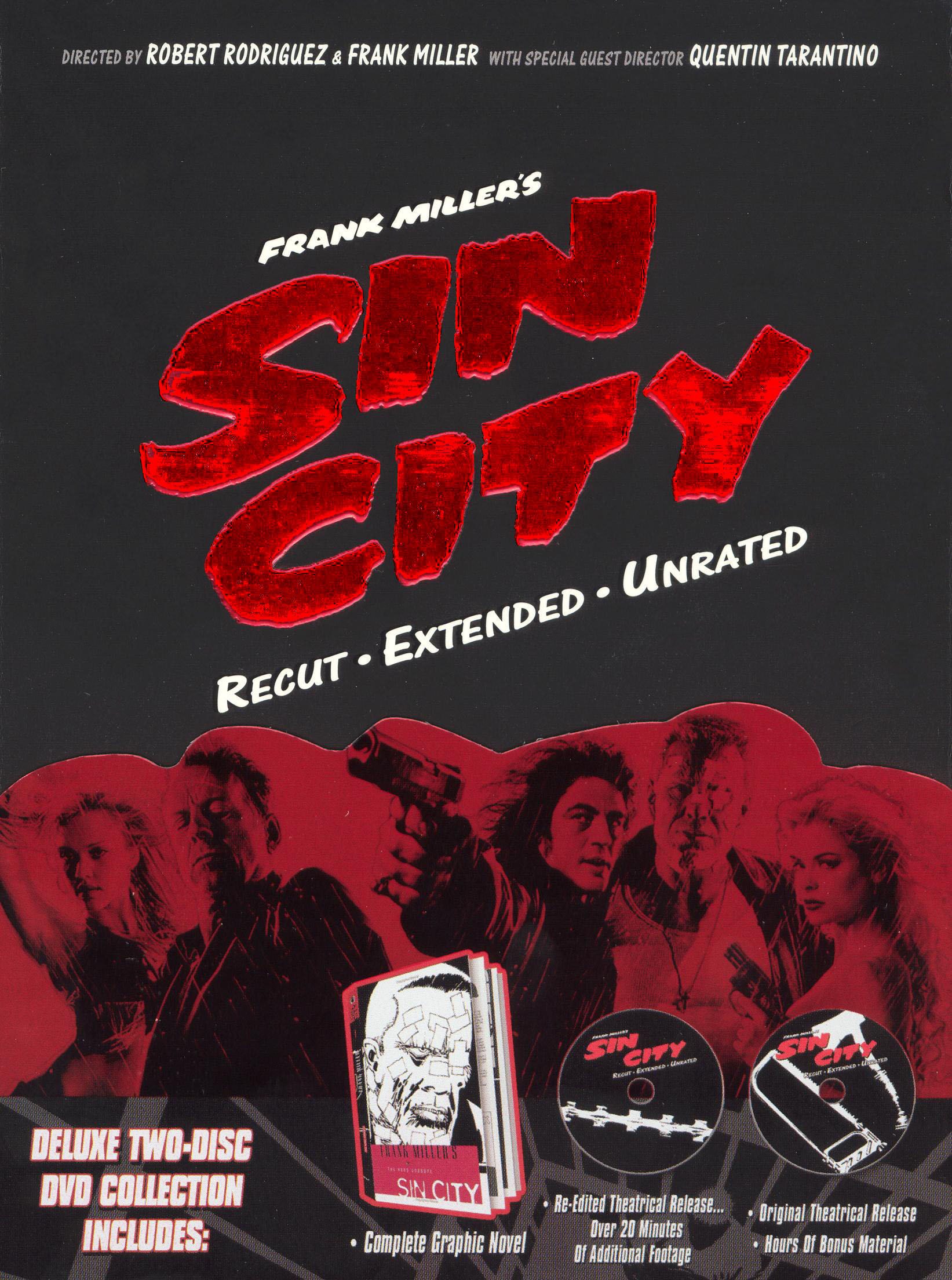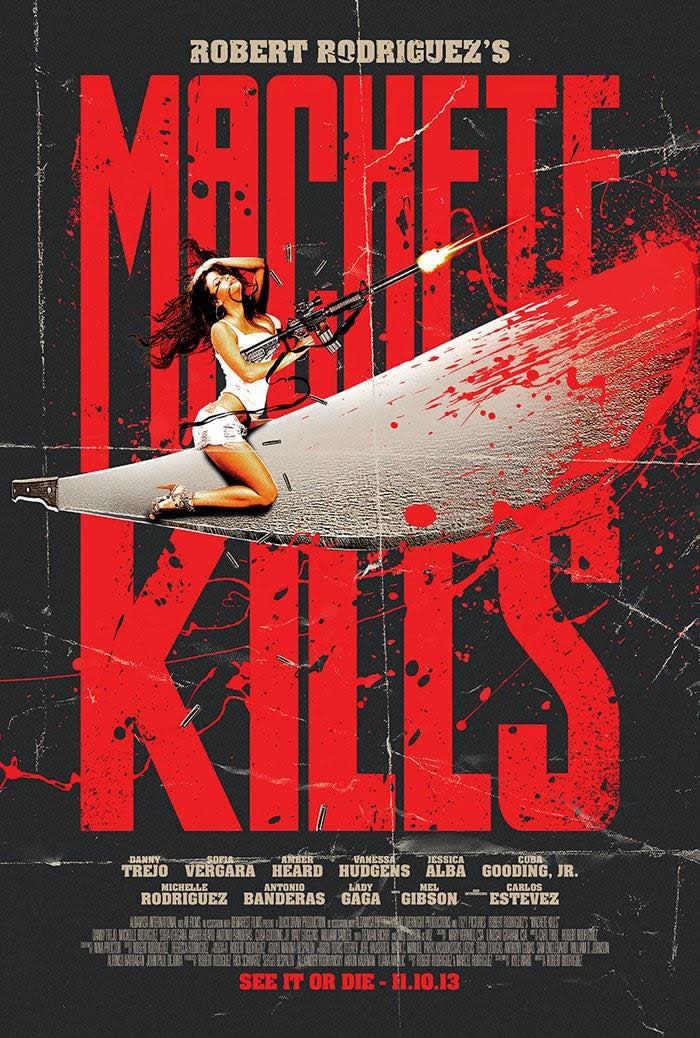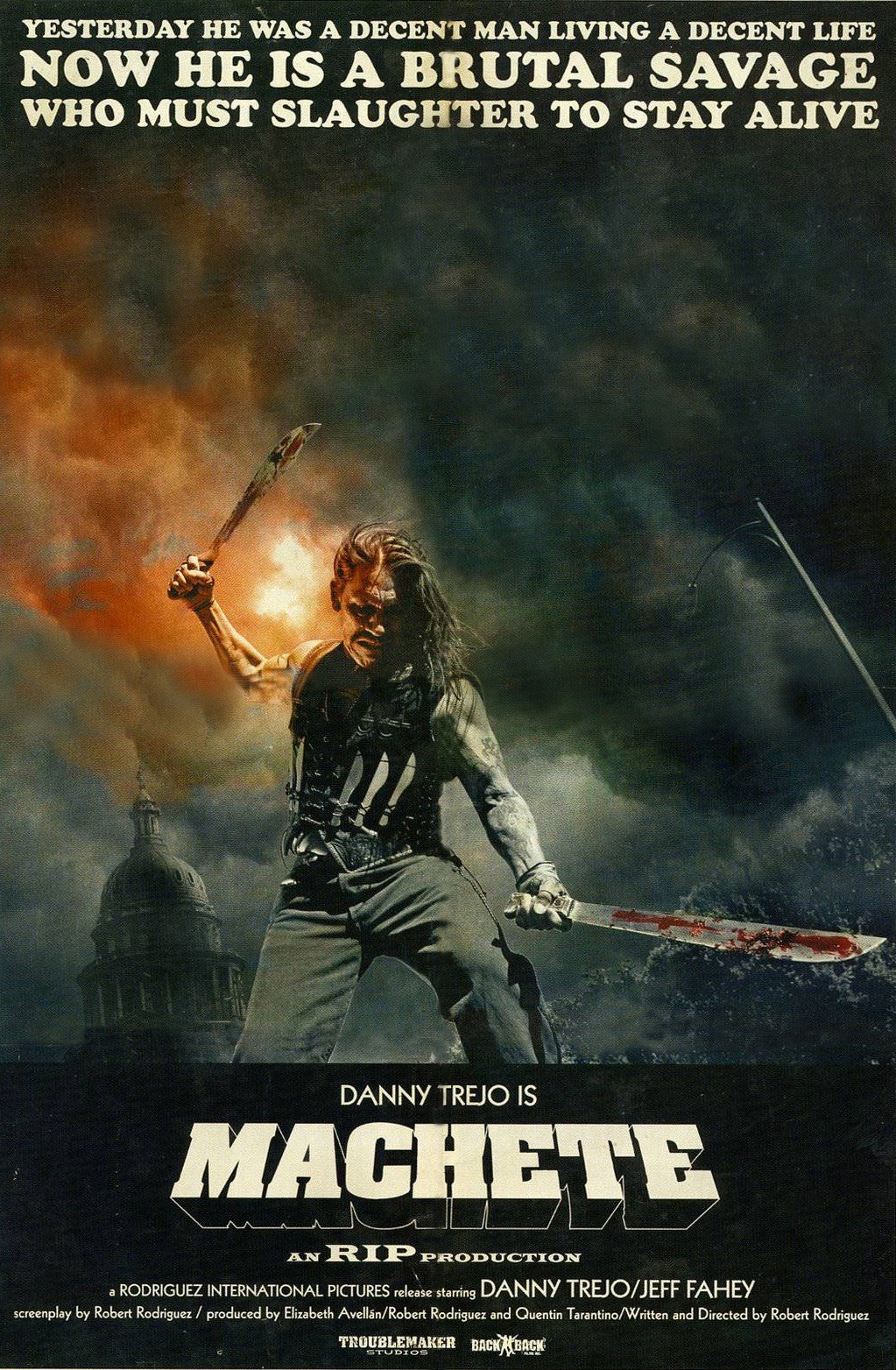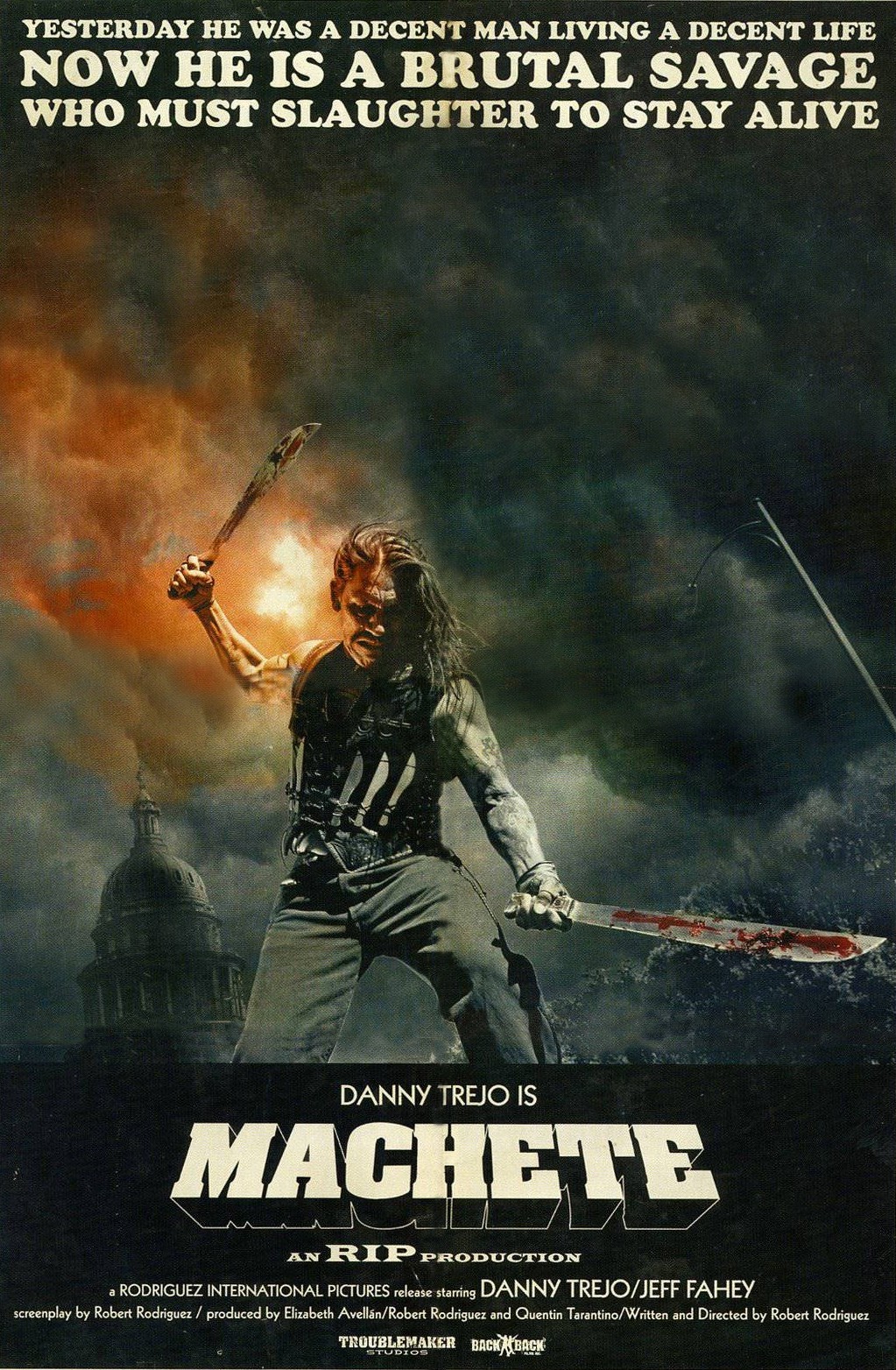VortCast 108 | The Mandalorian e O Livro de Boba Fett

Bem-vindos a bordo. Filipe Pereira (@filipepereiral | @filipepereirareal), Bruno Gaspar (@hecatesgaspar | @hecatesgaspar) e David Matheus Nunes (@david_matheus) se reúnem para comentar sobre as séries mais recentes do universo expandido de Star Wars: The Mandalorian e O Livro de Boba Fett.
Duração: 89 min.
Edição: Flávio Vieira
Trilha Sonora: Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook — Página e Grupo | Twitter | Instagram
Links dos Sites e Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Deviantart | Bruno Gaspar
Cine Alerta
—
Ouça e avalie-nos: iTunes Store | Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:54:49 — 114.0MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS