
Review | The Mandalorian – 2ª Temporada

Depois de uma temporada inicial apoteótica, The Mandalorian retorna em 2020 repleta de expectativas por parte dos espectadores e da crítica. O destino do caçador de recompensas e da criança que lhe serve de parceiro e pupilo é explorado em cenários que lembram os bons momentos dos western spaghetti, e claro, aventuras de ficção científica.
Em menos de dez minutos do primeiro episódio, Din Djarin se mete em um cenário de luta livre com diversos personagens alienígenas já conhecidos, inclusive os “suínos” gamorreanos que serviam de guardas de Jabba brigando e arrumando confusão. A sensação de que se expandiu o mundo introduzido em Uma Nova Esperança na cantina de Mos Eisley segue viva, claro, com pitadas do novo cânone e muitas referências a The Clone Wars e Rebels.
Jon Favreau sempre disse que era um apaixonado pela trilogia clássica e tudo que foi produzido a respeito da saga, e isso se vê tanto na escolha de estender essa parceria com Dave Filoni, responsável pelas séries animadas em 3D que se localizavam entre os filmes, como também no retorno aos cenários clássicos e no uso de feitos visuais práticos, como era nos longas dos anos 70 e 80. O cuidado em dar volume e substância aos confins e subúrbios da galáxias fomenta a importância da jornada estabelecida entre o Mandaloriano e a criança, resultando numa boa releitura dos mangás do Lobo Solitário.
A estrutura dos episódios segue a mesma da primeira temporada: há uma linha guia, mas alguns episódios são ligados a questões pontuais. A presença de velhos conhecidos dos fãs permanece neste ano, ainda que ocorra de forma breve. Essas aparições garantem fôlego a série e dão um pouco da dimensão do quanto o antigo universo expandido maltratou os personagens, especialmente Boba Fett, embora haja um resgate de elementos de quadrinhos antigos do selo Legends como em Boba Fett: Engenhos da Destruição e Jango Fett: Temporada de Caça.
Entre os diretores dos oito episódios, há de destacar Bryce Dallas Howard, que rege de maneira ainda mais firme do que havia sido na primeira temporada em The Sancturay, e também Robert Rodriguez, que produz um capítulo curto, mas repleto de ação e diversão, fato que rendeu ao diretor de Alita: Anjo de Combate a produção executiva da nova série da Disney +, The Book of Boba Fett. A presença de Rosario Dawson também é ótima, finalmente trazendo à luz um personagem que só tinha aparecido em versão animada.
Os dois episódios finais são frenéticos, mostram boa parte dos personagens secundários com muito destaque, além de conter boas referências ao cinema recente, como uma clara alusão a cena do jogo de adivinhação em Bastardos Inglórios, e claro, o resgate a um conceito do universo expandido, os robôs de combate Dark Troopers. Para quem gosta de Star Wars, The Mandalorian é um prato cheio. Simples, direta, divertida e cheio de personagens carismáticos.






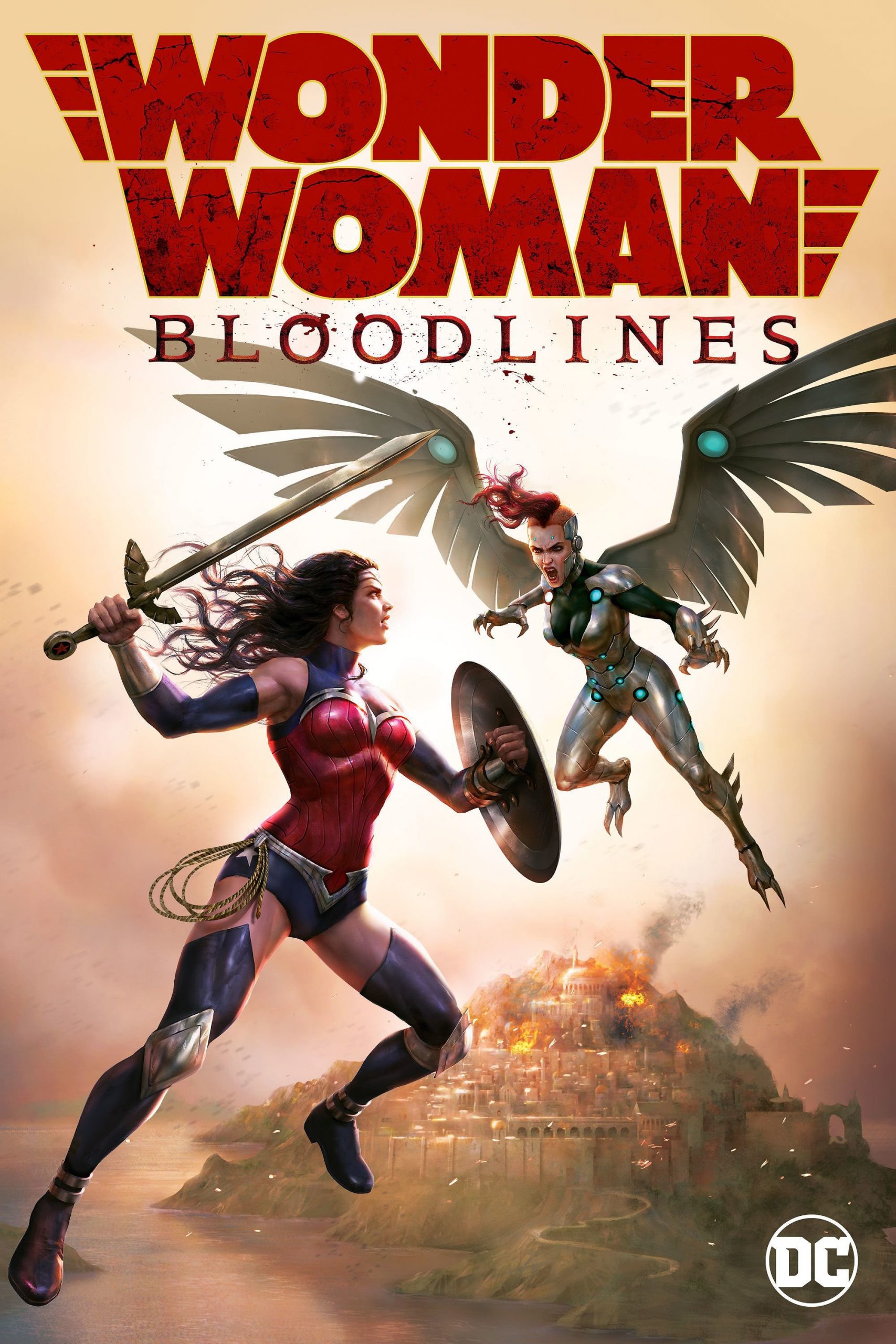
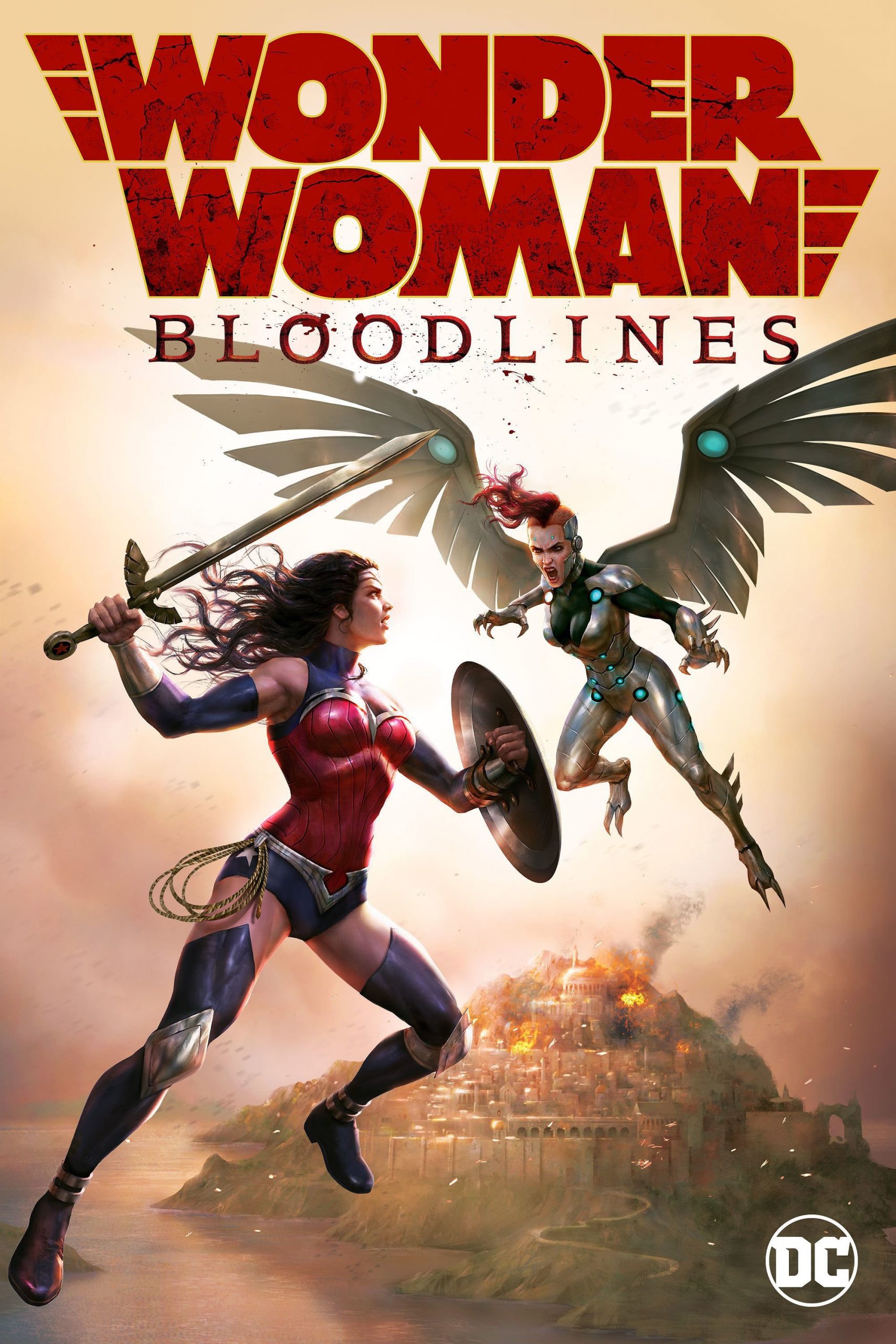
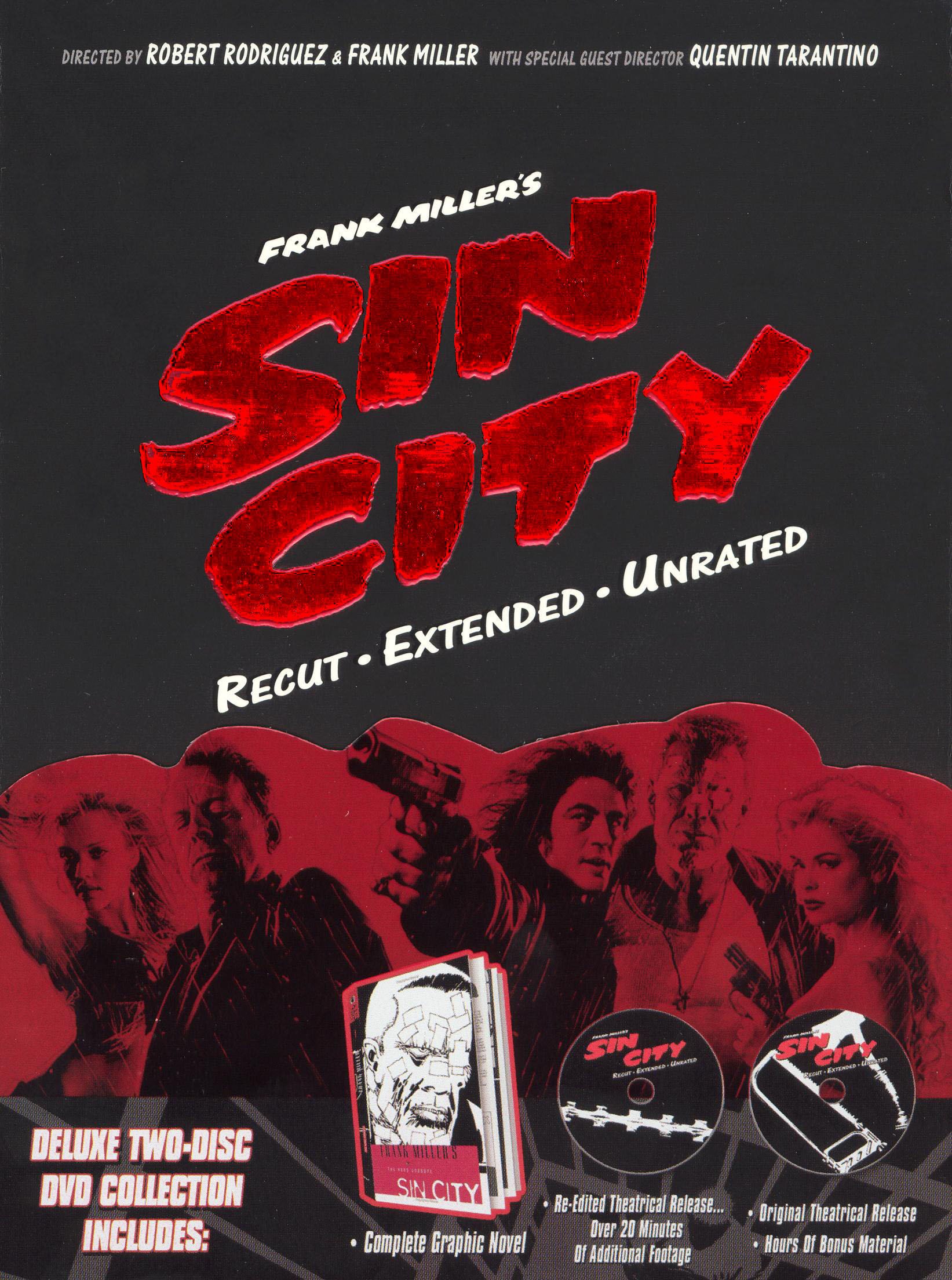






 Com roteiro de Christina Hodson e David Leslie Johnson, e direção de Denise Di Novi, o filme começa in media res (técnica narrativa onde a história começa no meio, em vez de no início), com Julia Banks (Rosario Dawson) numa sala de interrogatório de uma delegacia, com o rosto bastante machucado, aparentemente dando depoimento sobre a agressão sofrida. Obviamente, não é bem isso. O investigador quer que ela explique como aquele homem – Michael Vargas (Simon Kassianides), um ex-namorado de Julia – acabou sendo morto na casa dela, depois de ter sido atraído para lá por uma série de mensagens de cunho erótico enviadas via Facebook.
Com roteiro de Christina Hodson e David Leslie Johnson, e direção de Denise Di Novi, o filme começa in media res (técnica narrativa onde a história começa no meio, em vez de no início), com Julia Banks (Rosario Dawson) numa sala de interrogatório de uma delegacia, com o rosto bastante machucado, aparentemente dando depoimento sobre a agressão sofrida. Obviamente, não é bem isso. O investigador quer que ela explique como aquele homem – Michael Vargas (Simon Kassianides), um ex-namorado de Julia – acabou sendo morto na casa dela, depois de ter sido atraído para lá por uma série de mensagens de cunho erótico enviadas via Facebook.











